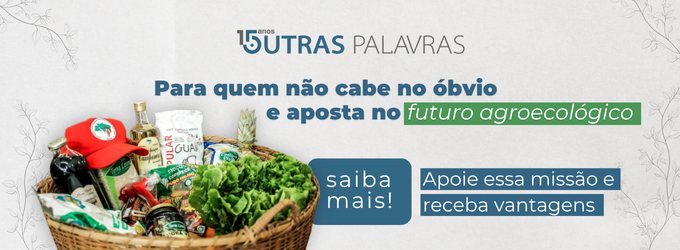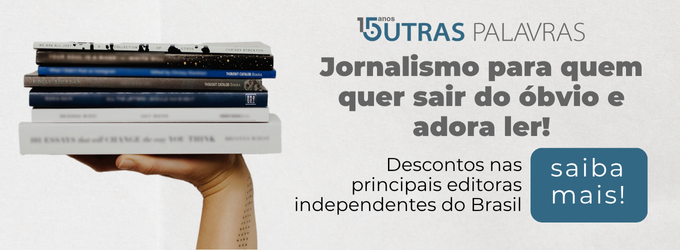Cinema: A revolução é uma batalha após a outra
Novo filme de Paul Anderson ressoa fortemente o noticiário de hoje. Entre resgate de presos imigrantes e combate a grupos racistas, revolucionários do passado enfrentam o peso das escolhas. E mostra que o preço de transformar o mundo é encarar sua totalidade
Publicado 26/09/2025 às 16:31 - Atualizado 26/09/2025 às 16:52

Por Alysson Oliveira, no Blog da Boitempo
Em um de seus livros sobre cinema, The Geopolitical Aesthetic (1992), Fredric Jameson aponta a dificuldade dos suspenses políticos produzidos nos anos 1970 em apreender uma totalidade do mundo no qual seus personagens vivem. O momento da Guerra Fria, o véu da ideologia e as heranças recentes dos anos de 1960 eram forças determinantes nesses filmes, cujos bons exemplares — como Três Dias do Condor (1975), A trama (1974) e A conversação (1974) — mostram essa dinâmica de forma a desvendar e compreender o seu tempo.
Filme após filme, ao longo de sua carreira de três décadas, Paul Thomas Anderson desvenda mazelas de seu país, seja aquelas resultantes da ascensão do neoliberalismo (Boogie Nights – Prazer sem limites, 1997), sejam as marcas da formação moral dos EUA (Sangue negro, 2006) ou o modo como a contracultura foi cooptada pelo capitalismo (Vício inerente, 2014, e Licorice Pizza, 2021). Em seu novo trabalho, Uma batalha depois da outra, o grande autor do cinema estadunidense contemporâneo coloca a trama, também assinada por ele, no tempo presente, mas as origens dessa narrativa estão no passado, estabelecendo um diálogo com os herdeiros da década de 1960 — ou, como diria novamente Jameson, com os “veteranos de 68”. O que se deu desses revolucionários hoje?

A obra de Anderson também está mais ou menos ligada à do escritor estadunidense Thomas Pynchon. Embora tenha (assumidamente) adaptado apenas um romance dele — V., de 1963, em Vício inerente —, formalmente, não são poucos os paralelos entre os trabalhos de ambos, assim como as ansiedades formais que marcam os filmes de um e os livros do outro. No longa recém-lançado, o diretor parte do romance Vineland (1990), ainda que de forma bastante livre — pois seria, na verdade, impossível fazer uma adaptação próxima ao texto. Mas, enfim, Pynchon está ali de várias maneiras — algumas cenas, por exemplo, são tiradas ipsis litteris do livro.
Nas duas obras, ex-radicais do passado precisam lidar, no presente, com o preço de suas escolhas. Mas, ao contrário do romance, cuja trama se situa em 1984 — no auge, portanto, do governo de Ronald Reagan —, o longa se passa no nosso presente. E embora, é claro, tenha sido filmado alguns meses atrás, ressoa fortemente o noticiário dos últimos dias. Especialmente em seu começo, quando membros de um grupo revolucionário, chamado French 75, resgatam imigrantes mexicanos em campos de concentração nos EUA, roubam bancos e tentam transformar o mundo.
Quando uma das principais líderes do grupo, Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor), é presa, seu marido, Bob (Leonardo DiCaprio), e sua filha, Willa (Chase Infiniti), precisam mudar de cidade e identidade. Ele se torna um paranoico, não sem razão, para proteger a garota, que, agora aos 16 anos, é uma adolescente cheia de energia e sagacidade.

Há uma outra complicação no passado dessa menina: sua mãe foi amante de um coronel linha dura, Steven J. Lockjaw (Sean Penn), que, agora, quer entrar para um grupo de elite nacionalista, reacionário e racista. Para ser aceito, ele mente dizendo que nunca teve um relacionamento inter-racial com Perfidia, que é negra. O problema é que Willa pode ser sua filha. Receando perder sua candidatura, ele planeja matar menina que nunca conheceu.
Numa leitura mais rápida. Uma batalha após a outra é um filme sobre dois homens disputando a paternidade de uma garota — um a ama, e o outro quer matá-la. Mas um filme de Paul Thomas Anderson, como o de qualquer outro grande cineasta, nunca é sobre o que está na superfície. Em seus níveis mais profundos, o longa pergunta: é possível pensar na revolução hoje? Ou, seja, existe a possibilidade de um mundo melhor? Obviamente, a resposta para isso não é simples, e o diretor nem se interessa por isso, pois seria limitante.
Se, como Jameson apontou, no passado os thrillers políticos eram incapazes de figurar a totalidade, hoje, quando tudo é mais escancarado, Uma batalha após a outra olha bem nos olhos da totalidade e cospe na cara dela. Boa parte das ideologias se apresentam de forma tão ostensiva que seria ingenuidade pensar num véu que as cubra. O problema para o aspirante a revolucionário hoje é que o preço para se transformar o mundo é encarar a totalidade, e não se intimidar nem se iludir.

A certa altura, numa cena-chave, Bob assiste ao clássico do italiano Gillo Pontecorvo de 1966, A batalha de Argel, que aborda de forma contundente a luta da Frente de Liberação Nacional, a FNL, pela independência da Argélia contra a colonização francesa, trazendo fatos ocorridos entre 1954 e 1962. Essa referência não é gratuita. Em outra cena, ainda no início do filme, Bob havia montado explosivos que seriam deixados por agentes femininas da French 75 em diversos lugares — toda essa sequência é uma citação explícita ao longa de Pontecorvo. Mas, mais do que isso, Paul Thomas Anderson parece dizer que Bob e seu grupo querem reviver uma espécie de FNL nos EUA do século XXI — mas, deslocados no tempo e espaço, sua revolução estaria fadada a um fracasso.
Tudo isso, o cineasta diz por vias de um humor mordaz. Bob não é um grande revolucionário. Sua posição na French 75 estava longe de ser importante: ele soltava fogos de artifício anunciando para os membros em ação que deveriam deixar o local. Seu maior feito foi seu relacionamento com Perfidia — algo no mínimo, irônico.

Mas talvez nem tudo esteja perdido. Ainda há espaço para a esperança — ou não, como dito, não há respostas no filme —, afinal Willa é uma “american girl”, como diriam Tom Petty and the Heartbreakers e sua famosa música, “criada sob promessas, que não podia deixar de pensar que ainda havia mais para viver, […] num grandioso mundo repleto de lugares para onde fugir”.
Alysson Oliveira é jornalista e crítico de cinema no site Cineweb, membro da ABRACCINE – Associação Brasileira de Críticos de Cinema, e escreve sobre livros na revista Carta Capital. Tem mestrado e doutorado em Letras, pela FFLCH-USP, nos quais estudou Cormac McCarthy e Ursula K. LeGuin, respectivamente. Realiza pesquisa de pós-doutorado, na mesma instituição, sobre a relação entre a literatura contemporânea dos EUA e o neoliberalismo, em autores como Don DeLillo, Rachel Kushner e Ben Lerner, sob orientação de Maria Elisa Cevasco.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras