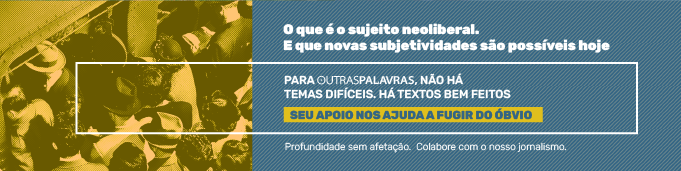Automação: assim um setor da esquerda se ilude
Aconteceu nos Estados Unidos: como alguns sindicatos e intelectuais acreditaram que o avanço técnico eliminaria o trabalho penoso. E como os próprios operários perceberam que se tornavam cada vez mais explorados e submetidos
Publicado 03/04/2023 às 19:50 - Atualizado 03/04/2023 às 19:51

Por Jason Resnikoff, em tradução do IHU
No mês passado, o executivo-chefe da IBM alertou que a inteligência artificial automatizará o trabalho de colarinho branco, apesar do fato de o Bureau of Labor Statistics (Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos) relatar que há poucas evidências para apoiar a alegação de que a tecnologia está acelerando a perda de empregos.
A produtividade do trabalho, que deveria disparar se as máquinas realmente estivessem substituindo rapidamente os trabalhadores, tem sido exemplar para um crescimento abaixo da média. Essa incompatibilidade entre o exagero da automação e sua realidade tem uma história.
Na realidade, a automação sempre foi mais ideologia do que tecnologia. Cunhada na década de 1940, a ideia de automação foi articulada pela primeira vez pelos gerentes. Seu objetivo era fornecer cobertura retórica para a quebra de sindicatos, retratando o trabalho humano como tecnologicamente obsoleto, mesmo quando os trabalhadores continuavam a trabalhar em condições degradantes.
Em um passado não muito distante, alguns setores da esquerda americana pediram uma sociedade automatizada e sem trabalho, enquanto outros alertaram sobre a destruição iminente dos postos de trabalho e o risco de sua substituição por máquinas.
O que une os otimistas e distópicos perante a tecnologia no tema automação é que ambos analisam o local de trabalho sob uma perspectiva de gestão. Do escritório fechado na avenida, eles comparam os aumentos de produtividade possibilitados pela tecnologia com a mesma tecnologia que economiza a mão de obra, apesar de esses artefatos terem intensificado o ritmo e decaído, muitas vezes, a qualidade do trabalho em si.
No entanto, se a história do discurso da automação é uma indicação do futuro, a esquerda — sobretudo a americana — não se beneficiou ao abraçar acriticamente os conceitos da automação para compreender o investimento e as decisões gerenciais dos capitalistas. Uma visão clara da história do termo automação revela que, por trás de suas justificativas retóricas, a automação é simplesmente outra forma de explicar o controle que os capitalistas têm sobre as condições e remuneração dos trabalhadores.
Automação: uma filosofia antissindical
Em 1950, mais de mil trabalhadores atacaram a fábrica de estampagem da Ford Motor Company em Buffalo, Nova Iorque, para protestar contra uma aceleração em toda a fábrica que forçava os operários a concluir mais tarefas por hora do que em qualquer outra fábrica do império Ford. De muitas maneiras, a greve não foi digna de nota; a aceleração era a regra na indústria automobilística do pós-guerra, e os trabalhadores de todos os lugares a odiavam.
O que diferenciava a ação era que, em teoria, ninguém deveria estar trabalhando na fábrica de Buffalo. Segundo Ford, a fábrica possuía uma nova tecnologia revolucionária: a automação.
A palavra automação representava uma história: que todo desenvolvimento tecnológico inevitavelmente se inclinava para a eliminação do trabalho humano.
Em 1950, a palavra automação era totalmente nova e, como a fábrica de Buffalo, era um produto da Ford. O primeiro uso público da palavra data de 1947, quando a Ford abriu seu Departamento de Automação. Lá, os gerentes usaram a automação para descrever a introdução da máquina de transferência, um mecanismo que perfurava os blocos do motor.
No entanto, a máquina de transferência não era uma tecnologia nova; datava da década de 1880. O que era realmente novo na Ford em 1947 era o movimento trabalhista industrial, na forma do sindicato United Auto Workers (UAW).
Notoriamente hostil ao trabalho organizado, a Ford só reconheceu o sindicato em 1941 e foi o último grande fabricante de automóveis americano a fazê-lo. Forçados a negociar com o sindicato, os executivos buscaram limitar o poder da entidade laboral e usaram o entusiasmo tecnológico generalizado após a Segunda Guerra Mundial para fazer isso.
Após a guerra, a indústria americana parecia não apenas ter superado o desastre econômico da Grande Depressão, mas também ter assistido à vitória pronta de suas fábricas e laboratórios.
Os avanços como o desenvolvimento do computador digital eletrônico e a divisão do átomo pareciam prometer um novo mundo onde diferentes tecnologias poderiam resolver até mesmo os problemas mais difíceis da existência humana. O vice-presidente de produção da Ford, DS Harder, chamou a automação de “um novo conceito — uma nova filosofia — de fabricação”. Segundo a administração, o progresso tecnológico em si, e não o lucro.
A palavra automação representava uma história: que todo desenvolvimento tecnológico inevitavelmente se inclinava para a eliminação do trabalho humano e a produção exigiria mais habilidade técnica do que esforço físico da força de trabalho do futuro.
Automação e a degradação do trabalho
Essa nova narrativa de automação era tão convincente que até mesmo os dirigentes sindicais tinham como certo que a organização da força de trabalho havia se tornado uma questão tanto técnica quanto política. Num discurso em 1955, Walter Reuther, presidente do UAW, observou que “estamos no limiar de um desenvolvimento da ciência e da tecnologia que nos permitirá resolver os problemas que atormentam a família humana por muitos milhares de anos… Saudamos qualquer desenvolvimento que alivie o fardo do trabalho humano.”
O resto da indústria automobilística seguiria Ford, usando o pretexto da automação não para abolir o trabalho humano, mas para degradá-lo e barateá-lo. Mas o que os gerentes e os líderes sindicais chamavam de automação, os operários descreviam como uma aceleração do ritmo de trabalho
Quando os engenheiros soviéticos visitaram a fábrica de motores “automatizados” da Ford em Cleveland (que empregava sete mil pessoas), eles relataram que o maquinário era padrão, mas que a velocidade com que os trabalhadores trabalhavam era incomparável. Observar os trabalhadores, disseram eles, era “como assistir a um filme em alta velocidade”.
O trabalho foi degradado de outras maneiras também. A fábrica de motores de Cleveland pagava aos trabalhadores, em média, onze centavos a menos por hora do que seus colegas de trabalho na famosa instalação de River Rouge em Dearborn, Michigan. “[A] automação e rebaixamento como resultado da diluição de empregos andaram de mãos dadas na fábrica de Cleveland”, constatou o UAW.
Segundo o militante trabalhista Nat Ganley, apesar da fanfarra em torno de “as máquinas de botão de pressão mais modernas, as melhorias técnicas mais maravilhosas”, os trabalhadores foram “compelidos a produzir mais nas mesmas máquinas”.
O resto da indústria automobilística seguiria Ford, usando o pretexto da automação não para abolir o trabalho humano, mas para degradá-lo e barateá-lo. Nas palavras de Simon Owens, antigo funcionário da Chrysler, “a automação não reduziu o trabalho árduo. O que quer que ela signifique para a gerência, para o burocrata do trabalho ou para o engenheiro, para o trabalhador da produção significa um retorno às condições de trabalho forçado, aumento da velocidade e adaptação do homem à máquina.”
Os gerentes aceleraram e degradaram os trabalhadores negros com particular intensidade. Líderes da Liga dos Trabalhadores Negros Revolucionários descobriram que para “o trabalhador negro a pressão da produção nunca cessa… [eles] agora estão produzindo pelo menos o dobro dos trabalhadores da indústria automobilística vinte anos atrás”. Em particular, devido à “superexploração do trabalho negro, os lucros no setor automotivo dispararam… Frequentemente, novos trabalhadores negros são forçados a fazer o trabalho de dois homens brancos”.
O discurso da automação do pós-guerra de fato universalizou um argumento racista mais antigo, aplicando-o a toda a classe trabalhadora industrial: os supremacistas brancos um século antes retratavam o trabalho negro como necessariamente servil e, portanto, propenso à mecanização. Escravidão e vapor, disse um ex-Comissário de Patentes dos EUA em 1859, eram equivalentes práticos.
Nada do que estava acontecendo na Ford era inédito na história do capitalismo industrial. Quando os economistas contemporâneos escrevem sobre automação, geralmente falam sobre um aumento da produtividade do trabalho, ou a quantidade produzida a cada hora trabalhada.
Quanto mais trabalho produtivo, diz o argumento, mais o capital adquirido — a tecnologia — deve contribuir para a produção. Certamente houve aumentos de produtividade durante o período pós-guerra. As máquinas podem aumentar a produtividade acelerando o trabalho, intensificando-o e até, às vezes, sim, substituindo-o.
Por falar nisso, os gerentes que obrigam os trabalhadores por meios não mecânicos — como coerção ou medo do desemprego — também arrancam mais “produtividade” de seus funcionários. O discurso da automação do pós-guerra, no entanto, era distinto das dinâmicas específicas da competição capitalista que impulsionam a transformação implacável das forças produtivas.
Desde o início da industrialização, as mudanças tecnológicas, paradoxalmente, aumentaram a produtividade e geraram trabalho em condições degradadas. Os aumentos na produtividade não resultaram em menos esforço humano, porque o “trabalho” do capitalismo é ilimitado, e nenhum avanço na produtividade persuadirá os capitalistas a deixar um recurso parado. Ele irá sobrecarregar o trabalho humano em um lugar e eliminá-lo em outro; ele tolerará enormes reservas de potencial humano inexplorado por um tempo, e exigirá trabalho até quebrar os ossos momentos depois.
Em vez de um declínio geral no trabalho humano e o surgimento de uma sociedade de lazer — uma linha direta para algum ponto onde o trabalho humano será inútil — vemos uma tendência circular, onde o capital corre de um lugar para outro, explorando o trabalho por um tempo, e em seguida passar a usá-lo em outro lugar.
“Os ossos dos tecelões de algodão estão branqueando as planícies da Índia”, afirmou o estadista britânico William Bentinck na década de 1830, quando os donos de fábricas inglesas mecanizaram a produção têxtil e aceleraram a expansão dos trabalhadores assalariados ingleses, aquele proletariado dos proletários.
O fato talvez seja a diferença mais importante entre a ampliação dos poderes da humanidade para manipular o mundo natural e as realidades do trabalho sob as condições do capitalismo: nenhuma quantidade de poder é suficiente.
Em 1950, a palavra automação era muito nova, e como a fábrica de Buffalo, era um produto Ford. O primeiro uso público da palavra foi em 1947, quando a Ford abriu seu Departamento de Automação. Lá, os gerentes usavam a automação para descrever a introdução da máquina de transferência, um mecanismo que fazia furos nos blocos de motor.
Quando o sindicato International Longshore and Warehouse Union (ILWU) abraçou a conteinerização do transporte marítimo no infame Acordo de Mecanização e Modernização de 1960, ele assinou a criação de uma força de trabalho bifurcada de homens que desfrutavam de todos os benefícios sindicais e homens de segunda categoria que não tinham os mesmos proveitos, prenunciando o que na virada do século XXI se tornaria típico em locais de trabalho industriais sindicalizados.
Da mesma forma, John L. Lewis, da United Mine Workers (UMW), apoiou a introdução do minerador contínuo na década de 1950, sob a suposição de que a mudança tecnológica levaria a empregos mais bem pagos e seguros. Isso não aconteceu. O principal sindicato para trabalhadores de armazéns e montagem — a United Packinghouse Workers of America (UPWA) — entendeu a introdução de ferramentas elétricas na linha de desmontagem como “automação”, e, portanto, algo inevitável.
Entretanto, os trabalhadores descobriram quase uma década depois, já no começo de 1960, que o Comitê de Automação estabelecido entre dois outros sindicatos era, nas palavras do presidente da UPWA, uma “fachada de humanidade e decência que ocultaria um programa implacável de demissão em massa de funcionários de longa data e manipulação cínica dos medos naturais de seus empregados para realizar cortes drásticos nos salários e nas condições de trabalho”.
Hoje, longe de ser ociosa, a indústria frigorífica depende de um exército de trabalhadores, cujos empregos estão, de fato, entre os mais intensos e perigosos dos Estados Unidos.
A esquerda americana e a automação
Embora possa ter começado como uma história alardeada pelos gerentes, o discurso da automação atraiu muitos da esquerda americana. Enquanto o pensamento político liberal clássico sustentava que uma pessoa livre poderia trabalhar, desde que em sua própria propriedade, a desapropriação em massa de pessoas comuns promovida pelo capitalismo industrial significava agora que a grande maioria trabalhava por salários em propriedade que não possuíam, e nunca possuiriam.
A automação fala deste problema apagando metade da equação: os trabalhadores não precisavam superar a alienação causada pela modernidade industrial, encontrando liberdade em seu trabalho, uma vez que o controle sobre a organização e distribuição do trabalho era decidido pelo constante progresso da ciência e da tecnologia.
O grupo Estudantes para uma Sociedade Democrática (SDS) criou células para organizar o que eles acreditavam que seriam massas de jovens brancos desempregados pela automação. Quando não apareceram, a SDS adotou a teoria da “Nova Classe Trabalhadora”, chamando seus membros nos campi universitários para organizar o que acreditava serem os trabalhadores do futuro — profissionais qualificados de colarinho branco que operariam as máquinas que substituiriam os trabalhadores industriais.
A ideia permaneceu como nostrum liberal, com os centristas pedindo formação profissional e panaceias de “aprender a codificar” sob a suposição equivocada de que a mudança tecnológica inevitavelmente cria demanda por mão-de-obra qualificada.
James e Grace Lee Boggs, mais próximos do movimento trabalhista do que a SDS, argumentaram que a “automação” colocaria a alavanca da revolução nas mãos dos negros americanos ao requalificar a classe trabalhadora branca e marginalizar os trabalhadores negros para empregos de “catadores” de salários baixos.
Entre algumas feministas radicais, o fascínio da “ciberfeminismo” pressupunha a libertação da mulher em uma fuga da reprodução biológica. Segundo Shulamith Firestone, a biologia era a causa do sexismo, e para libertar as mulheres da opressão, a sociedade precisava primeiro “libertar a humanidade da tirania de sua biologia”.
As exigências do próprio corpo, ao invés das relações sociais, precisavam ser mecanizadas. Uma revolução política, de acordo com esta visão, exigia uma revolução tecnológica, deslocando o local de luta do presente para o futuro.
Enquanto Firestone pediu para escapar da reprodução, a National Welfare Rights Organization (NWRO) adotou uma abordagem diferente. Ele pediu ao governo federal que compensasse as mães por seu trabalho na criação da próxima geração de americanos. Em vez de descartar o trabalho reprodutivo como inerentemente degradado, o ativista Johnnie Tillmon pediu ao presidente Richard Nixon que emitisse “uma proclamação de que o trabalho das mulheres é um trabalho real”.
Se a maternidade fosse devidamente reconhecida e remunerada, poderia ser coerente com um sujeito liberado. A NWRO, pelo menos, poderia imaginar uma revolução social que não requeresse um avanço tecnológico criado pelo capital.
Uma fé equivocada no processo tecnológico deixou tanto os sindicatos quanto os revolucionários intelectualmente desarmados. Absolveu-os da tarefa reconhecidamente difícil de imaginar como conciliar trabalho e liberdade. Essa ainda é uma das principais tarefas da esquerda hoje, que, como o resto da cultura (compreensivelmente), tornou-se cada vez mais distópica.
A distopia tecnológica, assim como o utopismo tecnológico, é uma espécie de fetiche e uma distração. Trata o capital como o faria um capitalista — como a força decisiva da história.
Não exigimos maravilhas tecnológicas e uma fuga do trabalho para tornar nosso mundo mais justo. Uma política de trabalho de esquerda não deve exigir novos poderes, mas um compartilhamento mais equitativo dos poderes que possui atualmente. Não é uma questão do que as máquinas farão amanhã, mas do que as pessoas deveriam fazer hoje.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.