Assim a Livraria Cultura naufragou
Um livreiro relata a derrocada da empresa. Não foi a chegada da Amazon, mas a má administração somada à precarização dos vendedores, alma do negócio. Em nome de projetos megalomaníacos, o livro foi tratado como eletrodoméstico
Publicado 05/04/2023 às 13:37 - Atualizado 05/04/2023 às 14:15
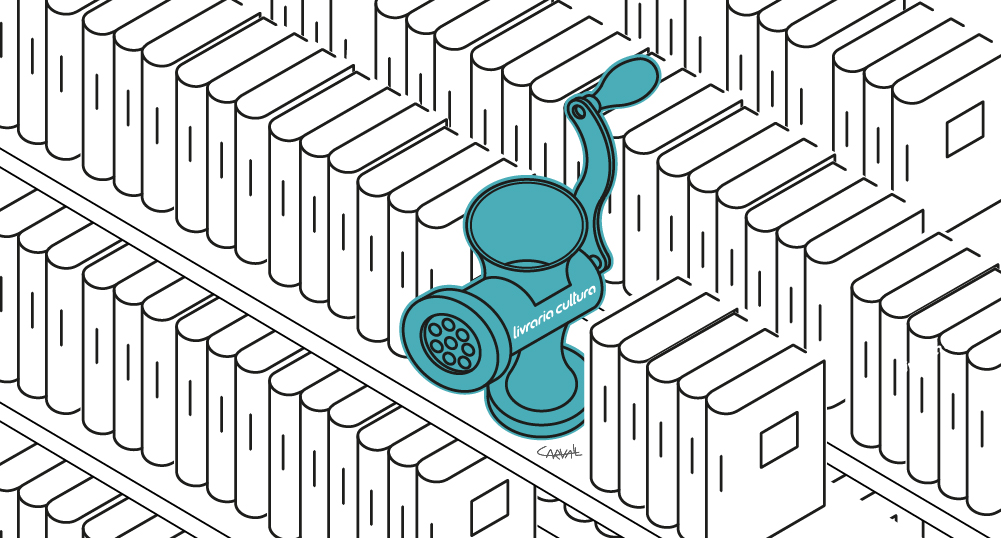
Por Martim Vasques da Cunha, na Piauí | Imagem: Carvall
Começo essas memórias dos três anos, um mês e quinze dias em que fui vendedor da Livraria Cultura com um fato que foi testemunhado por outro “companheiro de trincheira” que deseja permanecer anônimo e ficou lá mais tempo do que eu. Portanto, ele viu “o início do fim”, especialmente quando, em 2017, ao entrar por acaso no elevador minúsculo que levava os clientes da célebre (e gigantesca) loja do Conjunto Nacional, em São Paulo, percebeu que estava na presença dos seus patrões – o patriarca Pedro Herz e os filhos Sérgio e Fabio – e notou que o clima entre eles era tenso.
Em apenas um minuto (talvez menos) de conversa, esse rapaz, espremido no compartimento, assistiu Sérgio (então presidente da Livraria) reclamar com Fabio (no papel de diretor-financeiro) sobre os gastos com a “menina dos olhos” do pai, a revista que a empresa distribuía gratuitamente a quem visitava o lugar. Pedro (membro do conselho de administração) suportava os resmungos dos dois com surpreendente estoicismo, até que finalmente disse, com uma voz irritada e sorumbática: “Vocês dois já foderam com a minha empresa, agora querem foder com a minha revista?”
O linguajar chulo com os filhos era o oposto da imagem que Pedro queria apresentar aos outros fora do seu círculo familiar: a de que era um sujeito sofisticado e que tinha tudo sob seu controle. Naquela época, a Livraria Cultura já abrira cerca de dezesseis filiais, entre elas a do Shopping Iguatemi, destinado à classe alta de São Paulo. A partir de 2015, “seu” Pedro (como o chamavam) foi o apresentador de um programa chamado Sala de Visita, exibido no canal da empresa no YouTube, no qual usava a sua rede de contatos – de jornalistas a escritores, passando por intelectuais e estilistas – para exibir sua simpatia. De certa forma, a atração no YouTube simbolizava, aos olhos do grande público, o auge da Cultura como um exemplo de sucesso que não parava de crescer havia mais de vinte anos. Os empresários mal sabiam que, na época daquela discussão presenciada no elevador, a livraria já estava indo ladeira abaixo.
Desde 2007, a saída gradual de Pedro Herz do controle da empresa, passando as decisões estratégicas importantes para Sérgio e Fabio, indicou a mudança definitiva de rumo – uma mudança cujas consequências foram levadas ao extremo e descritas no pedido de falência emitido pelo juiz da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Ralpho Waldo de Barros Monteiro Filho, divulgada em 9 de fevereiro de 2023. Ele foi o responsável pela sentença que, depois de anos de agonia, selou o fim de uma verdadeira instituição, que se despedia com a triste mancha de ter “relatos de indícios de fraude”, nas palavras do magistrado.
Entrei para o grupo de funcionários da Livraria Cultura no início de 2004, após passar por um processo de seleção muito peculiar. Formado em jornalismo, mas insatisfeito com os rumos da profissão em Campinas, onde eu morava, decidi tentar a sorte em São Paulo. Pedi a meu amigo Dionisius Amêndola, funcionário da livraria, que indicasse o meu nome para o setor de vendas, e iniciei minha jornada.
Ao ingressar na Cultura, tive a ilusão de que trabalharia com um objeto que sempre apreciei: o livro. O acervo era a grande diferença em relação aos seus competidores (em 2007, Pedro Herz se gabou de ter mais de 1 milhão de itens, incluindo CDs e DVDs, à disposição dos clientes; em 2018, o número chegou a 9 milhões). Porém, não foi bem com isso que eu tive de lidar.
O primeiro indício de que teria de mudar a minha atitude ocorreu logo durante a seleção de futuros funcionários, realizada pelo departamento de Recursos Humanos. Exceto por um ou outro concorrente que também era de classe média e desejava trabalhar na Cultura porque tinha as mesmas fantasias que eu, a maioria das pessoas reunidas no nono andar do prédio Horsa 2 do Conjunto Nacional (onde ficava o quartel-general da empresa) estava ali por um único motivo: precisava de um emprego.
O processo de seleção tocava no assunto “conhecimentos gerais”, mas com parcimônia. O critério principal visava a perceber quem conseguia trabalhar em grupo, orientar os que tinham dificuldade na dinâmica de equipe e ajudar o candidato a realizar a tarefa. Não à toa, em uma das fases, foi exibido um vídeo motivacional, mostrando gansos que voavam como um time, edulcorado com frases típicas de manuais de autoajuda. Depois, os selecionados se reuniram em uma sala e brincaram de “escravos de Jó”, e quem se perdia no ritmo da cantiga era o eliminado da turma (o RH somente observava, sempre com o auxílio de um vendedor veterano; o candidato que se regozijava da falha do outro era expulso da seleção). Apenas na última fase havia uma entrevista com o diretor do departamento, que aprovava ou não o escolhido.
Não fui contratado para fazer parte da equipe do Conjunto Nacional, mas da filial do Shopping VillaLobos, um centro de compras que atende à elite econômica moradora do Alto de Pinheiros e arredores. Isso foi uma diferença fundamental nos anos que permaneci ali, por três motivos.
O primeiro é que os “vendedores do Villa” (como eram conhecidos) tinham um modo mais tranquilo de atrair os clientes e indicar os livros, diferente da equipe da Paulista, que era extremamente ágil e competitiva, por causa do grande número de clientes naquela região. O segundo é que quem trabalhava no Villa, apesar de ter uma remuneração um pouco menor do que a da loja principal, tinha a chance de ganhar uma bela grana no fim do mês, por causa da movimentação no shopping em épocas de festas. Como a comissão de vendas nunca foi individual e sim coletiva (por loja), isso possibilitava, por exemplo, um funcionário ganhar mais de 5 mil reais na Páscoa e no Natal – na época, mais do que pagava a Saraiva ou a megastore francesa Fnac (o salário na Cultura ficava, em média, entre 3,5 mil e 4 mil reais, um assombro para o varejo de livros). A terceira razão é que a equipe do Villa, mesmo com as tensões do dia a dia, era muito mais unida do que a da matriz, especialmente na hora de lidar com clientes problemáticos (que eram inúmeros).
Talvez de forma inconsciente – e indo na contramão do que pensava o público sobre a eficiência do time da Paulista –, o espírito de trabalhar na loja do Shopping VillaLobos preservava muito mais da época em que a Livraria Cultura ainda se chamava Biblioteca Circulante, quando foi criada por Eva Herz, mãe de Pedro, uma alemã que fugiu da Segunda Guerra Mundial em 1939, com seu marido, Kurt Herz.
Como o próprio Pedro Herz narra em seu livro de memórias, O Livreiro (2017, escrito em parceria com a jornalista Laura Greenhalgh), seus pais eram judeus “que vieram para este país literalmente com a roupa do corpo, quando a Europa mergulhava numa longa noite de trevas” e que foram obrigados a viver de forma austera na cidade que os acolheu para sempre – São Paulo.
Kurt Herz (em alemão, o sobrenome significa “coração”) tentou sustentar a família trabalhando como representante comercial de uma indústria de tecidos. Enquanto isso, Eva cuidava dos dois filhos, Pedro e Joaquim, sem saber o que fazer com a penúria que sempre se aproximava no final do mês. Ela teve, então, uma ideia para ganhar dinheiro sem precisar sair de casa. “O que lhe pareceu mais eficaz”, conta Pedro, “foi comprar um lote de dez livros em alemão, todos best-sellers, para alugar a seus compatriotas em São Paulo”. E assim nasceu a célula mater da Livraria Cultura em 1947, “num sobrado no bairro dos Jardins, no número 1.153 da Alameda Lorena, sem placa na porta”.
As lembranças de Pedro daquela época são muito vívidas. Então com 7 anos de idade, ele recorda que “as dificuldades econômicas do pós-guerra limitavam tudo, inclusive o acesso aos livros. Só que os imigrantes alemães reunidos na cidade, notadamente os judeus expulsos de seus países pela perseguição de Adolf Hitler, tinham um bom nível cultural. Queriam e precisavam ler mais”. Eva Herz percebeu que sua clientela era composta de pessoas que tinham o hábito de leitura, “cultivado na terra natal, certamente em longos invernos”. Com os livros circulando na comunidade, também aumentou o boca a boca, e a Biblioteca Circulante se expandiu, aumentando o número de livros importados para empréstimo.
Enquanto testemunhava o modesto sucesso financeiro da empreitada materna, Pedro aprendeu a sua primeira lição de gestão: seus pais “nunca se endividaram para crescer”. “O lucro deve voltar para o negócio”, eles lhe diziam. Nunca tiveram “casa de praia, chácara, fazenda, e mesmo o primeiro carro demorou a estacionar em nossa garagem”. Depois dos títulos europeus, Eva começou a comprar obras de autores nacionais e, lentamente, os livros tomaram conta da casa onde moravam os Herz. A expansão foi tamanha que, finalmente, Kurt e Eva se viram obrigados a alugar outro imóvel na mesma rua para onde haviam se mudado, a Augusta.
Aos poucos, o casal também passou a vender livros, além de alugá-los. A biblioteca e a livraria conviviam entre si, junto com os Herz nos fundos da casa, e cada parte do casal se revezava na hora do almoço para atender a clientela, sempre exigente e inusitada. Um dia, alguém foi à loja e perguntou a Kurt pelo livro A Nossa Vida Sexual, de Fritz Kahn. Para atender ao pedido, o pai de Pedro, dotado de um vozeirão grave, gritou à esposa enquanto ela manobrava as panelas na cozinha: “Querida, ainda temos Nossa Vida Sexual?”
A Biblioteca Circulante só se transformou definitivamente em Livraria Cultura em 1969, quando se mudou para uma loja do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Em 2001, com a morte de Eva, Pedro Herz assumiu o comando definitivo da empresa.
A filial de 3.200 m2 do Shopping VillaLobos, inaugurada em 19 de abril de 2000, foi o primeiro sinal de uma ambição que envolvia uma considerável dose de risco: entrar no mercado das megastores, o conceito de livraria iniciada no Brasil pela Livraria Ática (depois adquirida pela Fnac), que unia em um único lugar, além da seção de livros, as de discos e filmes.
Para isso acontecer a contento, Pedro, Sérgio e Fabio investiram em um sistema de tecnologia peculiar que amarrava as pontas soltas de informação, catalogação e de controle de tudo que entrava e saía em ambas as lojas. Pedro sempre foi um apaixonado por pabx, fax e internet, estimulando o aperfeiçoamento entre os diversos departamentos da empresa. Não à toa, ele foi o principal responsável por incentivar a importação de livros estrangeiros, algo quase inédito no país, o que tornou a Cultura uma referência para quem buscava as novidades literárias dos Estados Unidos e da Europa antes que elas fossem traduzidas para o português. Essas inovações também eram o indício de que a arte de vender um livro passava a ser vista como uma técnica comercial. De fato, criar essa estrutura era algo pioneiro no Brasil; e mesmo que, no cotidiano, ela tenha sufocado com mão de ferro a vida profissional do funcionário da Cultura, não havia outro jeito: ou você entrava na lógica do sistema ou não conseguiria trabalhar de maneira eficaz.
Esse “sistema” – a coluna vertebral em termos operacionais da Cultura – consistia no seguinte procedimento: o cliente, ao entrar na loja para comprar um livro, aturdido pelo caos planejado que havia no espaço (no caso da Paulista, as prateleiras eram abarrotadas de volumes; já no da VillaLobos, a arquitetura da filial imitava de propósito um labirinto), logo perguntava a um vendedor pelo título desejado. Se o cliente já sabia o título do livro, ao funcionário bastava pegar o volume numa das rodas de exposição espalhadas pela loja (uma invenção da Cultura, depois imitada por outras livrarias) ou, caso a loja não tivesse o título, encomendá-lo, com prazos de entrega de sete a dez dias úteis em média (se o livro tivesse sido editado no Brasil), ou de quatro a seis semanas (se fosse publicado no exterior).
Nem sempre o funcionário era sortudo de encontrar um cliente que tivesse o título do livro na ponta da língua. A maioria dos consumidores não era nada sofisticada, como alguns imaginam (exceto pelas honrosas exceções que depois se transformaram em amigos por toda a vida). Era, isso sim, bastante complicada e, muitas vezes, grosseira com o vendedor, tratando-o como se ele fosse um escravo – como se não bastasse para quem trabalhava ali o expediente de oito horas, em pé, com apenas um intervalo para almoço ou jantar, uma folga por semana, outra folga dupla a cada dois finais de semana e a atmosfera estressante nos bastidores.
Na prática, isso significava duas coisas. A primeira era que o funcionário se via obrigado a decifrar o que o cliente realmente queria e, assim, tornava-se imperativo usar da memória para adivinhar o produto desejado. Naqueles anos ainda não havia o Google, e o sistema de tecnologia da Cultura não permitia consulta a sites externos, exceto o próprio endereço virtual da empresa (o que mudaria mais tarde). A segunda era que, como a Cultura era também uma empresa de “serviços” (e não apenas uma rede de varejo), o vendedor também tinha de atender aos caprichos mais loucos, em especial quando o produto precisava ser entregue em um determinado endereço, em tempo muito exíguo, pois era um presente importante, por exemplo.
Nesse quesito, a logística da Cultura era impecável: junto com a equipe da internet e do site (responsável por 30% das vendas da empresa nos anos 2000), os Herz construíram uma estrutura que permitia que o livro chegasse nas residências em menos de oito horas, se fosse enviado dentro do horário comercial na Região Metropolitana da capital, e em menos de 48 horas, se fora do estado de São Paulo (o futuro intercâmbio de transferências entre as lojas, quando a Cultura expandiu-se para Porto Alegre, Recife e Curitiba, agilizou ainda mais esse processo).
É muito provável que o cliente nunca tenha tido conhecimento disso, mas o livro, CD ou DVD passava por, no mínimo, umas cinquenta pessoas antes de chegar às mãos dele – e cada item era catalogado minuciosamente por notas fiscais que indicavam a entrada numa expedição lotada de caixas gigantescas e de rapazes mal-encarados, passando pela intermediação da parte de reservas, com meninas que guardavam cuidadosamente o item encomendado, terminando com a saída do produto em um caixa com um funcionário – homem ou mulher – que em geral aspirava subir na hierarquia da Livraria Cultura, tornando-se vendedor.
Sim, o núcleo da empresa estava justamente no setor de vendas – e, quando os Herz passaram a desprezar isso, a ruína de tudo o que construíram foi a única consequência possível. Isso teve início quando a diretoria começou a confiar de forma absoluta no tal do “sistema”. Pouco importava se o vendedor havia cometido um erro de procedimento devido a alguma bobagem: o “sistema nunca errava”, era o que diziam, mesmo com todos os bugs possíveis que ocorriam na hora de emitir uma simples nota fiscal. A punição era exemplar – o funcionário pagava com uma “doação” (leia-se: dinheiro retirado do seu próprio salário) – se errasse numa entrega.
O irônico disso tudo é que, apesar de Pedro Herz se autointitular um “livreiro”, preocupado com a disseminação do livro e da leitura no Brasil, ele não conseguiu compreender (nem fazer seus filhos entenderem) que havia uma distinção fundamental entre cumprir esse papel e ser um mero vendedor – e que essa diferença era o que tornava a Cultura uma experiência ímpar entre as livrarias brasileiras, frequentada por personalidades das elites literária e política. Nos anos 1980, a sua fama era tamanha entre os intelectuais que, nas mesas na área externa da loja do Conjunto Nacional, na Paulista, o cliente poderia encontrar autores como Marcos Rey, Ignácio de Loyola Brandão e Mário Chamie, sem falar na presença ocasional de Caetano Veloso e de Haroldo de Campos, declamando poemas sem que ninguém os importunasse com pedidos de autógrafos.
Todo esse encanto tinha como centro esse personagem anônimo – o livreiro, que nunca foi, de maneira alguma, um vendedor qualquer. O primeiro é diferente do segundo por causa de um detalhe essencial: o livreiro trata o objeto “livro” sabendo da sua importância espiritual, como pedra angular da construção de um imaginário, enquanto o vendedor acredita que o mesmo “livro” pode ser tratado como se fosse um par de sapatos, uma peça de roupa ou então – o que é pior – um eletrodoméstico.
Paradoxalmente, a grande lição que a Cultura transmitia a quem começava a trabalhar ali era que, mesmo se o funcionário não gostasse de divulgar um livro (e até do ato de leitura em si), ele era obrigado a se virar e começar a sua educação (nesse ponto, a empresa facilitava na compra de itens das próprias lojas, com generosos descontos que transformavam o vendedor em um “cliente interno”). Quando se uniam em equipe para agradar o cliente, os livreiros eram “companheiros de trincheira”, semelhantes ao vaso que é moldado pelo oleiro que, às vezes, precisa quebrar a argila em dois ou três pedaços para que ela fique perfeita para o seu uso no futuro.
O problema foi que o oleiro se comportava como um verdadeiro carrasco. Os Herz nunca foram modelos no quesito “gentileza”, especialmente na maneira como tratavam seus funcionários. Quando um deles chegava na loja, sempre para vigiar, jamais para incentivar, instaurava-se um clima de temor e terror. Geralmente, Sérgio e Pedro não cumprimentavam os vendedores (apenas Fabio fazia isso; ele sempre foi o mais simpático do trio) e iam conversar com os “compradores” (os verdadeiros administradores das filiais, que cuidavam do estoque e gerenciavam a equipe).
Muitas vezes esses “compradores” eram a proteção que evitava que a família Herz lidasse diretamente (normalmente com resultados catastróficos) com a equipe da loja. Isso era fundamental porque, quando um dos três falava com algum funcionário, era frequentemente para dar um esporro. Cada um que trabalhou na Cultura já levou uma bronca de Sérgio Herz e até hoje não se esquece da sua face absolutamente deformada, balbuciando coisas impronunciáveis (eu tive o meu “batismo de fogo” no primeiro mês de trabalho, porque me atrapalhei no momento de atender um cliente, e por causa disso não dormi direito por duas semanas).
A rotatividade de vagas era intensa na empresa; o expediente era exigente e a própria equipe que comandava a loja pouco se importava de fato com o que estava acontecendo na vida pessoal do vendedor. Afinal, os “compradores” precisavam agradar aos Herz – e novos sacrifícios eram exigidos a cada semana. Mas, por outro lado, havia, sim, espaço para crescimento de pessoas que se mostravam conhecedoras e interessadas no mundo livreiro e nos processos de compra, consignação, vendas, e outros que tinham facilidade e talento na condução das equipes de vendas, além daqueles que eram peritos no sistema operacional da livraria. Portanto, quem permanecia na Cultura era alguém que havia conquistado uma clientela leal, exibia bons resultados de vendas e dominava o que praticava ou era alguém que praticava a famosa regra de qualquer empresa: puxar o saco dos patrões.
Isso criava uma “seleção natural” na livraria: havia aqueles que subiam na hierarquia, pois se mostravam leais à diretoria, e havia aqueles que só permaneciam ali para pagar suas contas no final de cada mês. Os primeiros ganhavam regalias que os outros mortais mal sabiam que existiam – e havia um culto à fidelidade e, ao mesmo tempo, o incentivo à delação constante. Assim, os Herz já ajudaram funcionários que estavam endividados, com doenças graves, problemas de moradia, ou que eram alcoólatras. Em troca, esses empregados observavam os outros colegas da empresa e, dependendo do humor e do gosto de cada um, deduravam erros verdadeiros ou imaginários.
Logo, o que existia na Livraria Cultura era, com o perdão do trocadilho, uma “cultura do medo”, que nos contaminava no dia a dia e era acentuada nas grotescas reuniões com a diretoria, realizadas no meio de cada mês para discutir o balanço financeiro da loja. Nelas, os Herz davam o seu show de horrores. O personagem principal era, obviamente, Sérgio, o “tira do mal”; raramente Fabio aparecia nelas (pelo menos no Villa); e Pedro ficava na esquiva, somente observando, como se representasse o papel de “policial bonzinho”. O lugar desses encontros era a Sala Eva Herz, com 139 lugares, inaugurada na loja da VillaLobos em homenagem à fundadora da empresa, mas que acabou por se tornar um palco de memória infame.
Era muito difícil uma reunião com os vendedores terminar com um final feliz. Depois de 2006, a filial do VillaLobos teve uma queda gigantesca nas vendas por causa da abertura da loja no Shopping Market Place (localizado no bairro do Morumbi, não muito distante de Alto de Pinheiros, competindo assim com o público da VillaLobos) e da gigantesca central da Paulista, com 4.200 m2, no espaço onde antes havia o Cine Astor. Com isso, a diretoria acionou a equipe para saber o que estava acontecendo. Ocorre que, em nenhum momento, os Herz quiseram admitir para si mesmos que a dilapidação da primeira megastore da Cultura acontecia justamente porque eles estavam com uma estratégia completamente equivocada – na qual a expansão de diversas lojas na cidade de São Paulo (e depois no resto do Brasil, com inaugurações em Campinas, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Salvador, Fortaleza e Rio de Janeiro) era apenas o primeiro passo para uma canibalização entre os diversos tipos de alvos comerciais que a livraria tinha.
Os “vendedores do Villa” foram as cobaias do experimento social que os Herz sempre praticaram com seus funcionários quando não queriam reconhecer qualquer tipo de equívoco. Em uma das reuniões que aconteceram na Sala Eva Herz do VillaLobos, com a crise na filial já estabelecida (mesmo com uma estimativa total de faturamento de 450 milhões de reais em 2009), Sérgio e Pedro chamaram a equipe de vendas e, sem dizer bom dia aos presentes, começaram uma litania de xingamentos. Lembro-me nitidamente que Sérgio nos chamou de “bostas”, “seus merdas”, “imprestáveis”. “Se vocês acham que são indispensáveis”, berrou, “saibam que não são indispensáveis porra nenhuma. Todos são dispensáveis, isso sim, e eu posso substituir cada um de vocês aqui. E mais: vocês não terão como ir para um lugar melhor, com o salário que ganham nesta empresa, porque vou queimá-los no mercado de trabalho.” Pedro complementou, talvez para contrabalançar a agressividade do filho, ao afirmar que “era hora de cometermos novos erros, e não os erros do passado”, mas que era também a hora de perceber que “estamos indo ladeira abaixo, e lá no fundo existe um lago cheio de cacos de vidro”.
O rendimento da loja do VillaLobos ficava cada vez mais claudicante – e continuaria assim até o seu fechamento, em 2019. Nesse meio-tempo, os abusos da diretoria dirigidos aos empregados passaram a ser notórios, com declarações desses contratados em sites a respeito de demissões, perseguições e achaques, além de ações trabalhistas que pediam grandes quantias reparatórias.
Pouco a pouco, a estratégia de canibalização imposta pela diretoria em relação às filiais também se somou a outra grande loucura corporativa: a união com o banco de investimento Neo, que simplesmente decidiu que o salário dos livreiros tinha de ser drasticamente diminuído. O que se seguiu foi a óbvia decadência da qualidade do setor de vendas e do interesse do funcionário em continuar na empresa: “Por que vou suportar os assédios desses patrões se eles não me dão nada em troca?”, pensavam eles. Uma ação trabalhista era mais vantajosa do que continuar naquele ambiente insalubre – e os “escravos de Jó” começaram a errar o ritmo da cantiga de propósito.
A expansão da Cultura atingiu igualmente o trato com as editoras. Até 2011, a empresa cumpria com primor o pagamento a seus fornecedores. Sempre comprava os livros, e era muito difícil praticar a consignação (quando se pode pagar apenas os exemplares vendidos nas lojas depois de um período de 60 até 90 dias úteis). Diferentemente do que ocorria com a Saraiva e a Siciliano, as competidoras diretas no mercado e que às vezes demoravam para cumprir o prazo consignado, os editores gostavam de trabalhar com os Herz porque tinham certeza de que o dinheiro seria depositado em suas contas. Mas, então, em meados de 2014, a Cultura começou a praticar somente a consignação. A compra de livros ficou apenas acessível para os grandes grupos editoriais (entre eles, Companhia das Letras e Record), e as outras editoras, especialmente as independentes, dependiam dos humores dos “compradores” da Cultura para saber se iam receber ou não o valor descrito na nota fiscal de consignação.
A Cultura alegava que a mudança de procedimento se devia à entrada da Amazon no mercado editorial brasileiro naquele mesmo ano. E, de fato, a empresa norte-americana começou a fazer algo que foi instituído pelos Herz no passado: a compra de livros, sem dar prioridade à consignação, pelo menos na maioria dos seus acordos com as editoras brasileiras. Contudo, a expansão tresloucada da Cultura, somada à péssima gestão de funcionários e ao sucateamento da própria infraestrutura criada (tornou-se impossível realizar uma transferência de livros com a precisão que ocorria no passado e, pouco a pouco, os tomos importados sumiram das prateleiras), confirmou que a Amazon não foi a grande culpada da derrocada dos Herz.
A chegada da companhia de Jeff Bezos ao Brasil foi apenas o catalisador de uma empresa que se autodestruiu porque ficou imersa em uma realidade alternativa, incapaz de admitir os seus problemas internos (simbolizados pela saída de Fabio Herz da diretoria em 2018). E, apesar da aquisição de uma combalida Fnac em 2017 (repassada em 2020, porque a própria Cultura não tinha condições de suprir a enorme demanda de produtos) e da Estante Virtual em 2019 (vendida um ano depois ao Magazine Luiza, pois os Herz não entenderam a agilidade exigida de sebos virtuais), a Cultura foi perdendo sua força, até chegar ao pedido de recuperação judicial feito em plena pandemia, principalmente para cobrir um buraco de 285 milhões de reais.
Todos esses números escondem um drama humano: o dos funcionários que, ao serem demitidos pela empresa, ainda aguardam as suas reparações trabalhistas legalmente garantidas. Em 14 de fevereiro passado, cinco dias depois da decretação de falência, a livraria resolveu promover um evento chamado “Ocupe a Cultura”, no qual personalidades do mundo artístico – entre elas, atores que tiveram suas peças exibidas no Teatro Eva Herz da Paulista – defendiam a permanência do estabelecimento, apesar de todas as dívidas que precisava pagar.
As celebridades presentes foram irrelevantes, mas o evento ganhou espaço nos jornais porque uma funcionária, Jéssica Ribeiro Santos, de 32 anos, protestou e disse sem meias palavras: “Eu acho isso vergonhoso.” Ela se referia às seis parcelas de 600 reais de sua restituição que a livraria estaria devendo. “Vim aqui pedir o que é meu, eu trabalhei, eu prestei serviço. Antes de vocês se lamentarem, lembrem-se que a Cultura faliu devido à má administração do senhor Sérgio Herz”, disse ela. O detalhe que não foi mencionado na imprensa, porém registrado em imagens viralizadas pela internet, é que Santos também afirmou que teve de se prostituir para conseguir pagar suas contas enquanto ainda espera pelo resto do dinheiro devido. Pedro Herz estava presente no evento, mas ficou em silêncio o tempo todo.
Naquela mesma semana, a Cultura conseguiu suspender a liminar de decretação da falência – e a loja no Conjunto Nacional funcionava normalmente, expondo livros de fundo de catálogo (lançados há muito tempo pelas editoras) para disfarçar o fato de que a maioria das grandes editoras pediu a devolução de seus lançamentos, porque não sabia se iria receber o valor negociado com a empresa durante o período de recuperação judicial. Como se isso não fosse suficiente, paira a sombra de “relatos de indícios de fraude”, escrita na sentença do juiz, principalmente em “movimentações financeiras realizadas por sócios da empresa [a 3H, holding que comanda as operações da Cultura, nome que é óbvia referência aos Herz]”, além da reclamação de “diversos credores” que “também noticiaram o inadimplemento dos seus créditos”. Contudo, a própria administradora judicial responsável pela recuperação da Cultura – o escritório Alvarez & Marsal, que pediu para ser destituída da função – “reiterou a informação de que, desde setembro de 2020, não recebe as parcelas dos seus honorários”, acumulando-os na soma de 806 mil reais. Como se não bastasse, a gigantesca loja da Paulista está ameaçada de ser despejada, segundo o escritório Mazetto Advogados, que representa o grupo empresarial Bombonieres Ribeirão Preto, dono do imóvel, com uma dívida de aluguel no valor de mais de 20 milhões de reais (Sérgio Herz alega que a situação está prestes a ser resolvida entre as partes). Em outras palavras: ao contrário do que o jovem Pedro aprendeu com seus pais Kurt e Eva, o lucro não voltava mais para o negócio porque a família inteira teve de se endividar para crescer às custas dos outros.
Na prática, a derrocada da Livraria Cultura não tem nada a ver com a crise financeira global, a inflação brasileira, as inovações do mercado de livros ou a paralisia social provocada pela pandemia. Tem a ver com um único fator: os Herz passaram a menosprezar justamente o coração do que os mantinha vivos no comércio – o amor pelos livros.
A prova de que o respeito por este objeto enigmático – o livro – muda por completo o destino de um negócio está nos exemplos da carioca Travessa (que abriu uma bem-sucedida filial em São Paulo) e das paulistas Martins Fontes e Livraria da Vila. Sem falar nas livrarias que surgiram em São Paulo nos últimos anos, de menor porte, mas atentas ao gosto pela leitura, como a Mandarina, a Megafauna e a Drummond (esta em uma das lojas que antes pertenceu à Cultura). Mesmo uma rede como a mineira Leitura soube se situar melhor, pois se expandiu numa dimensão mais modesta e realista que a empresa dos Herz.
No exterior, a Barnes & Noble, que todos acreditavam que teria um fim melancólico (em 2018, perdeu 18 milhões de dólares e demitiu cerca de 1,8 mil empregados), conseguiu ressuscitar usando técnicas tradicionais de vendas entre os livreiros. Segundo o crítico cultural norte-americano Ted Gioia, que estudou o caso dessa empresa, o erro dela foi imitar a Amazon, privilegiando a venda de um e-book que nunca emplacou, o Nook.
O novo presidente da Barnes, James Daunt (ex-Waterstones, notória cadeia de livros na Inglaterra), criou uma estratégia contrária ao que os analistas de mercado acreditavam. Em primeiro lugar, recusou-se a dar descontos; em segundo, não permitiu mais que a rede recebesse dinheiro das grandes editoras para promover seus lançamentos; depois, privilegiou a indicação dos livreiros sobre suas obras favoritas; e, por último, aproveitou a pandemia para que os funcionários depurassem o acervo de cada loja e colocassem livros que surpreendessem os leitores – e não a produção padronizada que o mercado despeja nas prateleiras. O resultado? As vendas na Barnes & Noble começaram a voltar ao que eram antes da pandemia, e o plano da rede neste ano é dobrar o número das dezesseis novas filiais inauguradas no ano passado. Para quem estava prestes a morrer, isto é o que chamam de um grande retorno.
Recordo-me que, poucos meses antes da minha saída da filial do VillaLobos, para finalmente exercer a profissão de jornalista, houve uma reunião de vendas em que os “compradores” convenceram a diretoria de que ela deveria escutar as reivindicações dos funcionários. Em um sorteio, fui escolhido para presidir um desses encontros e mostrar o que estava acontecendo ali, de fato. Contudo, eu também sabia que, se fosse explícito, seria demitido ou poderia ser prejudicado no mercado de trabalho.
Em vez de falar muito, exibi para o setor de vendas, diante de Pedro e Fabio, um trecho do longa-metragem Um Sonho de Liberdade (1994), de Frank Darabont. O filme conta a história de Andy Dufresne (interpretado por Tim Robbins), um homem inocente, acusado de ter assassinado a esposa e que vai para uma penitenciária de segurança máxima. Lá, começa a planejar uma bem-sucedida e minuciosa fuga, que demora vários anos, tendo apenas quatro instrumentos para ajudá-lo: argila, pedras, um martelo e alguns pôsteres gigantescos de musas do cinema, de Marilyn Monroe a Rachel Welch.
A cena que mostrei no auditório foi o momento em que Andy confronta a administração implacável do presídio. À revelia do diretor da prisão, ele consegue fazer soar nos autofalantes um trecho sublime da ópera As Bodas de Fígaro, de Mozart. Os presos ficam embevecidos com tal maravilha e, por um instante, a vida em cativeiro lhes parece mais leve.
Depois que o trecho foi exibido na reunião de vendas, ninguém falou nada. Afirmei, então, que trabalhar na Cultura era justamente cumprir o papel de Andy: espalhar conhecimento para as pessoas que mais necessitavam dele. A princípio, todos ali aceitaram essa conclusão. Mais tarde, quando eu já estava no expediente, Pedro Herz veio silenciosamente até o meu posto de trabalho e, pela primeira e única vez na minha vida, me dirigiu a palavra: “Você por acaso quis dizer que trabalhar aqui é igual a viver numa prisão?” Ocupado com um cliente que entrava na loja, e sem a intenção de dar a verdadeira resposta, apenas disse: “Se a carapuça lhe serviu, não posso fazer nada, seu Pedro.”
E assim fui embora. Pedi demissão em março de 2007 e já não era mais um funcionário da famosa livraria que tanto ocupou o meu imaginário juvenil. Havia me transformado em um adulto e cumpri integralmente a minha lição de modelagem naquela empresa. É uma pena que os Herz tenham se perdido no meio do caminho, fascinados por cifras megalomaníacas e desprezando o principal capital do seu negócio: o amor pelos livros. Espero sinceramente que eles consigam cometer erros novos e frutíferos, deixando para trás os desastrosos erros do passado.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras

