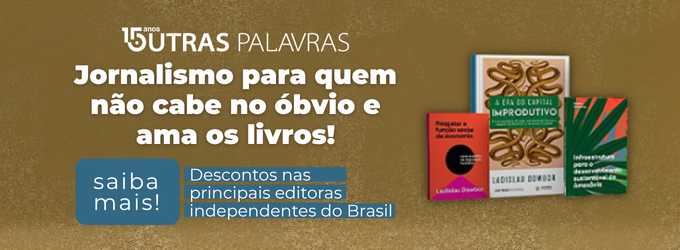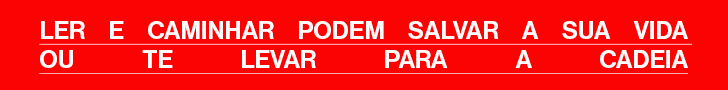As três pragas do neoliberalismo brasileiro
Rentismo, desregulações e inoperância do Estado criam terreno fértil ao fanatismo religioso e crime organizado. Mais que um subproduto, eles retroalimentam-se. Por isso, a corrosão democrática é marca do século – com a Era Digital como novo desafio
Publicado 17/11/2025 às 17:18

Por Marcio Pochmann, em A Terra é Redonda
1.
Pela segunda vez na história republicana, o processo de financeirização contamina a economia e a sociedade brasileira. Decorrente da adesão do país ao Consenso de Washington a partir de 1990, a economia dominada pelas finanças se instalou e ganhou forma, passando a reconfigurar profundamente a infraestrutura econômica, a estrutura social e a superestrutura nacional.
Do ponto de vista da composição da produção, os impactos nos estados da federação têm sido diversos. Nas economias regionais que se encontravam mais vinculadas à industrialização, especialmente nas regiões litorâneas, os prejuízos têm sido os mais perceptíveis.
No estado de São Paulo, por exemplo, o mais industrializado do país, a sua participação relativa no Produto Interno Bruto (PIB) tem sido de queda desde a década de 1980. No ano de 2023, por exemplo, o peso relativo do estado de São Paulo foi quase 22% inferior ao alcançado no auge da industrialização ocorrido na década de 1970.
Em contrapartida, os estados mais identificados com o modelo primário-exportador que aparecem com mais força no interior do país registram significativa elevação na participação do PIB nacional. O conjunto dos estados pertencentes à Região Norte e ao Centro-Oeste tiveram aumentado o seu peso relativo no PIB nacional em 2,9 vezes e 2,7 vezes, respectivamente, entre as décadas de 1970 e 2020.
O movimento republicano que colocou fim ao regime monárquico (1822-1889) não conseguiu se desvencilhar do processo de financeirização herdado originalmente da Guerra do Paraguai (1865-1870). O rentismo na República Velha se caracterizou pela dominância de uma parcela da elite econômica, majoritariamente agrária, que utilizou o seu poder político para manipular o aparato estatal e as políticas econômicas a fim de assegurar rendas e lucros com base em privilégios e intervenções de mercado, e não na produtividade ou no desenvolvimento de novas atividades produtivas.
Em grande medida atendeu inicialmente à decadência dos cafeicultores fluminenses que direcionavam suas fortunas para as atividades financeiras, sustentando o endividamento estatal, sobretudo dependente de recursos externos. Em função disso, o centro econômico e financeiro daquela época representado pelo Rio de Janeiro perdeu posição relativa no PIB nacional. Entre as décadas de 1890 e 1930, por exemplo, o Rio de Janeiro diminuiu em cerca de 25% no valor da produção nacional.
Em mais de três décadas de hegemonia neoliberal rentista, o Brasil assiste ao fortalecimento de uma frente ampla de forças políticas que parece operar de forma interligada na corrosão democrática da Nova República. Algo equivalente também aconteceu durante o domínio liberal rentista na República Velha diante do capitalismo nascente.
2.
De certa forma, o rentismo, o fanatismo religioso e o banditismo social, identificados como fenômenos próprios da doutrina tanto liberal no passado com a neoliberal no presente, sustentam-se na minimização da atuação do Estado. Com a desregulação pública, os mercados passam a conviver com a pressão que decorre de atividades que até então estavam impossibilitadas de funcionar, com a presença de formas ilegais, inclusive provenientes do crime organizado e outras iniciativas.
Em geral, o rentismo na financeirização permite a obtenção de renda a partir da mera propriedade de ativos como imóveis, ações ou títulos financeiros que pagam juros, sem que exista a necessidade de trabalho ou da produção de valor adicional. No período de alta do custo de vida como nas décadas de 1980 e início de 1990, o controle inflacionário pelo Plano Real, impôs juros elevadíssimos para atrair capital e valorizar os ativos financeiros, sendo acompanhado até os dias de hoje pela enorme valorização cambial.
A combinação de juros elevados com o real valorizado contribui para o desmoronamento da estrutura produtiva complexa, integrada e diversificada até então existente. Com isso, a maior dependência de importações de mercadorias de maior valor agregado tornou mais central, tendo a desindustrialização fortalecido a convivência com a financeirização.
Sem perspectivas de um futuro melhor, massas sociais sobrantes buscam se adaptar às alternativas possibilitadas pelo enfraquecimento estatal. Emergem, a partir de então, os fenômenos do fanatismo religioso e banditismo social. Na República Velha, o fanatismo religioso, ou mais precisamente o messianismo, foi uma resposta popular à miséria e ao descaso do Estado nas regiões rurais, assim como o banditismo social se tornou outra manifestação da exclusão e da luta pela sobrevivência em um ambiente de profunda desigualdade.
Neste primeiro quarto do século XXI, o fanatismo religioso e o banditismo social retornaram patrocinados pela ruína da sociedade urbana e industrial imposta pelo receituário neoliberal. Esse terreno fértil para uma espécie de “coronelismo religioso”, especialmente nos grandes centros urbanos aponta em quem votar com base em crenças, corrompendo o processo político democrático assentado na intolerância, no discurso de ódio e na perseguição de minorias.
Também no caso do banditismo social, a criminalidade encontra no contexto social da reprodução da pobreza, desigualdade e inoperância do Estado a fertilidade para a sua expansão. O crime organizado, por exemplo, pode até ser visto por parte da população como heróis ou justiceiros, atuando à margem da lei quando parte do Estado é associado à ausência, corrupção ou a opressão que se generaliza diante da falta de perspectivas para ascensão das massas sociais excluídas.
Esses fenômenos, em vez de serem meros subprodutos, retroalimentam-se e desafiam a consolidação da democracia na Nova República. Nos anos de 1930, a implantação do projeto nacional desenvolvimentista projetou a construção de uma nova sociedade urbana e industrial frente ao pauperismo econômico e à imobilidade social da atinga Era Agrária.
Para o segundo quarto do século XXI, o avanço da Era Digital está a demandar um novo projeto nacional de desenvolvimento. Do contrário, a presença de uma massa social sobrante e sem destino tende a potencializar ainda mais assentadas na frente política dos interesses do rentismo, fanatismo religioso e banditismo social.
Marcio Pochmann, professor titular de economia na Unicamp, é o atual presidente do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Autor, entre outros livros, de Novos horizontes do Brasil na quarta transformação estrutural (Editora da Unicamp) [https://amzn.to/46jSkQk]
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras