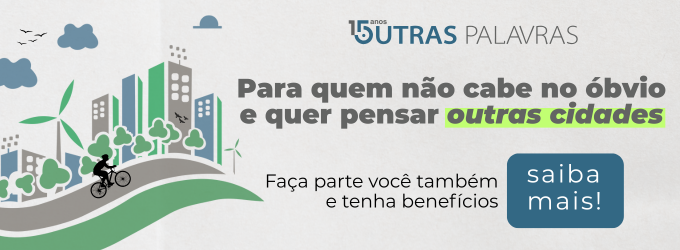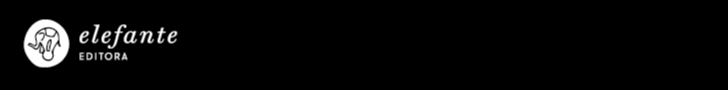Adolescência: o “filho dos outros” e o jovem duplicado
Além do mundo incel, a série também explora o efeito de dissociação nas redes. Aquela “criança desadaptada” agora pode se esconder no avatar de um mundo virtual, com suas próprias regras de pertencimento e sociabilidade. Lá, não é, necessariamente, a família quem traumatiza
Publicado 26/03/2025 às 15:50 - Atualizado 26/03/2025 às 15:54

Por Marília Velano, na Cult
Um esquema ostensivo da polícia circunda o pacato quarteirão de uma cidadezinha do interior da Inglaterra. Preparados para uma grande invasão, a tropa conta com uma porção de vans com sirenes ligadas. Um barulho que quase não permite identificar a conversa tática entre um carro e outro. Tudo parece urgente e perigoso. Determinados, os policiais deixam as vans e tomam a casa pelo lado de fora. Uma fila deles se posiciona diante da porta para o arrombamento. Uma mulher cai no chão implorando para não matarem seus filhos. Ela implora também pela própria vida. O pai desce da escada como uma autoridade esquecida e fica acuado entre a parede e o corrimão no meio da escada com as mãos para cima. Os dois avisam: são crianças! são crianças! A esta altura, a equipe invasora encontra um menino dormindo em um quarto decorado como um planeta. É uma criança? Perguntou o policial. Confirma o seu nome e dá a voz de prisão. A criança grita para o pai que não fez nada e não controla a urina que escorre pelo pijama. É assim que a Adolescência (Netflix) entra na nossa casa. Na série e na vida.
Certos de que se trata de uma criança e de um engano, mesmo que o policial diga algo sobre uma acusação de homicídio, seguimos ao lado dos pais e da criança incrédulos. Quando já não é mais possível negar, saímos atrás das respostas que não encontramos com facilidade no lugar onde elas costumavam ficar: na família, na história do menino ou em eventos escancaradamente traumáticos. As respostas se insinuam invisíveis, como se viessem de uma realidade paralela. E vêm.
A família é o lugar de subjetivação, por excelência, do mundo burguês ocidental. A entrada na cultura e o consentimento ao pacto social contaram com esse dispositivo de controle tão bem escrutinado ao longo desses mais de 120 anos de psicanálise. É lá que será encenada a trama que organiza a vida comunitária separando adultos de crianças em gerações que estão interditadas, a despeito de todo desejo, de realizarem a cena incestuosa. O dispositivo familiar garantiu, por meio do que chamamos de complexo de Édipo, a um só tempo, a renúncia pulsional e o projeto identificatório do sujeito responsável pela manutenção e reprodução dessa engenhoca por gerações e gerações. As condições que escapavam dessa máquina subjetivante foram rapidamente assimiladas ao que se desviava da norma e delas se desdobraram inúmeras psicopatologias que dizem respeito, justamente, ao modo como cada um teve que se haver com o pedaço que renunciou e a relação com a lei. Ao lado de toda parafernália clínica e jurídica que surgiu para dar conta do que seriam consideradas as “exceções”, criamos também uma categoria mais ampla e, a princípio, inofensiva, que convencionamos chamar “o filho dos outros”. O filho dos outros é aquele que, diferente dos nossos, não está submetido às mesmas regras e etiquetas previstas na nossa maquininha doméstica. A máquina de fazer gente dos vizinhos “desadaptados” tem sempre uma peça a menos ou a mais, é um modelo em desuso, vem de uma marca que não é tão boa quanto a nossa. Parece falsificada ou importada de um país de que não nos orgulhamos. Às vezes, simplesmente não funciona ou não sabemos se eles tiveram dinheiro mesmo para comprar uma. O filho dos outros comete crimes. O filho dos outros é dependente químico, psicopata, vagabundo, ladrão e assassino. O filho dos outros, no Brasil, costuma ser preto, pobre, trans. Ele tem outra religião, mora em outro bairro, nem sabemos se tem mesmo um pai. O filho dos outros foi preso, não estudou, engravidou a namorada de 13 anos.
Quando vemos Jamie no seu quarto de criança e conhecemos um pouco mais da sua história e da sua família, vemos que, apesar das marcas que traz – como tantas outras famílias – de violência, dor e opressão, não o identificamos como “filho dos outros”. Jamie é tão comum, tão parecido com o filho de todo mundo. Os mesmos interesses de classe média: tênis, video-game, moletom, Instagram. Não parece preencher critérios diagnósticos para psicopatia. É empático, participa do seu mundo, tem amigos e gosta de estudar história. Como é que Jamie, nosso filho, é capaz de assassinar brutalmente a sua colega?
O fato é que nossos filhos estão imersos e expostos a uma outra máquina subjetivante da qual não participamos e que deixa marcas (des)estruturantes tão profundas quanto as que a família deixou. Com a popularização e o alcance das redes sociais, a máquina terminou por trazer à tona a falácia do conceito de filho dos outros. Neste lugar sem lugar que é o mundo virtual, conseguimos entender, paradoxalmente, o que é estar afundado no caldo da cultura sob condições relativamente homogêneas. O maior exemplo disso são as manifestações em massa dos adolescentes frente aos acontecimentos do TikTok. Seja em relação à uma fofoca ou ao consumo de um determinado produto, eles estão, de um modo geral, falando sempre das mesmas coisas.
A máquina virtual tem suas próprias regras de pertencimento e sociabilidade a que grande parte dos adolescentes estão submetidos. Ficar de fora dela também tem seu preço. O que nos resta é, ao menos, compreendê-la.
A máquina virtual, como dispositivo de subjetivação, opera em uma escala tão ampla e eficaz quanto a família. Mas, ao contrário dela, ali ninguém é filho de ninguém. Se da família aceitamos as regras em troca de amor e reconhecimento, a máquina virtual cumpre uma função existencial mais radical e, nem por isso, menos conhecida: ser ou não ser, eis a questão.
Trata-se de uma cultura Doppelgänger, nos termos tão bem definidos por Naomi Klein no livro que leva esse mesmo nome, como uma cultura que se fomenta por formas diversas de multiplicação em que todos nós, que mantemos uma persona ou avatar online, criamos nossos próprios duplos – versões virtuais de nós mesmos, que nos representam para os outros. Uma cultura na qual muitos passam a pensar em si mesmos como marcas pessoais, forjando uma identidade cindida em que, a um só tempo, somos nós e não somos nós, uma duplicata que encenamos incessantemente no éter digital como o preço a se pagar para obtermos acesso a uma voraz economia da atenção.
O fenômeno da duplicação não é uma invenção da máquina virtual. Ele está presente no imaginário da cultura há muito tempo. Está presente na própria forma de pensar, no sentido em que o ato de pensar constitui um “diálogo entre eu e eu mesmo”, como retoma Klein de Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt. O fato é que, a depender do nível de cisão entre as partes, a alteridade interna pode se configurar como uma forma totalitária que diminui a condição de empatia em relação a qualquer alteridade. É nesse sentido, de uma “irreflexão” que o totalitarismo se apropria do sujeito e da cultura.
Freud pesquisou o fenômeno do duplo em ensaio de 1919, intitulado Das Unheimlich, que foi traduzido para o português como “O estranho familiar”. Ele pode assumir projetivamente formas e pedaços de nós mesmos idealizados ou que não suportamos pensar como nossos. Ele pode ser o correspondente virtual do “filho dos outros”.
A presença do duplo – seja na forma literal, como um irmão gêmeo, uma imagem no espelho; ou simbólica, como nos sonhos, nas representações – nos confronta a uma versão do “si mesmo” e pode desencadear fantasias de aniquilação que aparecem ligadas ao sentimento de não ser real. Os adolescentes que escuto no consultório, que muitas vezes aparecem siderados pelo mundo virtual, apresentam um sofrimento muito particular ligado a esse tipo de vivência. Eles se interrogam sobre como a gente faz para saber se estamos vivos ou mortos, sobre como saber se a gente existe mesmo.
A natureza etérea do duplo permite um tipo de banimento que produz efeitos de um assassinato. É frente a essa ameaça, de injúrias, cancelamentos, exposições, que o adolescente reage. A série é notável em demonstrar como são fracassadas as tentativas de responsabilização do menino e o próprio esforço de tornar real, para ele, o homicídio. A crueldade, como sabemos, atua frente à ameaça de dissolução do si mesmo. Diferentemente do sadismo, que busca aniquilar e fazer sofrer o outro, a crueldade é uma defesa que tenta restabelecer a organização do sentimento de si e por isso não considera o outro. É a principal resposta frente ao aniquilamento virtual para a manutenção do que Klein chamou de “economia da atenção”. Jamie foi cruel. Take on me. Take me on.
Marília Velano é psicanalista, mestre em psicologia pela Université Paris VII, doutora em psicologia pela USP e professora do Departamento de Psicanálise com crianças do Instituto Sedes Sapientiae. É autora do livro Razão onírica, razão lúdica: perspectivas do brincar em Freud, Klein e Winnicott (Blucher, 2023).
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.