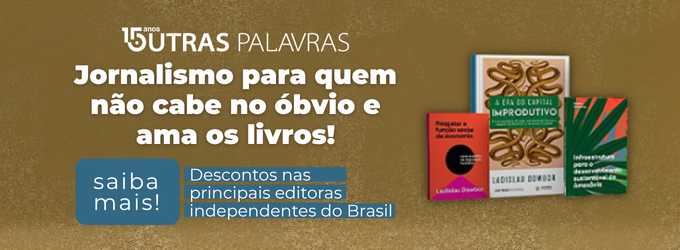A trama do preconceito contra o Nordeste
De Arthur Bernardes a Romeu Zema. O papel da imprensa e da arte. Em novo livro, jornalista busca a origem do racismo cristalizado há mais de cem anos: um povo “indigno” de ser ajudado em sua terra; repelido de tentar ocupar um lugar no mundo
Publicado 22/05/2025 às 18:16 - Atualizado 23/05/2025 às 13:19
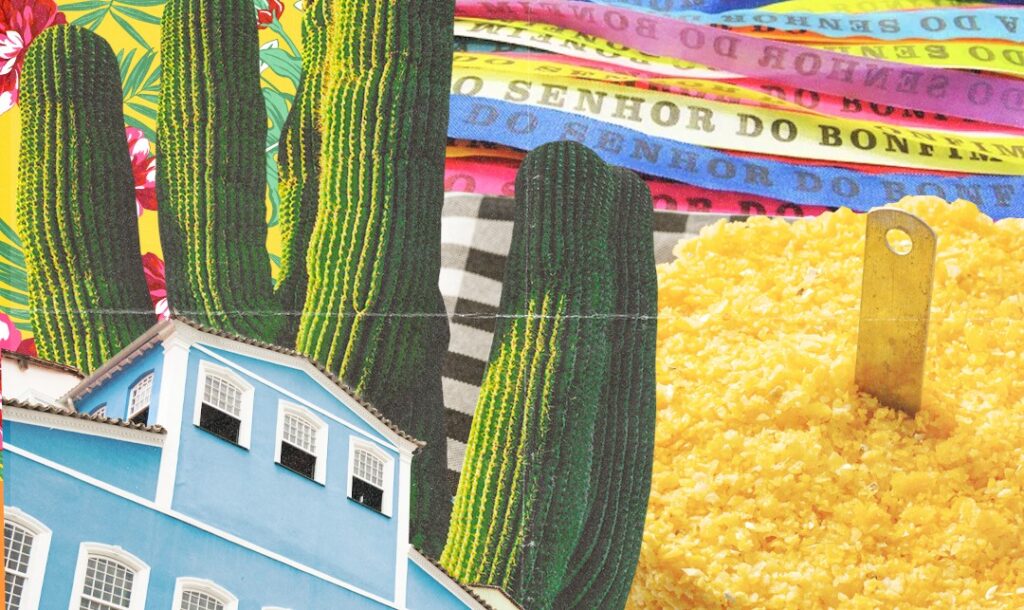
Octavio Santiago em entrevista a Carolina Azevedo, na Cult
Em 1923, o então presidente do Brasil, Artur Bernardes, promoveu uma campanha contra a realização de investimentos em favor da população nordestina. O argumento central do mineiro era de que aquela população seria indigna de receber atenção governamental. Exatamente 100 anos depois, em agosto de 2023, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, foi a público dizendo que já está na hora das “vaquinhas que produzem muito” deixarem de alimentar as “vaquinhas que produzem pouco”, em referência às regiões Sudeste e Nordeste do país. Revela-se que esse preconceito, que nasce enquanto discurso no início do século 20, continua ganhando força no Brasil, sobretudo com a ascensão da extrema direita.
Em seu novo livro, Só sei que foi assim: A trama do preconceito contra o povo do Nordeste, lançado agora pela Autêntica, o jornalista Octavio Santiago investiga as origens históricas do preconceito contra o povo do Nordeste, encontrando-a não só na política, mas na literatura e no cinema. Em entrevista à Cult, ele fala sobre a forma como o discurso preconceituoso que nasce na década de 1920, através da imprensa, continua sendo reproduzido no Brasil contemporâneo

Por que você escolheu esse título? Não contribui para a “monotematização” discutida no livro?
Durante minha pesquisa, eu perguntava para as pessoas: “Como isso começou, a questão de termos tantos estereótipos? Frequentemente respondiam: “Não sei”. Me parecia com o famoso diálogo de Ariano Suassuna, que representa a busca por uma resposta e a ausência de explicação – “Não sei, só sei que foi assim”. Chegamos aqui e ninguém sabe muito bem como foi essa caminhada. O conformismo já estava assentado, sem a existência de um desejo de questioná-lo. E sem questionamento, não há mudança.
Um segundo motivo reside na minha vontade de mostrar que houve uma construção. Emprestando a frase de Suassuna, eu enfatizo que o preconceito parte de uma construção artística, discursiva, além de política, que ganha força no século 20, que é também a época dos Autos. Destaco ainda que não é somente uma visão de fora para dentro, mas que, muitas vezes, parte dos próprios conterrâneos nordestinos. Existe uma parcela nossa nessa construção.
Qual é a importância de resgatar a origem histórica do preconceito contra os povos do Nordeste? Como foi o percurso dessa sua pesquisa?
O Brasil tem buscado se atualizar sobre diversos temas. Se compararmos o Brasil de hoje com o que era há 100 anos, avançamos muito em pautas importantes como racismo, igualdade de gênero, homofobia, transfobia – ainda falta muito, mas existe uma uma certa evolução. Com relação ao tratamento das pessoas do Nordeste, por outro lado, não consigo visualizar essa atualização. Acessando artigos publicados em jornais na década de 1920, percebemos que muitas das declarações daquele tempo estão presentes hoje.
Em 1923, o então presidente do Brasil Artur Bernardes – um mineiro que, dentro da política do café com leite, sucedeu o paraibano Epitácio Pessoa – promoveu uma campanha contra a realização de investimentos em favor da população nordestina. O argumento presente nesses textos é de que essa população é indigna de receber atenção governamental. Exatamente 100 anos depois, em agosto de 2023, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, foi a público dizendo que já está na hora das “vacas gordas”, o Sudeste, deixarem de alimentar as “vacas magras”, o Nordeste, mostrando a “necessidade” do Brasil parar de olhar para a região Nordeste. É exatamente o mesmo discurso.
Se você observar a forma como nós somos retratados na teledramaturgia, ainda é dentro dessas do limite que se impôs sobre o nordestino de folhetim do século 20: ele é um só, tem a mesma cara, o mesmo jeito, o mesmo sotaque. É uma série de falácias que se sobrepõem. Hoje há uma preocupação na maneira como vão ser retratadas as pessoas pretas na escrita de personagens, o que se deve muito às noções de Djamila Ribeiro de “Lugar de fala”. Mas, quando se trata do Nordeste, a coisa vem embalada de tal forma que não vejo sequer uma vontade de reparar essa representação errada e fatalista.
A tese que deu origem ao livro nasceu no dia em que eu estava indo para a universidade, em Portugal, inscrever meu projeto de doutorado. Ao pegar o trem, vi uma senhora brasileira muito atrapalhada na compra da passagem, então fui ajudá-la. Ela percebeu que eu era do Brasil e perguntou de que cidade. Quando falei que era de Natal, ela respondeu: “Mas você não tem cara. Quem olha para você nem diz que é nordestino. E operando tão bem essa máquina”. Decidi que eu teria que entender que cara é essa e que limitação existe na cabeça dessa senhora e de tantos brasileiros de que nós não somos capazes das mesmas coisas que eles.
Ao longo do livro, você tece a relação entre Os sertões e a discriminação contra o nordestino. Qual a responsabilidade do jornalismo e da literatura nessa construção? É o caso de “cancelar” clássicos como esse?
Não de “cancelar”, mas de entender essa perspectiva. Temos a mania de olhar para nossa literatura e considerar apenas o que está na página. É preciso entender o que fez o autor levar aquilo para a página e o que aquilo diz sobre o Brasil daquele momento. Se partirmos para uma perspectiva nesse sentido, ampliaremos ainda mais o valor literário dessas obras de valor estético indiscutível. Euclides é um grande observador de seu tempo, mas é preciso entender o que está por trás de suas palavras e, principalmente, as consequências delas. Me assusto muito quando políticos do Nordeste iniciam discursos dizendo “o sertanejo é um forte”, citando Euclides. Claramente nunca leram Os sertões, pois na sequência o autor diz que o sertanejo é uma raça inferior, uma mistura entre europeus, indígenas e africanos que “deu errado”. É o que o Euclides diz, com todas as letras.
Ele teve um papel fundamental, porque 1877 é um ano de virada de chave: o Nordeste deixa de ser a terra do açúcar para ser a terra dos algodoais, acontece a maior seca da história da região que tem como consequência o aparecimento do cangaço e, finalmente, a Guerra de Canudos. Naquele momento, vemos uma espécie de derrota do Norte, fragilizado, em relação ao Sul, em ascensão. A seca e Canudos ganham cobertura imensa da imprensa no Sul, que se vê diante de um Norte ajoelhado, inferiorizado. O Brasil não tinha integração por estradas ou comunicação, então aquilo que se dizia sobre o Norte, num jornal, era tomado como verdade. O papel foi a primeira possibilidade de se imaginar o recorte “Nordeste”, enquanto região separada do Norte. Ele nasce dessa fragilidade, que é a seca.
Qual é o papel do racismo nessa trama?
Ele está muito ligado à concepção de que a suposta raça branca era superior, que deveria prevalecer na nação, e que a mestiçagem deveria ser apagada. Quando Euclides entrega seu diagnóstico do que é o sertanejo, ele o descreve como um brasileiro de raça inferior, que condena o país ao fracasso. Muito do que se ouve até hoje é uma reprodução dessas primeiras linhas. Essa ideia coincide com a tentativa de depreciar a mão de obra negra que ocorria na imprensa, porque os primeiros migrantes nordestinos que foram para o Sudeste eram majoritariamente negros num momento em que São Paulo, movida pelos eugenistas, estava importando mão de obra branca europeia.
O nordestino preto que chegava a São Paulo colocava no meio da sala aquilo que o Brasil tentava enfiar para debaixo do tapete, representando uma ameaça a um projeto de substituição genética. Relatos na imprensa sobre os “negros maus” que vinham do Norte funcionavam como uma espécie de propaganda para que os fazendeiros não empregassem essa população. O nordestino não merecia ser ajudado na sua terra natal, mas também não deveria ser empregado aqui. Que destino tem um povo que não pode ser assistido na sua casa, mas não tem o direito de sair dela?
Você escreve que a discriminação “encontra linhas escritas há mais de cem anos”. Se a origem foi na escrita, hoje, qual é o vetor desse preconceito?
Eu falo de um lugar de privilégio nesse aspecto, porque moro em Natal, estou dentro do Nordeste, protegido pela barreira que nos deram. Convivendo com pessoas que são vítimas dessa dessa discriminação, percebi que não é apenas algo manifestado na fala, mas ao perder oportunidades profissionais e acadêmicas em razão dessa origem. O preconceito tem que ser levado a sério para que tentemos buscar uma atualização. O STJ já leva, mas a própria sociedade ainda não.
Quando houver consciência do peso dessas palavras e entendermos as motivações que estão por trás delas, não haverá mais espaço para a desinformação. Para sair desse lugar de representação limitante, é preciso entender que ele não vem da falta de repertório, mas de uma indução cultural. É sobre você acompanhar uma dança que sabemos muito bem quem conduz a valsa, quem vai sair como bom dançarino e quem vai sair com o pé pisado.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras