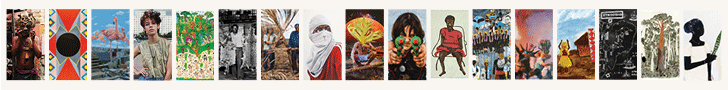A nova era da catástrofe
Em Capitalismo no século XXI, uma leitura angustiante – mas necessária. A “obsolescência programada” é a tônica concorrencial, e empresas zumbis revelam o ocaso do sistema, preso à dominância financeira. No lugar de reorganizar-se, talvez entre em falha metabólica
Publicado 28/03/2025 às 19:33 - Atualizado 31/03/2025 às 12:51

Por José Raimundo Trindade, em A Terra é Redonda
1.
Eric Hobsbawm foi bastante crítico da sua capacidade como historiador de analisar um período em que ele próprio foi um atuante ator. Mesmo assim, o historiador inglês nos deixou de herança uma magnifica exposição historiográfica do enredo do século XX. Nos interessa em particular aquele período que Eric Hosbsbawm (2000) denominou de “Era da catástrofe” e, muito especialmente, observou que apesar de duas guerras mundiais e duas bombas nucleares “a humanidade sobreviveu”, inclusive o capitalismo, somente que agora parcialmente remodelado.
Eleutério Prado nos presenteou muito recentemente (2023) com um pequeno opúsculo, Capitalismo no século 21: ocaso por meio de eventos catastróficos, que sob diversos aspectos retoma o fio histórico do autor inglês acima referenciado, mesmo que estabelecendo uma visão realista de como o capitalismo poderá encadear nas próximas décadas uma nova era catastrófica, cuja possibilidade de tornar a história civilizacional humana um interregno menor se mostra como um importante e necessário clamor por um novo projeto de reorganização da humanidade, encerrando o capitalismo como capítulo histórico de nossa sociedade.
A obra de Eleutério Prado está dividida em quatro pequenos capítulos, cuja leitura angustiante pode ser entendida como uma seção de continuidade do alerta que Eric Hobsbawm (2010, p. 562) nos colocou ao final de seu trabalho de arqueólogo do século XX: “Se a humanidade quer ter um futuro reconhecível, não pode ser pelo prolongamento do passado e do presente. Se tentarmos construir o terceiro milênio nessa base, vamos fracassar. E o preço do fracasso, ou seja, a alternativa para uma mudança da sociedade, é a escuridão”.
2.
O primeiro capítulo estabelece a primeira tese desenvolvida pelo autor, qual seja: “que o processo de globalização não só esteve sujeito a movimentos expansivos, como também passou por reversões muito significativas”. A análise da “globalização e desglobalização” constitui de fato um ponto chave para o entendimento da forma como o capitalismo processa sua expansão enquanto economia mundial, considerando que o fenômeno já foi visto por Marx e Engels (1848) enquanto condicionante existencial e estrutural de um modo de produção que busca criar “um mundo à sua imagem e semelhança”.
Eleutério Prado (p. 19) reforça as teses vinculadas as chamadas ondas longas de Kondratiev observando que a “mundialização do capital se expandiu por meio de ondas que duraram sempre mais de duas décadas”, sendo que a produção capitalista tem uma “natureza fortemente espasmódica e turbulenta”, cujo caráter crítico dessas relações de produção não é resultante de “choques exógenos, mas fazem parte do próprio movimento da acumulação de capital”. Cabem quatro observações que nos parecem plenamente aderentes as análises do autor:
(i) O período da chamada “era dourada” do capitalismo (1950/1980) constituiu um período de exceção na história do capitalismo, sendo que o Estado capitalista constitui um ponto central para se pensar o referido período. O crescimento da intervenção estatal desde o final da década de 1930, primeiramente via o keynesianismo bélico, já aparecia como uma nova condição de existência do que se convencionou chamar de capitalismo keynesiano.
Porém, como nota Eleutério Prado, conforme se agudiza a crise capitalista nos anos 1970 a expansão da demanda agregada via Estado não conseguiria deter o declínio da taxa de lucro, ou seja, não há como equacionar permanentemente “as contradições inerentes ao modo de produção capitalista”.
As finanças públicas constituem parte da massa de mais-valia produzida anualmente, em termos esquemáticos o Estado constitui um “gerente” essencial da acumulação capitalista, nos termos clássicos marxianos, sendo sua manutenção uma necessidade do sistema. A essência deste Estado como forma social necessária a manutenção relativamente programada do capitalismo foi o centro da ampla visão chamada de “keynesiana”, uma construção ideológica fundamental para projeção do capitalismo no século XX, mas que se esgotou definitivamente, como mostra Eleutério Prado.[i]
(ii) O sistema imperialista, imputado em torno dos EUA a partir do final da Segunda Guerra, apresenta um “calcanhar de Aquiles” justamente centrado na manutenção de um poder bélico necessário a manutenção coercitiva das demais nações ao próprio poder estadunidense.
A indústria bélica produz mercadorias não reprodutivas, um chamado não-valor de uso (armamentos), como ponderava Lauro Campos (2016), assim a renda do Estado, como seu quase exclusivo demandante, desvia meios reprodutivos para produção de meios não reprodutivos, isso em função de que o Estado, como comprador de armamentos, exige parcela da renda da economia na forma de tributos, sendo que o que as indústrias bélicas produzem, vendem e lucram, nada mais é do que renda pretérita gerada na economia.
Na medida em que se expandem e, pior se mantém, os gastos bélicos, exigem-se crescentes parcelas do capital global da economia, levando a um potencial desorganização reprodutiva da economia. A destruição da base produtiva dos EUA é, também, fruto da lógica do Estado militar-industrial.
(iii) Eleutério Prado (p. 25) considera que “a fase da grande indústria é superada a partir de 1970”, sendo que desde então se estabelece o que o autor denomina de “pós-grande indústria”. Aspecto que considero importante observar refere-se as características conformativas das tuas formas de “subsunção do trabalho ao capital” e como suas características internas podem moldar o ciclo do capital.
O padrão atual além de apresentar uma composição orgânica do capital muito mais elevada, também se caracteriza por uma reprogramação tecnológica muito mais acelerada, fazendo com que a chamada “obsolescência programada” seja a tônica da disputa concorrencial entre os capitais.
(iv) A financeirização, compreendida pelo autor como o controle da pós-grande indústria “sob a égide do capital de finanças”, implica um vetor a mais de reorganização da sociabilidade capitalista, agora, predominantemente, sob formas neoliberais onde a política econômica e a economia como um todo serve aos “interesses do setor financeiro”.
3.
No segundo capítulo, intitulado “Ocaso do capitalismo”, temos a apresentação de uma tese chave para atual conjuntura e para o devir da humanidade. Segundo o autor o capitalismo não garante mais a “sustentabilidade da civilização humana no planeta”, se tornando “insustentável” (p. 53). As contradições crescentes do capitalismo, agora baseado em dominância financeira, aprofundam a crise climática, não havendo, por outro, uma opção sistêmica (socialista) colocada no horizonte, isso por conta da vitória obtida pelo capital sobre as grandes revoluções ocorridas no século XX, especialmente a destruição da URSS e a adesão da China a um tipo de capitalismo.
Os elementos críticos colocados nos levam ao texto principal da pequena grande obra oferecida por Eleutério Prado, a possibilidade colocada enquanto hipótese de uma “nova era catastrófica”. O autor trabalha com a economia marxista clássica para tratar da dinâmica de crise capitalista baseada no declínio secular da taxa de lucro e a conformação de superprodução que desorganiza progressivamente o sistema na sua totalidade.
Eleutério Prado (p. 48) observa que o “capitalismo é bipolar: depois dos períodos de euforia (…) vêm período recessivos ou mesmo depressivos”. A lógica do sistema vai no sentido de buscar soluções imediatas ou de curto prazo para suas crises, porém em diversos momentos se torna impossível soluções desse tipo, sendo que daí advém períodos longos de irracionalidade, como aquele que caracterizou a primeira era catastrófica tratada por Eric Hobsbawm.
Não podíamos deixar de concluir essa breve resenha sem referenciar três pontos que nos parecem chaves no texto do autor e que nos coloca enorme responsabilidade enquanto geração construtora do atual século:
(a) O primeiro aspecto refere-se a perda de racionalidade que o capitalismo do século XXI desenvolve. A lógica do ganho de curto prazo, próprio das condições de financeirização e da ideologia neoliberal estabelecem um sistema baseado em “empresas-zumbis”, com o sistema apresentando “uma tendência latente estagflacionária”, algo que o autor desenvolve mais detidamente em um apêndice baseado nos trabalhos de Shaikh.[ii]
(b) Da mesma forma o capitalismo do século XXI caminha para um padrão crescentemente autoritário, sendo que o regime democrático burguês vai aos poucos cedendo espaço para formas autocráticas, mais adequadas a manutenção do neoliberalismo e ao sistema de “Elysium”[iii] que caracterizam as regras dos super ricos da neofinanceirização.
(c) Por fim, temos a definitiva questão da ruptura metabólica com a natureza imposta pelo “desregramento do capital”. A questão ecológica e os limites críticos da relação humana com a natureza em permanente modificação sugeriam a Karl Marx o crescente agravamento da “falha metabólica”[iv] impulsionada pelas relações de produção capitalistas, algo que se chega nos limites críticos e, talvez, de um ponto de um não retorno nesta terceira década do século XXI. Por todos esses aspectos e pela clareza do texto vale muito a leitura de Capitalismo no século 21.
José Raimundo Trindade é professor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFPA. Autor, entre outros livros, de Agenda de debates e desafios teóricos: a trajetória da dependência e os limites do capitalismo periférico brasileiro e seus condicionantes regionais (Paka-Tatu).
Referência
Eleutério F. S. Prado. Capitalismo no século 21: ocaso por meio de eventos catastróficos. São Paulo, CEFA Editorial, 2023, 116 págs. [https://amzn.to/4l8oTao]
Bibliografia
Eric Hobsbawm. Era dos extremos: o breve século XX (1914-1994). São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
John Bellamy Foster. A ecologia de Marx: materialismo e natureza. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.
José Raimundo B. Trindade. Crítica da economia política da dívida pública e do sistema de crédito capitalista. Curitiba: CRV, 2017.
Karl Marx e Friedrich Engels, Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 2010.
Lauro Campos. A crise da ideologia keynesiana. São Paulo: Boitempo, 2016.
Notas
[i] Sobre as finanças do Estado capitalista e dívida pública numa interpretação marxista conferir Trindade (2017).
[ii] Prado (2023, p. 97) se utiliza do modelo desenvolvido por Shaikh (2016) que mantém a regra marxista clássica de que “o ponto de partida de uma compreensão da inflação contemporânea deve se assentar ainda na tese de que a lucratividade comanda a acumulação de capital”. A demonstração feita estabelece uma projeção de estagflação de longo prazo para o capitalismo do século 21.
[iii] No filme “Elysium”, que se passa em um futuro capitalista distópico temos uma burguesia que vive em uma estação espacial, que dá o título ao filme, enquanto o resto da população mora em uma Terra arruinada, conferir: https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tLP1TdIL8-NL680YPRiT82pLM4szQUAS5oHNA&q=elysium&oq=elysium&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCggBEC4YsQMYgAQyDQgAEAAY4wIYsQMYgAQyCggBEC4YsQMYgAQyBwgCEAAYgAQyBwgDEAAYgAQyBwgEEAAYgAQyBwgFEAAYgAQyBwgGEAAYgAQyBwgHEAAYgAQyBwgIEAAYgAQyBwgJEAAYgATSAQg2MDAyajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
[iv] Para uma compreensão detida da falha metabólica e do pensamento ecológico de Marx conferir Bellamy Foster (2011).
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.