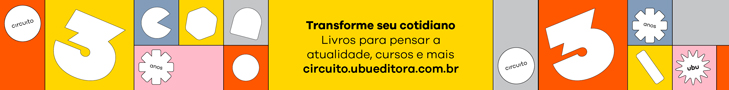A nova batalha de Xangô contra a intolerância religiosa
No terreiro de Pai Duda, em Cachoeira (BA), drones de vigia precederam os ataques. Vieram então as caminhonetes com as multidões ferozes. Nos últimos 30 anos, violência contra religiões de matriz afro disparou. Em 2021, foram 581 ataques
Publicado 12/08/2022 às 17:31 - Atualizado 12/08/2022 às 17:32

Por Márcia Maria Cruz, na Piauí
O terreiro de candomblé Ilê Asé Oyá L’adê Inan, em Alagoinhas, cidade a cerca de 120 km de Salvador, é consagrado a Oyá, uma das divindades das religiões de matriz africana, senhora dos ventos e da tempestade. Quem comanda o local desde a sua fundação, há treze anos, é a ialorixá (mãe de santo) Roselina Barbosa, de 63 anos. Conhecida como Mãe Rosa, ela mora no terreiro em uma casa confortável, onde criou seus três filhos, todos formados em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Além de cuidar de sua casa e do terreiro, dirigindo os ritos de sua religião, ela atende, na condição de mãe grande, as pessoas que buscam ajuda espiritual naquele ambiente calmo e bucólico.
Em seu jardim repleto de plantas, algumas têm função sagrada, como a espada-de-oyá (também chamada espada-de-santa-bárbara), as folhas de Oxum (o boldo, a camomila, a erva-cidreira) e o acocô de Xangô. O cuidado com a vida vegetal e a natureza é um fundamento da crença de Mãe Rosa, como ensina um verso para Ossain, o orixá das matas que promove a cura por meio de plantas tidas como sagradas: “Sem folha, sem orixá.”
A vida e o trabalho tranquilos de Mãe Rosa são, no entanto, apenas uma parte de sua história. Quando sai às ruas de Alagoinhas, ela se depara frequentemente com alguma hostilidade. Em suas idas à feira da cidade, às sextas-feiras, dia em que se veste inteiramente de branco como manda a sua religião, ela já cansou de ouvir frases provocativas como “Jesus te ama” e “Está amarrado em nome de Jesus” – esta última usada por alguns evangélicos para dizer que o Diabo não pode agir, pois está preso. Coisa parecida ocorre quando Mãe Rosa vai ao supermercado, à clínica médica, à padaria, à farmácia e a outros locais. O assédio também atinge sua primogênita, Fernanda Júlia Barbosa, de 42 anos, que desde a adolescência é apontada como “filha da macumbeira”. No terreiro, ela é chamada de Onisajé (“divindade que sabe aguardar”) e é mãe pequena, a segunda na hierarquia, autorizada a conduzir as liturgias na ausência da mãe grande.
Mãe Rosa conta que, certa vez, levou duas seguidoras a um ribeirão para lavar seus cabelos na água corrente e passar um ebó, ritual de limpeza espiritual que naquele dia ela fez com uma mistura de milho branco cozido. “Coloquei o pé na água. Peguei as duas e comecei a pedir a bênção a Oxum, a senhora dona das águas. Nisso, ouvi um ‘tinnn’ dentro d’água, bem pertinho do meu pé. Por pouco não pegou em mim”, recorda. Era o disparo de uma arma de fogo feito por um grupo de jovens. Ela se aproximou do grupo para saber o que pretendiam com aquilo. Os jovens chamaram a oferenda dela de “porcaria”.
Em outra ocasião, quando caminhava na rua em companhia de sacerdotes e sacerdotisas do candomblé, uma mulher postou-se à sua frente, segurando um pedaço de pau, e ameaçou abertamente: “Aqui vocês não passam. Está amarrado. Sai Satanás.” Mãe Rosa tentou argumentar, mas lhe disseram que ela estava vestida “com roupas do Demo”. A ialorixá usava um cafetã com estampas étnicas e, no pescoço, trazia os fios de contas ou guias – colares consagrados aos orixás que conferem energia e proteção aos filhos de santo. A mulher seguiu falando que o deus dela acabaria com aquela “raça de Satanás”.
O dia 28 de maio de 2019 foi o pior de todos. Às 23h40, Mãe Rosa e sua irmã Mariza Barbosa, de 62 anos, começaram a ouvir gritos no portão de entrada do terreiro. Imaginaram que fosse uma briga, mas logo perceberam que o vozerio era de gente hostil. “Ouvi um monte de vozes. Eles batiam os pés no chão, batiam as mãos na Bíblia, batiam, batiam, e diziam: ‘Sai Satanás’, ‘Nós vamos lhe derrubar’”, descreve Mãe Rosa. Atônitas, as duas mulheres ficaram com medo de sair da casa. “Pela quantidade de pisadas e vozes, tinha mais de vinte pessoas. Comecei a passar mal de ver a violência lá fora. Se eu abrisse a porta, podiam fazer algo comigo e com minha irmã”, ela diz. O bailarino e filho de santo Ivan Bina, que mora perto dali, registrou em um vídeo os agressores, que ficaram na frente do terreiro por intermináveis 25 minutos. Ele enviou as imagens para os filhos de Mãe Rosa e outros frequentadores do terreiro, que vieram logo em socorro. Mas, ao chegarem lá, os agressores já tinham ido embora.
As pessoas que atacaram o Ilê Asé Oyá L’adê Inan não esperavam a repercussão causada pela violência nem a mobilização da sociedade em defesa do terreiro. O Ministério Público e a polícia passaram a investigar o caso, e Mãe Rosa recebeu apoio de diferentes líderes religiosos, inclusive pastores evangélicos. Em 30 de julho de 2019, foi feito um ato de desagravo a ela na Assembleia Legislativa da Bahia. Com o tempo, porém, a repercussão arrefeceu e, passados mais de três anos, a Polícia Civil ainda não chegou à conclusão alguma sobre o que houve. “Na verdade, a polícia não investigou. A polícia quis apaziguar”, diz Luiz Fernando Júlio Barbosa, de 38 anos, filho do meio de Mãe Rosa, também iniciado no candomblé, no qual é chamado de Legbarinan (“o poder do fogo”). Sua irmã mais nova, Fabíola Júlia Barbosa, de 35 anos, é Nansurê (“a mãe que abençoa os filhos”), uma das damas dos orixás que zelam pelo terreiro.
A cidade de Alagoinhas tem 153 mil habitantes. De acordo com o Censo de 2010, 53% da população é formada por católicos, 22% por evangélicos e apenas 0,58% seguem religiões de matriz africana. Em 2004, quando Mãe Rosa e seus três filhos se mudaram para o bairro Ferro Aço, onde fica o terreiro, existia ali somente uma igreja evangélica. Em 2021, havia nove templos de diferentes denominações evangélicas num raio de 500 metros em torno do Ilê Asé Oyá L’adê Inan (que significa “casa de força de Oyá, cuja coroa é de fogo”, na tradução do iorubá feita por Mãe Rosa).
Ialorixá há trinta anos, Mãe Rosa é uma pessoa serena, bem diferente do que se poderia esperar de uma filha da senhora das tempestades, Oyá, também chamada de Iansã – uma divindade que adora o vermelho, o marrom e o rosa clarinho. Numa tarde ensolarada de outubro, enquanto conversava com a piauí em uma rua do bairro Ferro Aço, ela avistou restos de uma fogueira e, em meio às cinzas, um vaso de comigo-ninguém-pode que sobreviveu às chamas. Apanhou e levou para o terreiro.
Por causa de Oyá, o rei Xangô e o guerreiro Ogum entraram em disputa. Eles lutaram para saber quem seria digno do amor da mais poderosa guerreira africana. Xangô venceu e partiu com ela para Oyó, a capital do império iorubá (na Nigéria), onde se tornou o quarto soberano da cidade, fazendo de Oyá sua rainha e inaugurando uma dinastia. Depois de sua morte, Xangô passou a ser cultuado como orixá da justiça. Hoje, no Brasil, ele enfrenta uma nova batalha: contra a intolerância religiosa.
Os povos africanos, entre eles os iorubás, lançaram aqui bases do candomblé, religião que se mostrou essencial para manter a unidade entre os escravizados no país, ao longo de mais de trezentos anos. No início do século XX, elementos do candomblé se somaram a aspectos do catolicismo, de crenças indígenas e do kardecismo para fundar a umbanda. Quando a liberdade religiosa foi contemplada na Constituição de 1946, os credos de matriz africana, embora contassem com a proteção da lei, em maior ou menor grau continuaram a ser alvo de perseguição. Nos últimos anos, o número de agressões aumentou – assustadoramente.
Em 2021, houve 581 denúncias de ataques à liberdade religiosa, segundo a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, ligada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – um aumento de 140% em relação a 2020, quando ocorreram 242. Na contabilidade das vítimas de agressão no ano passado, a umbanda aparece em primeiro lugar, com 65 denúncias, seguida do candomblé, com 58. O estado do Rio de Janeiro liderava o número de denúncias no ano (138), seguido por São Paulo (109), Minas Gerais (52), Bahia (50) e Rio Grande do Sul (45). Do total de denúncias, 115 agressões foram atribuídas a evangélicos, 54 a católicos e 27 a praticantes das próprias religiões afro-brasileiras. As agressões foram cometidas mais por homens (311 denúncias) do que por mulheres (217), e mais por pessoas brancas (200) do que pardas (133) ou pretas (66).
Os dados referentes a 2020 e 2021 foram consultados pela piauí em 8 de dezembro do ano passado no site do ministério. Depois dessa data, algumas informações, como a indicação das religiões das vítimas e dos suspeitos, foram retiradas da página. Em nota à revista, a pasta disse que isso foi feito pela área técnica da Ouvidoria de Direitos Humanos para “otimizar o tempo e a qualidade do atendimento por parte da central de atendimento”. E completou: “Essas informações só serão coletadas quando tiverem relação com o motivo ou agravamento da violação.” Até março deste ano, o ministério foi comandado pela advogada Damares Alves, que é evangélica.
Em São Paulo, os casos triplicaram em cinco anos. Os boletins de ocorrência com denúncias de intolerância religiosa passaram de 5 214, em 2016, para 15 296, em 2021, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública. No estado do Rio de Janeiro, em 2021 foram registradas 47 denúncias de agressão e intolerância, sendo que 43 das denúncias foram feitas por religiões de matriz africana, 3 por judeus e 1 por católico, de acordo com o Observatório de Liberdade Religiosa. Em Salvador, o Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela recebeu 37 denúncias no ano passado. Neste ano, apenas até 31 de maio passado, haviam sido feitas 29. Desde a criação do centro, há nove anos, os números têm crescido.
Em Belo Horizonte, o Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira (Cenarab) recebe diariamente denúncias de intolerância contra as religiões afro-brasileiras. “Vivemos uma conjuntura em nosso país que facilita o ódio, o preconceito acirrado. É como se houvesse autorização implícita para que as pessoas pudessem despejar o ódio contra as religiões e as tradições de matriz africana”, diz Célia Gonçalves Souza, coordenadora nacional do Cenarab e defensora aguerrida dos povos de terreiro. Ela está se referindo ao racismo e ao contexto político criado por um governo de extrema direita. Na sua avaliação, embora o princípio de laicidade esteja expresso na Constituição, o Estado não tem garantido a isonomia entre todas as religiões.
Souza enfrenta na própria pele o racismo e já perdeu a conta das vezes que foi xingada por usar roupas que fazem referência aos cultos africanos. “A gente vive situações de racismo religioso todos os dias, como o olhar assustado das pessoas quando nos veem com nossas roupas. Lembro que, certa vez, eu estava usando uma camisa de terreiro, de orixá, e alguém gritou na rua: ‘Olha o Capeta.’”
Pesquisadores da intolerância religiosa no Brasil dizem que o aumento dos ataques também está relacionado à expansão dos evangélicos no país. “A partir dos anos 1970, com o crescimento dos neopentecostais, essa prática de perseguir o candomblé e a umbanda sai das mãos do Estado e passa a ser uma campanha sistemática na sociedade, de demonização das religiões de matriz africana, feita principalmente por segmentos religiosos que dispunham de canais de tevê”, diz o historiador Ivanir dos Santos, babalaô que é interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa (CCIR), da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rio de Janeiro (OAB/RJ). O historiador ressalta que, com as perseguições, também aumentou a reação das pessoas ligadas ao candomblé e à umbanda, que passaram a recorrer à Justiça para se defender. “Hoje há uma ameaça enorme à democracia, às liberdades e ao Estado laico, mas não estamos mais calados.”
Em 1970, os evangélicos representavam 5,2% da população brasileira. Em 2000, passaram a 15,4%. Em 2010, chegaram a 22,2%, ou 42,3 milhões de pessoas, de acordo com o Censo. Nesse mesmo ano, os seguidores das religiões afro-brasileiras – sobretudo o candomblé, a umbanda e o tambor de mina –, representavam 0,6% da população (ou 1,2 milhão de pessoas). Estima-se que, em 2032, o número de evangélicos chegue a 39,8%, superando pela primeira vez os católicos, que hoje são 61% da população e cairiam para 38,6%.
No livro Intolerância Religiosa, o linguista e babalorixá Sidnei Barreto Nogueira desenvolve a tese de que a repulsão aos cultos africanos está relacionada não apenas ao crescimento da população evangélica, mas também ao desmonte do mito da democracia racial brasileira por pesquisadores e líderes do movimento negro. “Temos desvendado as discussões no Brasil sobre racismo, e em alguma medida desfeito o mito da democracia racial. Os racistas estão incomodados, estão contra-atacando”, diz ele.
Nogueira traça dois perfis de pessoas que cometem os crimes de intolerância religiosa. Um deles é o das pessoas vulneráveis e com baixa escolaridade que têm na religião o único lugar de prestígio, de exercício de poder e de visibilidade – um grupo inclinado ao fanatismo. O outro é formado por lideranças políticas e religiosas que buscam eleitores e seguidores recorrendo à “colheita de likes” como estratégia de autopublicidade. “Odiar é um imperativo, a bola da vez para conseguir likes”, diz Nogueira. O pesquisador ressalta que não apenas pessoas brancas cometem atos de intolerância religiosa. “Até as pessoas pretas acabam criando um personagem cristão para si, para vender seus produtos. Isso alimenta o mercado da intolerância religiosa, da perseguição.”
“Há uma guerra cultural no país, que muito em breve se tornará conflito religioso em função do racismo religioso”, diz o advogado Hédio Silva Junior, um dos principais defensores das religiões de matriz africana nos tribunais. Ele também é ex-secretário da Justiça e da Cidadania do estado de São Paulo e fundador do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, que presta assessoria às vítimas da intolerância religiosa. Para o advogado, “os seguidores dessas religiões estão sujeitos diariamente a todo tipo de ultraje, aviltamento, violência moral e física”. Mas o advogado acredita que o motivo das agressões “não é acabar com a macumba”, porque “seus detratores perderiam um dos alvos principais de seu proselitismo”. O objetivo é aumentar o próprio rebanho hostilizando os seguidores de religiões afro-brasileiras.
Silva Junior fez a defesa das pessoas de axé de imolarem animais em oferenda aos orixás. A ação contra o abate de animais partiu do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em 2004, e catorze anos depois chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF). Em 9 de agosto de 2018, o advogado defendeu no STF que o questionamento da prática das oferendas estava relacionado ao racismo: “Não vejo instituição jurídica entrar com medida judicial para evitar a chacina de jovens negros, mortos como cães na periferia, mas a galinha da macumba… Parece que a vida da galinha da macumba vale mais do que a vida de milhares de jovens negros.” O STF acatou os argumentos do advogado quanto à dimensão racista da ação.
No mesmo ano em que o advogado apresentou essa defesa histórica, um grupo de vândalos despejou 100 kg de sal na Pedra de Xangô, em Cajazeiras 10, bairro de Salvador, três dias antes do Réveillon. Local sagrado para as religiões de matriz africana, a Pedra de Xangô é um rochedo com dois blocos, cercado por vegetação, que representa a morada do senhor da justiça para as pessoas de axé. Ali, acontecem rituais e festas do povo de santo. O ataque com sal – produto que na crendice popular espanta maus espíritos – levou a comunidade a pedir ao Ministério Público do Estado da Bahia que apurasse o motivo da depredação do espaço. Como forma de coibir os ataques, o MP propôs a criação do Parque Pedra de Xangô, que foi inaugurado em maio passado.
Os povos de terreiro procuram se organizar para responder ao aumento da intolerância religiosa. Entre 2 e 5 do mês passado, o II Ègbé – Parte de Nós – 2º Encontro Nacional de Povos de Terreiro reuniu em Belo Horizonte cerca de quatrocentas lideranças negras com o objetivo de honrar seus ancestrais, rezar e unir forças para enfrentar as agressões. Ègbés são divindades às quais o povo iorubá apelava para afastar tudo que obstruía sua vida. “Nós não queremos um Estado que reze, mas exigimos um Estado que nos permita rezar”, disse Célia Gonçalves Souza, do Cenarab, entidade que organizou o encontro.
O ex-presidente Lula foi convidado, mas não compareceu – mandou apenas uma mensagem. A ialorixá maranhense Jô Brandão reclamou: “Nós, povos de terreiro, queríamos ver Lula aqui. Sabe por quê? Quando ele foi atacado, quando foi preso, nós rezamos, fizemos ebó. E não é possível que se coloque numa balança que o voto do crente é mais importante do que o do macumbeiro.”
Uma das conclusões do Ègbé – Parte de Nós é que a violência contra os povos de terreiro se ampliou no governo Bolsonaro e está relacionada ao enfraquecimento da democracia no país. A ex-ministra Nilma Lino Gomes, que ocupou a pasta das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos no governo Dilma Rousseff, defendeu que as lideranças dos terreiros ocupem espaços políticos para enfrentar a crescente influência do fundamentalismo religioso nas casas do Legislativo brasileiro, tanto em âmbito local quanto federal. Ela disse à piauí que os ataques atuais são manifestações de racismo e defendeu a judicialização dos casos de agressão. “O agravamento da intolerância religiosa no Brasil já extrapolou e virou violência racial. A Justiça precisa resolvê-los. Não adianta que fiquem como casos isolados que só inspiram indignação, acompanhada por inércia. Nossa luta é pela desnaturalização da violência religiosa”, disse. “Nós estamos em guerra. É a guerra que nós queremos vencer pela paz, pela tolerância e pelo amor, e não pelo ódio e pela violência.”
O antropólogo brasileiro-congolês Kabengele Munanga também defendeu a intervenção do Estado para evitar as agressões ao povo dos terreiros. “Não vejo possibilidade de convivência pacífica. Por isso, é preciso que o Estado intervenha. Cada um com sua religião, cada um com sua vida. As de matriz africana não estão criticando nenhuma religião.” O advogado Hédio Silva Junior, que compareceu ao Ègbé, lembrou que os seguidores da umbanda e do candomblé não são os únicos a sofrer discriminação. Há os adventistas, criticados porque guardam o sábado e não o domingo como dia sagrado, as testemunhas de Jeová, que enfrentam problemas com preceitos religiosos que vão contra a ciência (como a interdição da transfusão de sangue), e mesmo os ateus. Para o advogado, entretanto, o discurso de ódio racial propriamente dito tem um alvo único: as religiões afro-brasileiras.
Silva Junior enfatizou que ocorre hoje no Brasil uma tentativa de apagamento da cultura negra. Ele deu como exemplo a atitude de segmentos evangélicos de se apropriar do acarajé, uma comida de orixás, transformando-o em “acarajé de Jesus”. “O discurso do ódio é direcionado a todo o patrimônio civilizatório africano que marca a sociedade brasileira, e nós somos uma sociedade racializada, africanizada”, disse. “Ser macumbeiro no Brasil é em si um ato de resistência, de revolução, é uma opção pelo enfrentamento e pela dor, à humilhação.”
O Ègbé – Parte de Nós aconteceu no Sesc Venda Nova, misto de clube e hotel com 462 mil metros de vegetação, a cerca de 16 km do Centro de Belo Horizonte. A abertura teve a execução do Hino Nacional, compassado pelo toque de atabaques e interpretado pelo cantor carioca Igbonan Antônio Rocha dos Santos Filho, de 62 anos, um militante dos movimentos negro e gay com poderosa voz de barítono. Ele fez sua iniciação no candomblé há quarenta anos e tornou-se Omo Igbonan, “o filho da quentura”. Depois de um processo judicial de retificação de registro, em 2021 incorporou Igbonan como prenome.
Para cantar o hino, Igbonan Rocha vestiu bata e calça verdes com detalhes dourados, trazidas por um amigo da cidade nigeriana de Ibadan e que saem do seu guarda-roupa somente em ocasiões especiais. A escolha da cor, parecida com a da bandeira brasileira, foi para o cantor um gesto político. “Temos que nos apropriar dos nossos símbolos. A bandeira é do povo brasileiro. A gente não está aqui para brigar, mas para que a Constituição seja respeitada”, afirmou.
Muitos convidados vestiam branco na noite de abertura. Mulheres trajavam saias de renda richelieu, turbantes, braceletes e colares dourados. Os homens capricharam nas rendas africanas e nos paramentos na cabeça. Na tradição afro-brasileira, qualquer cerimônia começa com o pedido de licença a Exu, o senhor da comunicação, que, portanto, foi saudado por todos. Como o início dos trabalhos caiu em uma quinta-feira, dia da semana dedicado a Oxóssi, o senhor das florestas também foi aclamado.
Com um vestido de renda branca e detalhes dourados, Célia Souza, do Cenarab, soprou em cada um dos presentes a pemba de Oxalá, um pozinho branco de alfazema, canela e noz-moscada de aroma adocicado, para purificar o corpo. A fim de garantir proteção, foi dado a todos os presentes a guia de Oxalá, um colar de contas brancas. “O peso que nós carregamos é o peso dessa conta. Ela é linda e maravilhosa, e nós a amamos, mas sabemos o peso que é ser macumbeiro neste país”, disse Souza, na primeira mesa de debates.
O Ègbé foi uma oportunidade para antigos amigos se reverem e confraternizarem, após a longa separação causada pela Covid. A ex-ministra Nilma Lino Gomes encontrou-se, depois de três anos, com Kabengele Munanga, que foi seu orientador no doutorado em antropologia social na Universidade de São Paulo (USP). O advogado Silva Junior dançou animadamente com a ialorixá Jô Brandão e com o babalorixá Sidnei Nogueira.
Vítimas da violência deram depoimentos no encontro em Belo Horizonte. Uma pessoa de Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro (que pediu para não ser identificada na reportagem por medo de represálias), emocionou-se ao contar sobre o medo que sentiu quando traficantes a botaram para correr da comunidade. Ela não teve tempo nem mesmo de recolher os itens sagrados do terreiro de umbanda pelo qual zelava.
A agressão partiu de um traficante, sobrinho de um pastor, e foi antecedida por avisos dados por terceiros. Primeiro, o traficante exigiu que o terreiro não tocasse atabaque. Em seguida, que ninguém usasse roupas de santo. Depois que os recados cessaram, homens invadiram o local e o destruíram. Não restou uma parede sequer da casa. “Quando o tráfico chega, ele não te pede: ele te manda sair e não tem como entrar na Justiça para recobrar o direito de um bem que você perdeu. Nesse momento, é ter sabedoria, ir embora e não olhar para trás”, disse a pessoa à piauí. “Minha dor maior foi não ter podido levar minhas histórias e heranças. Só sobraram as minhas memórias.”
Xangô é o orixá consagrado no terreiro Ilê Axé Icimimó Aganju Didè (em português, “casa forte de Xangô onde se faz o bem”), no povoado de Terra Vermelha, em Cachoeira, cidade a 120 km de Salvador. O local é vizinho de outros terreiros de candomblé (o Loba’Nekun e o Asepò Erán Opé Olùwa – Terreiro Viva Deus), todos eles declarados patrimônio cultural imaterial da Bahia em 2014.
Quem dirige o terreiro dedicado a Xangô é o babalaxé (ou babalorixá) Antônio dos Santos Silva, o Pai Duda de Candola, de 42 anos, que decidiu buscar apoio das autoridades para proteger o local, depois de ter sido alvo de três ataques – em 27 de fevereiro de 2019, em 9 de junho de 2020 e em 8 de julho de 2021. As investidas contra o terreiro o levaram a recorrer ao Ministério Público, que, em março de 2019, expediu uma recomendação para que o local fosse protegido pela Polícia Militar e ajuizou em fevereiro deste ano uma ação civil pública contra os supostos agressores. Em 13 de maio de 2020, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) fez o tombamento provisório e emergencial do terreiro, que aguarda o tombamento definitivo, ainda em processo.
O segundo ataque, de 9 de junho de 2020, parece aquela sequência do filme Bacurau em que um grupo de facínoras estrangeiros vigia com drones uma comunidade no interior de Pernambuco, antes de invadi-la. Quando chegava de moto ao terreiro, Pai Duda avistou um drone sobrevoando a área. Pouco depois, chegaram caminhonetes com cerca de quarenta homens, todos “fortemente armados”, segundo o caseiro Antônio de Freitas Cerqueira, que testemunhou o ataque.
Pai Duda se escondeu no mato, de onde viu os homens iniciarem a destruição, inclusive dos assentamentos – onde é depositado o axé (a energia dos orixás), o que torna aquela parte da terra um local sagrado. “Mexeram no terreiro do dono da justiça, Xangô. Atacaram os pontos sagrados, derrubaram as cercas que protegiam toda área, as folhas, os animais. Quebraram todos os assentamentos”, descreve o sacerdote.
Apesar de temer os homens armados, o babalaxé foi conversar com eles, tendo como única proteção os fios de conta de Xangô. “Eu pedi que não mexessem nessa casinha de barro, o barracão principal do terreiro, que tinha valor para a sociedade, para a humanidade, pelo serviço prestado. Não bulam, não. Mas eles ousadamente quebraram toda a cerca e os assentamentos ancestrais nossos”, conta.
Em outubro do ano passado, quando a piauí visitou o terreiro, uma árvore ainda estava envolta por um laço de fita de tecido, simbolizando as vestes de Exu, e no entorno dela permaneciam os rastros do ataque, como o alguidar de barro quebrado, garrafas espalhadas e as ferramentas da divindade destruídas. “É como se eles estivessem acabando com o nosso pai, avô, bisavô. Eu nasci neste terreiro, nesta terra, e estou aqui até hoje. É um ataque à ancestralidade, à religião”, diz Pai Duda.
A investida mais recente, de julho do ano passado, ocorreu quando era feita uma obrigação para Obaluaiê, o orixá da cura. Homens armados se aproximaram, e os filhos do terreiro deixaram o barracão às pressas, com medo de que fosse incendiado. Todas as agressões ocorreram à luz do dia e foram fotografadas pelos filhos de santo. As imagens estão anexadas no processo de investigação que corre em segredo de Justiça.
Pai Duda relaciona as agressões à intolerância religiosa, porque seus alvos foram os assentamentos para Exu, que na visão não maniqueísta das religiões afro-brasileiras tem o atributo de “abrir os caminhos”. Por ser um orixá sagaz e libertário, que impulsiona as energias para o prazer, o amor, a mudança e a vida em geral, Exu foi tomado pelos cristãos desde o início da colonização europeia da África com uma entidade imoral, que praticava o mal, como o Diabo (que inexiste nas religiões de matriz africana). No último Carnaval, a escolha desse orixá como tema da Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio – vencedora da disputa carioca – gerou várias manifestações de repulsa da parte de evangélicos, com palavras agressivas dirigidas contra a divindade.
(Em julho do ano passado, causou furor e foi motivo de celebração nas redes sociais a narração de Gustavo Villani, do Sportv, quando o atacante Paulinho marcou gol na vitória do Brasil contra a Alemanha, na estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio. “Goooooooooool… pra Exu aplaudir!”, disse Villani. Paulinho é do candomblé e já havia dito: “Rezo todos os dias para que Exu ilumine o Brasil e os nossos caminhos.” Na comemoração, o jogador simulou o gesto de lançar a flecha em referência a Oxóssi, senhor das florestas, um caçador com arco e flecha.)
Fora a hipótese de Pai Duda para as agressões, pesa ainda a suspeita de que elas estejam relacionadas a uma disputa por terras. A área é reivindicada tanto pelo terreiro quanto pelo Grupo Penha, indústria de papel e celulose. A empresa disse à piauí ter firmado em 7 de março de 2019 um acordo extrajudicial com o Ministério Público da Bahia para que o terreiro usufruísse de uma parte do terreno, mas que a instituição religiosa desrespeitou a demarcação.
O MP não confirmou o acordo e afirmou ter expedido, naquele mesmo ano, uma recomendação aos funcionários da empresa para que eles se abstivessem de entrar no imóvel, em especial se “munidos de ferramentas, maquinário, veículos, ou qualquer outro instrumento que venha a alterar, extrair, queimar, mutilar, modificar qualquer bem, local, recurso natural ou cultural, da fauna, flora ou hídrico”. No documento, os promotores dizem que o terreiro possui provas de propriedade do imóvel. Em fevereiro de 2022, o promotor Ernesto Cabral de Medeiros entrou com uma ação civil pública pedindo à Justiça que proíba a entrada dos funcionários no terreiro. Ele afirma que o Grupo Penha destruiu “objetos e sítios tidos como sagrados pela comunidade de santo e inerentes ao exercício das atividades do terreiro”.
A empresa refuta a acusação de intolerância religiosa. “Toda e qualquer acusação de parte contrária, em face do Grupo Penha, relativa à intolerância religiosa é rechaçada veementemente por nós por não representar a verdade dos fatos que estão em discussão judicial”, declarou, em nota enviada à piauí. A Polícia Civil não revela detalhes sobre as apurações alegando que a divulgação pode interferir no andamento das investigações.
No fim do século XVII, havia em Cachoeira – cidade onde fica o terreiro de Pai Duda – cerca de duzentos engenhos, que tinham em média trezentos escravizados cada um. Esse município localizado às margens do Rio Paraguaçu foi um dos mais importantes para a economia colonial, por sua atividade agrícola (sobretudo açúcar e fumo) e por seu porto, que permitia tanto o avanço de expedições rumo ao sertão como o escoamento da produção do interior da Bahia com destino a Salvador.
A presença negra, bem como a indígena, deixou marcas fortes na cidade, como se constata nos traços físicos e na religiosidade da população. “Onde quer que você vá, encontra um ebó ou uma cruz”, diz Davi Rodrigues, ex-secretário municipal de Cultura e Turismo. Hoje, no município de cerca de 33 mil habitantes, 51% da população é católica, 21% é evangélica, e 4,3%, seguidora de religiões de matriz africana, segundo o Censo de 2010.
Bárbara Cristina Silva dos Santos, de 24 anos, foi criada no candomblé e é mãe pequena do terreiro Ilê Axé Ogum Megegê e Oxóssi Guerreiro, situado no bairro Pitanga. Indamaiá dos Santos Moreira, de 42 anos, nasceu em uma família de umbandistas, mas, há catorze anos, “aceitou Jesus”, como ela diz, tornando-se membro da Igreja Batista Betel, de Cachoeira. As duas são amigas há três anos, respeitam a crença uma da outra e, quando a piauí as encontrou, elas conversavam descontraídas em um restaurante às margens do Rio Paraguaçu.
Santos foi iniciada no candomblé ainda menina e enfrentou forte bullying na escola, por causa das roupas brancas, do cabelo raspado e do “pano de cabeça” que precisava usar. “Olha a menina do Diabo”, diziam alguns de seus colegas. Ela ressalta que as pessoas a associavam ao Diabo devido ao culto a Exu nas religiões de matriz africana. “Mas Exu não é o Coisa-Ruim. É um orixá que faz coisas para o bem e para o mal. Se você pedir o bem, ele vai fazer o bem. Se você pedir o mal, ele vai fazer o mal.”
Moreira, que virou evangélica, mora com a mãe, que é ialorixá (mãe de santo) e lhe deu o prenome Indamaiá em homenagem a uma entidade indígena da umbanda. Ela reconhece que muitos evangélicos discriminam os seguidores de religiões de matriz africana, mas acredita que o inverso também é verdade, mesmo que em menor proporção. “Cada um de nós tem que passar o amor e acolher. Assim como sou acolhida por Bárbara, minha amiga, que me acolhe muito, me ouve”, diz. Ela acredita que Cachoeira, que já foi reconhecida como um dos berços do candomblé, hoje é uma cidade evangélica.
Na infância, as duas viveram bem próximas de terreiros de candomblé, mas isso é hoje motivo para que as famílias percam a guarda de seus filhos. Uma reportagem publicada pelo site The Intercept Brasil em 2 de maio passado indicou que tem aumentado em vários estados do país o número de pedidos de suspensão ou perda do poder familiar sobre crianças e adolescentes que estão em contato com as religiões de matriz africana. Segundo a reportagem, o advogado Hédio Silva Junior havia atuado em um único caso desse tipo até 2019. A partir daquele ano, já atuou em três casos, “além de outros três de que tomou conhecimento por parte de colegas”. A advogada Patricia Zapponi, que foi vice-presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB do Distrito Federal, disse ao The Intercept Brasil que “dentro do direito de família, não se tinha tanta ocorrência com relação à religião. Hoje, você já vê contendas gigantes postuladas em cima disso”.
Engenho Velho da Federação é conhecido por ser o bairro de Salvador onde se encontra o maior número de terreiros de candomblé. São dezenove, de acordo com informações da Fundação Gregório de Mattos, órgão vinculado à prefeitura. A Bahia é o quarto estado com maior número de seguidores de religiões de matriz africana, depois do Rio Grande do Sul, em primeiro lugar, do Rio de Janeiro e de São Paulo.
O mais antigo terreiro com registro na Bahia é o Ilê Axé Iyá Nassô Oká (“casa da Mãe Nassô Oká”), também chamado de Casa Branca do Engenho Velho, fundado em 1830 e tombado duplamente: pelo patrimônio histórico de Salvador, em 1982, e pelo Iphan, em 1986. Ocupa uma área de 6,8 mil m2 que é também um espaço de preservação cultural e paisagística de Salvador. Em vista da quantidade de árvores e plantas, parece um jardim botânico.
Gersonice Azevedo Brandão, conhecida como Ekedy Sinhá, de 75 anos, guarda ali o legado de Iyá Nassô Oká, segundo ela uma rainha nigeriana que veio para o Brasil e foi uma das três sacerdotisas que fundaram o terreiro. Tudo ali é sagrado, da terra onde se pisa às edificações, além das árvores, que são as moradas dos orixás e não podem ser cortadas sem que se peça autorização a eles. Apesar disso, esse espaço considerado “a mãe de todos os terreiros de Salvador”, enfrenta desde o século XIX a intolerância religiosa, que se ampliou nos últimos tempos. Ekedy Sinhá conta que há alguns anos um grupo de evangélicos invadiu a Praça de Oxum, que faz parte do terreiro. Os agressores jogaram sal na praça, atiraram pedras no telhado de cerâmica, de estilo colonial, e disseram que o local daria uma “boa casa de oração”. Ela respondeu que ali já era “uma casa de oração, onde os filhos rezam cantando, dançando e comendo, na vida e na morte”.
“A intolerância religiosa está maior. Já houve antes, mas a gente justificava como sendo por falta de conhecimento, pela ignorância sobre o que é a religião do outro. Mas hoje não se admite mais, em pleno século XXI, que as pessoas não saibam que é preciso respeitar o outro e sua fé”, diz Ekedy Sinhá. A despeito dos ataques que sofreu ao longo de quase dois séculos, o terreiro permanece firme, “por causa da sabedoria dos mais velhos e da paixão dos mais jovens que seguem na tradição”, segundo ela. Para garantir que o Terreiro Casa Branca do Engenho Velho se mantenha como um território de axé, as lideranças buscam estratégias tanto no plano espiritual como no material, cogitando até abrir processos jurídicos.
Logo na entrada do terreiro, vê-se o Barco de Oxum, pintado de branco e azul, uma referência aos navios que trouxeram os ancestrais da África ao Brasil. Subindo por uma escada, alcança-se o barracão central, a Casa de Xangô, onde são realizadas as cerimônias públicas. O espaçoso terreno também abriga as casas de Exu, Ogum, Oxóssi, Obaluaiê e Nanã e, perto da casa de axé, as moradias de nove famílias quilombolas.
Os membros mais jovens dessas famílias nem sempre seguem a crença dos pais e, no último ano, integrantes de uma delas se tornaram evangélicos. Essa diferença de religiosidade provocou uma situação delicada no terreiro. Para Ekedy Sinhá, o desconforto não é ter que conviver com pessoas de outras religiões, mas com aquelas que não respeitam a sua.
No Terreiro Casa Branca, a piauí foi convidada a assistir à celebração do Amalá de Xangô, um rito de fortalecimento espiritual dos filhos de santo, em que se serve o amalá, o prato preferido do rei de Oyó. É preparado com quiabo, pó de camarão e azeite de dendê. A refeição do orixá se completa com o acaçá – outra iguaria ritual, feita de milho branco, que fica de molho de um dia para o outro, é moído e envolto em folhas de bananeira.
A festa estava marcada para as 19 horas, e o pesquisador Fernando Batista dos Santos, doutorando em cultura e sociedade na Universidade Federal da Bahia, alertou que ninguém deveria se atrasar: todos precisavam estar no terreiro antes da chegada de Nancy de Souza e Silva, ou Cici de Oxalá, do terreiro Ilê Axé Opô Aganju. Batista é amigo e escudeiro de Mãe Cici, que é também guardiã da Fundação Pierre Verger, responsável por zelar pelo acervo do fotógrafo e etnólogo francês que estudou e retratou o candomblé, adotando-o também como sua religião.
Na entrada do barracão, o Barco de Oxum recebeu máscaras geledés – da cultura iorubá – em ladrilho. Foram enviadas por Manny Vega, artista norte-americano de origem porto-riquenha e filho de Oxóssi, iniciado por Mãe Menininha do Gantois, a mais famosa ialorixá da história do candomblé no Brasil. O piso de pedra do barracão estava coberto por folhas de acocô, que indicam prosperidade.
Cheguei pontualmente e pude me sentar logo atrás das autoridades da religião e ao lado dos ogãs, que tocam os tambores – todos nós em frente à gigante Coroa de Xangô, feita de madeira e pedraria, disposta sobre os pilares do trono do orixá, um tablado no centro da sala. Perto da coroa fica a cadeira da mãe de santo da casa, Neuza de Xangô Aganju.
A percussão dos ogãs marca cada momento litúrgico e o ritmo da cerimônia, durante a qual não há fala alguma. As mulheres vestem saias rodadas, a maior parte delas branca. Algumas dançam no círculo que se forma em volta do trono de Xangô. As filhas do orixá saúdam a imagem e trazem o amalá, que é apresentado às esposas de Xangô – Oyá ou Iansã, Iemanjá, Obá e Oxum – antes de ser colocado aos pés do orixá.
Casa Branca é um terreiro matriarcal, onde somente as mulheres podem conduzir a liturgia. O momento mais esperado da noite é a chegada de Xangô, manifestado em Mãe Neuza, que se tornou líder da casa em dezembro de 2020. Naquela noite, saboreei o prato generosamente servido, cantei, rezei e agradeci a Xangô pelo banquete.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras