A indústria cultural, o gênero e o século XXI
Um esforço para atualizar, sob lentes feministas, a teoria de Adorno – que pode ter olhado as mulheres principalmente como consumidoras. Que papel cumprem agora as redes, para tornar palatável o trabalho reprodutivo? O que é – e deveria ser – o “tempo livre” das mulheres?
Publicado 01/04/2025 às 18:00 - Atualizado 01/04/2025 às 18:01
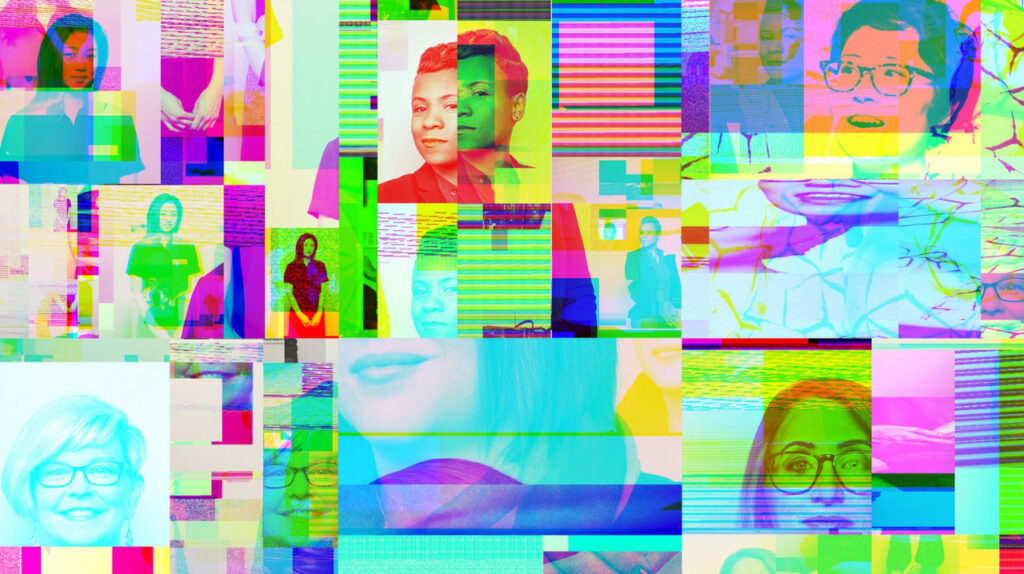
“A tradição só pode retornar naquilo que implacavelmente a renega.”
—Theodor W. Adorno, “Sobre Tradição”
Por Bruna Della Torre, no blog da Boitempo
Hoje vou discutir uma possível leitura feminista do conceito de indústria cultural, partindo de uma análise crítica do conceito formulado por Theodor W. Adorno. As reflexões que apresentarei a seguir provêm de um artigo publicado em inglês na última edição de Constelaciones: Revista de Teoría Crítica, escrito a convite de Jordi Maiso. O título da minha apresentação é: “Theodor Adorno era feminista? A indústria cultural e as mulheres”. Embora o texto se concentre principalmente na segunda parte do título, quero manter igualmente essa primeira parte, a da pergunta. Responder se Adorno era ou não era feminista — mais do que um exercício de história intelectual — é um exercício de elaboração do passado na teoria crítica. Se uma das tarefas perenes da teoria crítica é perguntar, como destacou Roberto Schwarz, “Que horas são?”, então, agora, é o momento (de fato, já passou da hora) de a teoria crítica ajustar os ponteiros de seus relógios em relação aos movimentos feministas e às críticas que estes fizeram ao marxismo como um todo. Por isso, é importante perguntar sobre o feminismo de Adorno (e, como argumentarei aqui), reconhecer quando e como ele não o é. Não vou tentar produzir uma reconciliação extorquida entre feminismo e teoria crítica, a fim de defender — como estão fazendo várias analistas contemporâneas — que na verdade Adorno seria um grande pensador do gênero e um importante crítico do patriarcado, mas, sim, apresentar alguns problemas presentes no conceito de indústria cultural de uma perspectiva feminista, para depois pensar como podemos recorrer à teoria de Adorno e utilizá-la para construir uma teoria crítica feminista do presente — sem necessariamente ter que levar em consideração o que Adorno disse sobre as mulheres e sobre o gênero. Como mostro a seguir, parece-me que não é nessas reflexões que residem as contribuições da teoria crítica adorniana para o feminismo.
Começo, então, com algumas das imagens femininas que povoam a obra de Theodor W. Adorno: donas de casa que choram ouvindo Toscanini, buscando refúgio de suas vidas miseráveis no cinema como mendigas; secretárias que sonham em se tornar atrizes; datilógrafas que perdem tempo participando de concursos de revistas; mulheres que usam a música como suporte para suas fantasias sexuais; que fetichizam seus corpos bronzeados; que se sentem lisonjeadas ao serem tratadas como homens; que sabem que estão feridas quando sangram e cuja beleza pode ser reconhecida pelo tom de sua voz ao telefone. Elas representam toda a estupidez, infantilidade e heteronomia produzidas pelo sistema da indústria cultural.
Essa associação entre a indústria cultural e as mulheres pode ser rastreada até uma carta que Adorno escreveu a Erich Fromm em 1937, propondo um estudo do “caráter feminino” (como um correlato do “caráter autoritário”). Nessa carta aparecem algumas ideias que posteriormente formariam o núcleo no conceito de indústria cultural, e que estão diretamente relacionadas à aura de misoginia que envolve os ensaios sobre o tema. Cito aqui um extenso fragmento da carta porque o considero fundamental para meu argumento:
“Hoje em dia, as mulheres estão, em certo grau, mais dominadas pelo caráter de mercadoria do que os homens e, adaptando uma bela fórmula antiga sua, funcionam como agentes da mercadoria na sociedade. Em estreita relação com isso, parece-me que as mulheres e sua consciência específica de consumidor são muito mais um elemento de coesão do que, por exemplo, a autoridade familiar com sua moral sexual ascética, que hoje está muito debilitada, sem que isso altere significativamente o caráter burguês. […] O que proponho é uma tentativa de mostrar que, precisamente devido à sua exclusão da produção, as mulheres desenvolveram contornos específicos da existência burguesa, distintos dos dos homens, e não que transcendem a sociedade burguesa […]. Sim, chego a afirmar, e suponho que Horkheimer assuma cegamente minha opinião, que os traços nos quais as mulheres parecem reivindicar sua ‘imediatidade’ são, na realidade, estigmas que a sociedade burguesa deixou nelas; traços que, em um contexto real de ilusão, ocultam o que poderia ser sua verdadeira natureza. Analiticamente, parece que a formação do eu na maioria das mulheres, precisamente devido à sua posição econômica particular, foi completamente imperfeita. A infantilidade adicional que apresentam em comparação com os homens não as torna progressistas. A tarefa, cuja solução, obviamente, não me atrevo a abordar como não economista nem psicanalista, consistiria em desenvolver uma análise da posição econômica das mulheres e seus traços característicos específicos; mostrar como precisamente esses traços contribuem para a preservação da sociedade e como, em última instância, fornecem o modelo para os ideais que acabam desembocando na reprodução fascista da estupidez. Mas esses traços, que não gostaria de prejulgar, parecem-me decisivamente relacionados com a relação do consumidor com a mercadoria. Seria necessário analisar em detalhe o comportamento completamente irracional das mulheres em relação às mercadorias: as compras, as roupas, os penteados, etc., e provavelmente se descobriria que todos os fatores que aparentemente servem para o apelo sexual estão, na realidade, dessensualizados. O gesto da moça que, enquanto se entrega ao amante, é invadida pelo medo de que nada aconteça com sua roupa e penteado parece-me significativo. Suspeito que a sexualidade feminina está, em grande parte, dessensualizada; que se tornou um fetiche para si mesma ao ponto de que seu próprio caráter de mercadoria […] se interpõe entre ela e sua atividade sexual, mesmo na promiscuidade mais completa. Seria necessária uma teoria social da frigidez feminina que, em minha opinião, não deriva essencialmente do fato de que as mulheres estão submetidas a muitos tabus sexuais ou de que não encontram um parceiro adequado, mas sim do fato de que, mesmo no coito, as mulheres são em si mesmas objetos de troca com um fim que naturalmente não existe, incapazes de alcançar o prazer devido a esse deslocamento. Mesmo na sexualidade, o valor de uso foi submetido ao valor de troca” (Adorno, 2023: 543-544).
Como feminista, é impossível ler esses fragmentos da carta sem sentir uma imensa indignação. Associar o “caráter feminino” ao fascismo (que, vale ressaltar, foi liderado predominantemente por homens, os principais agentes de sua violência), culpar o caráter consumista das mulheres por sua “frigidez” (absolvendo a milenar desatenção dos homens em relação ao prazer feminino), comentar sobre a formação imperfeita do ego feminino (apropriando-se do pior da psicanálise de Freud), e, finalmente, apontar as mulheres como as principais “agentes” da forma mercadoria parecem razões mais do que suficientes para fechar os livros de Adorno e nunca mais abri-los. Não, o feminismo não precisa da teoria crítica, muito obrigada.
No entanto, o crucial nesta carta não é apenas evidenciar os fundamentos misóginos que subjazem à formulação inicial do conceito de indústria cultural, mas também identificar as premissas que parecem persistir em textos posteriores e que merecem uma revisão crítica. Adorno afirma que a forma mercadoria (e, dados os exemplos que oferece, pode-se inferir também o que ele posteriormente chamaria de indústria cultural) afeta de alguma forma mais profundamente as mulheres do que os homens. Ele também sugere, de maneira discriminatória, que as mulheres estão mais sujeitas à reificação e à forma mercadoria por estarem fora do processo de produção, imersas apenas (e mais do que os homens) na esfera da circulação. Em outras palavras, o que Adorno sugere é que as mulheres operam no capitalismo apenas como consumidoras. Implícita aqui está a ideia de que aqueles que operam na produção e no consumo possuem uma formação do eu mais completa e menos autoritária do que aqueles imersos apenas no último.
Adorno reconheceu, sem dúvida, que a indústria cultural funcionava como um mecanismo de dominação entrelaçado com o patriarcado. No entanto, ele não conseguiu situar essa perspectiva dentro de um marco teórico mais amplo sobre a posição das mulheres no capitalismo, um problema que, como argumentarei aqui, está relacionado com sua leitura de Marx. No capitalismo contemporâneo, não se pode contemplar os processos de generificação, racialização e sexualização (na verdade, toda a socialização) sem levar em conta o papel da indústria cultural. Embora seja evidente que a noção de um “caráter feminino” específico vinculado à reificação produzida pela indústria cultural constitua uma interpretação discriminatória, é um fato histórico que as mulheres foram seus principais alvos. Portanto, vale a pena analisar esse conceito à luz das lacunas no marxismo de Adorno, abordando-as por meio das teorias feministas da reprodução social para depois reconsiderar sua importância para o feminismo.
Uma tese central relacionada ao conceito de indústria cultural é que o “tempo livre” (Adorno, 1997), dominado pela indústria cultural, funciona como um complemento ou extensão do trabalho alienado realizado em fábricas ou escritórios. Adorno enfatizou repetidamente que, sob o capitalismo, o lazer não é mais do que uma continuação do trabalho. Mas que tipo de trabalho? O trabalho monótono, tedioso e alienado característico do fordismo, seja em escritórios ou fábricas. Isso sugere que o conceito de indústria cultural aprofunda a experiência da separação entre trabalho e lazer, típica do Estado de Bem-Estar que sustentava o ideal norte-americano de pleno emprego após a Segunda Guerra Mundial. A tese sustenta que, na sociedade burguesa, o lazer se converte em uma parte indispensável da adaptação dos indivíduos ao trabalho alienado.
Assim como muitos marxistas de seu tempo, Adorno construiu seu arcabouço teórico partindo da suposição de uma classe trabalhadora assalariada predominantemente caracterizada por sua branquitude, masculinidade e posição de classe média. O que merece destaque aqui, inicialmente, é o papel das mulheres dentro desse regime de acumulação. Na carta mencionada, Adorno associa as consumidoras e o caráter feminino ao autoritarismo; no entanto, seus escritos não oferecem uma consideração substancial sobre como o fordismo foi experimentado de maneira diferenciada por homens e mulheres dentro da mesma classe média. Essa dicotomia entre domesticidade e trabalho industrial, entre trabalho e lazer, e, portanto, entre o homem como produtor e consumidor e as mulheres como apenas consumidoras, configurou todo o seu diagnóstico. Em contraste com a percepção predominante de uma teoria sofisticada afastada dos postulados ortodoxos marxistas, a teoria da indústria cultural ilustra como o pensamento de Adorno, em certos aspectos, permaneceu dentro do que poderia ser descrito como um paradigma marxista tradicional.
O exame de Adorno, portanto, considera principalmente a dicotomia entre as esferas de produção e consumo ao abordar a indústria cultural. No entanto, para uma interpretação feminista da indústria cultural, é necessário considerar um terceiro elemento. O feminismo marxista, que evoluiu simultaneamente com a teoria crítica (e que deve ser considerado um de seus desdobramentos mais significativos), demonstrou como essa abordagem marxista ao capitalismo negligenciou um elemento que atravessa os domínios de produção e consumo e que é pressuposto por eles: a reprodução social, o “laboratório secreto do capital” de que fala Silvia Federici (2021), do qual historicamente foram encarregadas as mulheres, juntamente com populações racializadas e subalternas nas periferias do capitalismo.
Conforme indica sua carta a Fromm, Adorno sugere que, devido à exclusão econômica das mulheres da produção capitalista, elas se integrariam a esse sistema apenas através da esfera do consumo (quase que como figuras parasitárias). O que ele não conseguiu reconhecer é que as mulheres, mesmo as donas de casa brancas suburbanas da era fordista, sempre estiveram integradas a esse sistema não apenas como consumidoras, mas também como agentes da reprodução social, e, portanto, como um elemento intrínseco da produção capitalista. A reprodução, nesse contexto, representa o terceiro termo na dialética marxiana entre trabalho e capital, já que sustenta ambos. Assim, uma leitura feminista da indústria cultural deve levar em conta essa complexa dialética, que permanece insuficientemente explorada na teoria marxiana. Também é essencial reconhecer que, se a indústria cultural opera como infraestrutura e superestrutura, como queriam Adorno e Max Horkheimer, sua relação com o gênero deve ser entendida igualmente em termos dialéticos e não apenas através da associação das mulheres com a esfera da circulação.
Por isso, vale lembrar que o sistema da indústria cultural cristalizou-se nos Estados Unidos durante um período de reorganização capitalista no pós-guerra, que também implicou uma reconfiguração da reprodução social. As mulheres de classe média, que haviam ingressado no mercado de trabalho devido à escassez de mão de obra masculina durante as duas guerras mundiais, foram empurradas novamente ao âmbito doméstico. Como demonstrou Silvia Federici em O patriarcado de salário, essa mudança representa a reinstauração do chamado “salário familiar”, que reforça as relações patriarcais entre a classe trabalhadora. Em outras palavras, a indústria cultural surge como uma forma de mediação universal em um momento de profunda reação contra os avanços laborais, sociais, políticos e intelectuais que as mulheres haviam conquistado nas décadas anteriores. Nesse sentido, é possível afirmar que as mulheres não foram exatamente agentes da mercadoria, mas sim os principais alvos da indústria cultural em um intenso processo de reestruturação da reprodução social nos setores médios da sociedade. Ou seja, o aparato da indústria cultural funcionou como um agente unificador, um cimento, que conectou produção e consumo, trabalho e lazer e, talvez mais significativamente, como uma força que entrelaçou produção e reprodução, influenciando profundamente as relações de gênero e reforçando a dominação masculina por meio de diversos mecanismos.
A tese de que o tempo livre serve como uma extensão do trabalho pode, nesse contexto, ser reavaliada sob a perspectiva da reprodução social. Para as mulheres dedicadas ao trabalho doméstico, não existia uma demarcação clara entre o tempo livre — entendido por Adorno como o tempo além do trabalho formal — e os âmbitos profissionais da fábrica ou do escritório. A porosidade entre o trabalho reprodutivo e a imersão na indústria cultural demonstra que, para as mulheres, a continuidade entre essas esferas era ainda mais pronunciada (algo que a maioria da população começou a experimentar apenas com a chegada do computador pessoal e, mais recentemente, do smartphone e outros dispositivos similares). Esse grupo ocupa uma posição peculiar, marcada pela indistinção entre o chamado tempo livre e o tempo de trabalho reprodutivo, ficando ainda mais exposto à indústria cultural. Até hoje, o rádio, a televisão e seus sucessores contemporâneos — como aplicativos de música, podcasts e outros — acompanham o trabalho doméstico, mitigando sua solidão.
Adorno argumenta que a indústria cultural estende o domínio do trabalho ao replicar, fora dos espaços formais de trabalho, os mesmos sistemas fechados e impenetráveis que os trabalhadores enfrentam dentro das fábricas e escritórios. Ele recorre às reflexões de Lukács (1977) sobre o processo de reificação, conforme descrito em História e consciência de classe, que força os indivíduos, reduzidos a meros apêndices do processo de produção, a adotar uma atitude contemplativa em relação a um trabalho que lhes aparece como um sistema pronto e acabado, regido por leis inalteráveis. O trabalhador, ao chegar à fábrica ou ao escritório, depara-se com um aparato de produção plenamente operativo ao qual está subordinado e que lhe parece indiferente, tornando-se um mero acessório desse aparato. Isso gera uma disposição contemplativa nos trabalhadores, que se percebem impotentes diante de uma ordem mundial que lhes preexiste. O sistema, que parece funcionar de forma autônoma, fomenta a ilusão de que sua existência é independente dos indivíduos; diante da falta de alternativas, o trabalhador se submete. Adorno estende esse modelo à cultura, demonstrando que a rigidez observada na fábrica se reflete ou se duplica na indústria cultural, igualmente inflexível, como se esta fosse o doppelgänger do trabalho.
Mas o que é o ambiente doméstico senão outra forma de fábrica? Baseando-se nas ideias das feministas marxistas que conceituam o lar e a família como “fábricas sociais”, é possível aplicar à dona de casa os mesmos princípios teóricos aplicados ao trabalhador industrial, considerando assim os efeitos da indústria cultural sobre as mulheres a partir dessa perspectiva. Para elas, a fábrica é o lar, e a família é uma forma preexistente e rígida, assim como o trabalho fabril. O lar da classe média fordista norte-americana estava tão mecanizado quanto a própria fábrica, cheio de lavadoras, secadoras, aspiradores elétricos e uma infinidade de eletrodomésticos. Além disso, eram elas as responsáveis pelas compras, sendo o principal alvo dos anúncios da indústria cultural. É crucial lembrar que o fordismo também trouxe consigo a mecanização da reprodução, evidenciada pela proliferação de alimentos enlatados, alimentos congelados e misturas prontas para preparo, como as misturas para panqueca da Aunt Jemima, frequentemente mencionadas por Adorno.
Aqui se encontra outra contradição que enriquece a tese da indústria cultural a partir de uma perspectiva feminista. Se Adorno reconheceu com acuidade que a tecnologia e o pleno emprego, que aparentemente aumentavam o tempo livre, não eram tão emancipadores quanto pareciam, poderia se argumentar que uma contradição ainda maior reside na esfera da reprodução: cada inovação tecnológica, ostensivamente projetada para diminuir a necessidade de trabalho reprodutivo, foi acompanhada pela expansão concomitante da indústria cultural e da própria reprodução durante o mesmo período. O suposto tempo livre disponível graças aos avanços tecnológicos na esfera reprodutiva foi, contraditoriamente, absorvido pela indústria cultural, que serviu cada vez mais como um suplemento para a esfera da reprodução, ocupando o tempo das mulheres e acostumando-as a formas monótonas, repetitivas e alienantes de trabalho reprodutivo — uma dinâmica manifesta nos próprios produtos desse sistema. Susan Willis (1991), por exemplo, analisa como a estrutura formal das telenovelas, com sua trama morosa e enredo parcelado, transforma a experiência frustrante da espera das donas de casa (esperar os filhos voltarem da escola, o marido voltar do trabalho, a máquina de lavar completar o ciclo etc.) em uma forma de prazer. O mesmo acontece com revistas femininas e de variedades, o gênero por excelência das salas de espera, fomentando uma atenção distraída. Essa característica se tornou o centro da indústria cultural contemporânea, pois as redes sociais nada mais são do que um aparato projetado para o desperdício de tempo, para que o desejo de transformação social seja desviado para a espera por mercadorias compradas on-line.
Embora as donas de casa brancas da classe média que trabalhavam no lar não fossem as mulheres mais exploradas e oprimidas pelo capitalismo estadunidense, pode-se afirmar que esse setor da reprodução social foi um dos primeiros grandes laboratórios da indústria cultural. Como observa Willis, embora não fossem estatisticamente representativas da sociedade como um todo, “a América branca de classe média define o modelo e a aparência do capitalismo de consumo” (Willis, 1991: 54). As donas de casa foram uma espécie de cobaias de laboratório de um sistema — da indústria cultural — que viria a incidir agudamente sobre toda a sociedade posteriormente. Além disso, como afirmou Mariarosa Dalla Costa (1975: 71) na década de 1970, todas as mulheres, independentemente de trabalharem fora de casa ou não, casadas ou não, realizam trabalho doméstico, o que significa que mesmo aquelas que trabalham por um salário e enfrentam uma dupla jornada têm uma relação com o “tempo livre” diferente da dos homens (hoje, a discussão do fim da escala 6X1 no Brasil também passa por uma reivindicação das mulheres de tempo para a reprodução social — que precisa ser ampliada para uma defesa do tempo efetivamente livre da produção e da reprodução). Essas donas de casa da América da década de 1950 serviram como cobaias para práticas como “comprar por tédio”, que hoje, sob o neoliberalismo, se expandiram para todos os gêneros e classes sociais, intensificadas pela digitalização e pela precarização do trabalho no Sul Global. Na época em que Adorno e Horkheimer escreveram seu famoso ensaio sobre a indústria cultural, o capitalismo descobriu que o tédio e a ansiedade podiam ser altamente lucrativos — hoje esses afetos, produzidos e intensificados pelas redes sociais, são importantes motores do capitalismo de plataforma.
Em termos adornianos, isso significa que não apenas a monotonia do trabalho fordista é a outra face da indústria cultural, mas mais ainda, seu reverso é a monotonia da reprodução social, que a acompanha e que a pressupõe. O cansaço crônico e a depressão das donas de casa, acompanhados por um processo de medicalização de seu sofrimento — do Valium ao Zolpidem — revelam como a indústria cultural também produz consumidores para outras indústrias, como a farmacêutica. Isso se atualiza no cansaço e na ansiedade generalizados que tomaram conta das sociedades digitalizadas durante (e após) a pandemia de COVID-19, quando a exposição total à indústria cultural foi experimentada pelos setores da população que puderam permanecer em casa durante esse período, e que mergulharam na digitalização do trabalho desde então.
Hoje parece quase óbvio afirmar que a indústria cultural serve à dominação masculina, e que tudo o que diz respeito às imagens das mulheres é inseparável de elementos econômicos. No entanto, a relação desse aparato com a esfera da reprodução tem sido notavelmente pouco explorada. Em outras palavras, pode-se argumentar que a forma da indústria cultural pesava mais sobre as mulheres não porque estavam fora do processo de produção econômica, como argumentava Adorno, mas precisamente porque estavam profundamente conectadas a ele através da reprodução — embora de maneira invisível a seus olhos. A reprodução serviu, mais uma vez, como o laboratório do capital neste caso.
Agora que relacionei a indústria cultural à reprodução, gostaria de fazer algumas considerações finais sobre o aspecto superestrutural da indústria cultural e seus efeitos ideológicos. Desde o surgimento da indústria cultural, as feministas têm chamado a atenção para os devastadores efeitos desse aparato sobre as subjetividades das mulheres (e agora, sobre as subjetividades de todos os gêneros, em seu auge como plataformas digitais), especialmente no que diz respeito à imagem corporal, aos padrões de beleza, à confusão entre trabalho e lazer e assim por diante. No entanto, poucas feministas combinaram essa crítica com as reflexões de Adorno sobre a indústria cultural. Uma notável exceção é a já mencionada Susan Willis. Ela afirma:
“No capitalismo do final do século XX, o gênero está invariavelmente relacionado ao consumo de mercadorias. Compramos um gênero da mesma forma que compramos um estilo. Não importa se escolhemos uma imagem unissex ou ultrafeminina, o ato de comprar se afirma e a definição do gênero como mercadoria é mantida. Tal como Marx definiu, a forma mercadoria é a negação do processo e das relações sociais de produção. Quando o gênero é assimilado à mercadoria, concebe-se como algo fixo e congelado” (Willis, 1991: 19).
Isso significa que a indústria cultural sedimenta as normas de gênero, produzindo adaptação em vez de autonomia, pois reduz ainda mais a experiência de gênero a uma experiência de consumo. Porém, isso não significa que as reivindicações feministas sobre gênero e sexualidade sejam “meramente culturais”. Dizer que o gênero é mediado pela indústria cultural não implica cair no argumento simplista de que o feminismo foi cooptado pelo mercado, mas sim compreender que os gêneros se constituem, como toda socialização no capitalismo, principalmente por meio do consumo de mercadorias e, mais do que isso, por meio da indústria cultural, que cada vez mais se torna o aparato mediador do consumo de mercadorias hoje em dia, através da publicidade. É necessário reconhecer que a indústria cultural é uma forma que media cada vez mais a generificação e a sexualização, e que, portanto, as submete às regras do capital. Judith Butler afirmou em Problemas de gênero:
“O gênero é uma identidade tenuemente constituída no tempo, instituída em um espaço exterior através de uma repetição estilizada de atos. O efeito do gênero é produzido mediante a estilização do corpo e, por isso, deve ser entendido como a forma mundana em que gestos corporais, movimentos e estilos de diversos tipos constituem a ilusão de um eu generificado constante” (Butler, 1999: 179).
Se o gênero é um processo que assume a forma de algo estável, pode-se argumentar que uma das instâncias mais significativas dessa estabilização — ou da ilusão de estabilização — é a própria indústria cultural, cujo esquematismo também organiza os estereótipos de gênero e seus processos de padronização. O que Adorno afirmava sobre a música no rádio também pode ser aplicado ao gênero: os estereótipos nos são impostos por meio de técnicas de “plugging”, ou seja, uma repetição incessante que busca superar nossa resistência por meio do desgaste. Em outras palavras, poderíamos dizer que nos apegamos aos estereótipos de gênero da mesma forma que acabamos cantarolando uma melodia após ouvi-la vinte vezes no rádio, gostemos dela ou não. Se o argumento de Butler é que o aspecto revolucionário do feminismo reside em negar as predefinições do que é uma mulher e do próprio gênero como categoria reificada, então uma luta feminista deve necessariamente enfrentar os modelos de generificação produzidos pela indústria cultural.
Se é possível argumentar que a indústria cultural pensa e lembra por nós, também se pode argumentar que essa administração se estende aos corpos e comportamentos das mulheres, já que elas foram e continuam sendo o principal alvo de uma produção contínua de insatisfação, desenhada para ser suprida com uma série de produtos inúteis e muitas vezes prejudiciais à saúde. Essa é uma indústria que perpetua a alienação das mulheres em relação a seus próprios corpos, produzindo um sentimento constante de inferioridade e descontentamento, algo que se intensifica ainda mais para pessoas não brancas ou não binárias, por exemplo.
O aspecto infraestrutural da indústria cultural, além da própria indústria do entretenimento, está relacionado à reorganização da reprodução social e ao lugar das mulheres nesse processo, bem como ao aprofundamento da desigualdade econômica entre gêneros, sexualidades e raças, baseada na divisão entre produção e reprodução. Sua dimensão superestrutural, por sua vez, reforça o processo de generificação (sexualização e racialização), subordinando ainda mais mulheres, bem como gêneros, raças e sexualidades subalternas, tanto de uma perspectiva subjetiva quanto objetiva. Se, como mostram Adorno e Horkheimer, a indústria cultural como superestrutura promove a destruição da autonomia — tanto individual quanto política — e reforça o processo social capitalista, o mesmo pode ser dito sobre as dinâmicas de gênero, sexualidade e raça dentro desse aparato. Sua forma ideológica, derivada da forma mercadoria, é inseparável da ordem social e econômica na qual está inserida.
Além disso, até mesmo o trabalho de cuidado, historicamente relegado às mulheres, torna-se objeto de intensa administração, pois esse processo de disciplina e adaptação passa por uma série de imposições heterônomas da indústria cultural sobre como cuidar dos filhos, dos maridos, da casa e de si mesmas. Basta observar a programação de diversos canais de televisão até os dias de hoje, ou as influenciadoras do Instagram, que apresentam conteúdos como guias de cozinha, comportamento, moda, relacionamentos, decoração, educação, entre outros. Todo o trabalho de cuidado, inclusive o autocuidado, está mediado por essa forma. Existe uma atuação prescrita para nós desde o momento em que acordamos até o momento em que dormimos (e até mesmo o sono tem sido um novo território explorado pelo aparato tecnológico da indústria cultural).
Alguém poderia argumentar (como muitos o fazem) que a indústria cultural já não é a mesma e que hoje é possível, por exemplo, consumir imagens de “body positivity” em vez dos estereótipos que contribuem para a opressão de mulheres, pessoas queer, não brancas etc. Obviamente, um capitalismo mais inclusivo é melhor do que um completamente excludente. No entanto, a pergunta que Adorno nos ajuda a colocar, como feministas, é: isso constitui uma democratização real? Um dos pilares da tese da indústria cultural é que um exame dos “bens culturais” e de seu conteúdo não é suficiente para entender os efeitos objetivos e subjetivos desse aparato na vida das pessoas. O núcleo social de sua existência está muito mais na função (reificada e reificante) que ele exerce do que nas ideias que transmite. Adorno e Horkheimer afirmam que:
“Ao contrário do que acontecia na era liberal, a cultura industrializada, assim como a cultura nacional-popular no fascismo, pode se permitir indignação contra o capitalismo, mas não a recusa à ameaça de castração. […] O essencial hoje em dia [é] a necessidade inerente ao sistema de não libertar o consumidor, de não lhe dar sequer a ideia da possibilidade de resistência. O princípio determina que todas as necessidades devem ser apresentadas ao consumidor como realizáveis pela indústria cultural, ao mesmo tempo em que essas necessidades são organizadas de tal forma que o consumidor se experimenta a si mesmo apenas como um eterno consumidor, como um objeto da indústria cultural. A indústria não apenas o persuade de que sua ilusão é satisfação, mas também lhe transmite que, independentemente da situação, ele deve se conformar com o que lhe é oferecido” (Adorno e Horkheimer, 1969: 172).
Nesse trecho, vislumbramos uma reflexão fundamental para pensar o conceito de indústria cultural e feminismo hoje, especialmente sob o regime de monetização da atenção presente nas redes sociais: a ideia de que até mesmo a crítica à indústria cultural será consumida através dela — e é isso que importa para o sistema. Um de seus efeitos ideológicos mais graves é reduzir o conceito de liberdade à liberdade de consumir, um pilar central na suposta defesa das “liberdades de expressão” das plataformas digitais. Se a indústria cultural reproduz formas capitalistas de dominação interseccional, ela também incorpora sua própria autocrítica. É justamente nesse ponto que precisamos de Adorno para compreender esse processo. Em outras palavras, o problema não é simplesmente criticar a assimilação da crítica pela indústria cultural, mas sim a própria existência desse aparato, que hoje, mais do que nunca, se tornou uma segunda natureza em nossa sociedade.
Por fim, vale destacar que um dos grandes méritos do conceito de indústria cultural reside em sua capacidade de questionar a própria natureza do que constitui o “tempo livre”. Essa questão é de extrema importância para o feminismo contemporâneo. Afinal, o que é — e o que poderia ser — tempo livre para as mulheres? Em meio à crescente privatização da reprodução social — que recai de forma desproporcional sobre populações feminilizadas vulneráveis —, à precarização do trabalho e ao esmaecimento das fronteiras entre trabalho e “lazer” digital (uma forma de entretenimento que muitas vezes gera mais sofrimento psicológico e adoecimento do que qualquer outra coisa), tudo isto imposto pelas plataformas digitais, a questão do tempo livre hoje ocupado pela indústria cultural, assim como a defesa de sua existência enquanto algo genuinamente livre, é mais urgente do que nunca. E, para isso, o feminismo não pode prescindir da teoria crítica — assim como esta, por sua vez, depende do feminismo para enfrentar os impasses do presente.
Esta é uma versão editada da palestra proferida na abertura do XIV Seminario Internacional de la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica, “Género, sexualidad y capitalismo en la teoría crítica de la sociedad”, em 24 de novembro de 2024, na Universidade Complutense de Madrid.
Referências
ADORNO, T. W. (2023): “Brief na Erich Fromm. 16.11.1937”, in: T. W. ADORNO and M. HORKHEIMER, Briefwechsel 1927-1937, Band I, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 359-345.
ADORNO, T. W. (1997): “Freizeit”, in: Gesammelte Schriften, Bd. 10.2. Kulturkritik und Gesellschaft II: Eingriffe/Stichworte, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 645-655.
ADORNO, T.W. and HORKHEIMER, M. (1969): Dialektik der Aufklärung: Philosophische Fragmente,Frankfurt am Main: Fischer Verlag.
BUTLER, J. (1999): Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New York: Routledge.
DALLA COSTA, M. (1975): “A General Strike”, in: All Work and No Pay: Women, Housework and the Wages, Due, Falling Wall Press, 70-73.
FEDERICI, S. (2021): Patriarchy of the Wage: Notes on Marx, Gender, and Feminism, Oakland, CA: PM Press.
LUKÁCS, G. (1977): Geschichte und Klassenbewußtsein, GLW Band 2, Berlin: Luchterhand
WILLIS, S. (1991): A Primer for Daily Life. London: Routledge.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras

