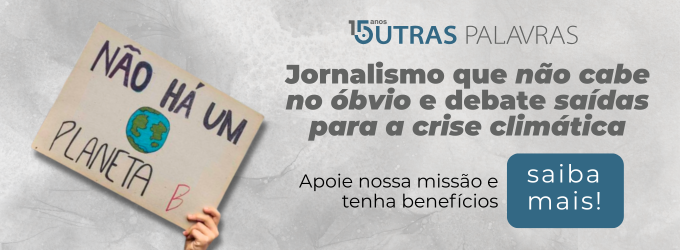Saúde e desenvolvimento: hora de mudar o rumo
País voltou a apostar no Complexo Econômico Industrial da Saúde, mas as políticas do governo falham em garantir a soberania sanitária. Como fazê-lo? Romper com a austeridade fiscal, investir na engenharia reversa e fortalecer parcerias com o Sul Global
Publicado 23/10/2025 às 22:59 - Atualizado 26/12/2025 às 10:10

Nos últimos meses, as ações governamentais relacionadas ao Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS) voltaram a ocupar o noticiário. Na sexta-feira passada (17), a Fiocruz assinou um novo acordo de produção de vacinas com uma empresa indiana. Antes, em julho, o Brasil retomou a produção de insulina em território nacional, em um arranjo que envolve uma parceria com a Índia e um entendimento com a China. Além disso, frente ao “tarifaço” de Donald Trump, a bandeira da soberania – neste caso, da soberania sanitária – se tornou absolutamente incontornável no cenário político.
Apesar de conquistas pontuais como as recentemente noticiadas, não é segredo que as ações ligadas ao CEIS caminham a passos mais lentos que o esperado e que o necessário, tendo em vista o caráter estratégico da iniciativa frente às incertezas geopolíticas, o risco de novas pandemias e o dever do Estado de garantir o direito à saúde da população. Para estudiosos do assunto, a ausência de medidas estruturais mais ousadas, além de uma política fiscal condizente, fazem parte do quadro que impede maiores avanços.
Neste tema, a revista Trabalho, Educação e Saúde, ligada à Escola Politécnica em Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz), lançou o dossiê “Complexo Econômico-Industrial da Saúde: desenvolvimento e dependência?”, buscando disseminar “perspectivas de entendimento e crítica ainda pouco presentes no debate público sobre o assunto”. Autores do texto-base do dossiê, os sanitaristas Paulo Henrique de Almeida Rodrigues (UERJ), Roberta Dorneles (UFRGS) e Arthur Lobo (UERJ) indicaram em entrevista ao Outra Saúde o que veem como fragilidades da política do CEIS, a exemplo do foco nas chamadas Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs).
Os autores também sugerem um leque de ações para dar novo fôlego à superação da dependência no setor saúde – notavelmente, a reforma da legislação de propriedade intelectual e a aposta na engenharia reversa e na pesquisa de base, bem como maior foco nas parcerias com o Sul Global e a América Latina. “A conjuntura internacional está clamando por uma postura mais ativa, mais soberana e mais ousada, mas o governo continua com uma política excessivamente cautelosa. A pandemia mostrou a vulnerabilidade da maior parte dos países do mundo, e a indústria da saúde no Brasil ainda não é tão robusta quanto poderia ser”, defende Lobo.
O que é o Complexo Econômico-Industrial da Saúde
A luta pela soberania sanitária e pelo desenvolvimento de uma indústria da saúde, que promova uma maior autossuficiência do Brasil neste campo, possui uma longa história. Em texto do ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão publicado neste boletim, é possível conferir os principais episódios desse processo, que remete aos tempos de Oswaldo Cruz na República Velha.
No entanto, a introdução do conceito de Complexo Econômico-Industrial da Saúde nas ações de Estado e o desenho das iniciativas atualmente em vigor remontam principalmente à década de 2000, em meio à passagem do próprio Temporão pela pasta. Naquele momento, surgiu o Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde (GECIS), com a missão de promover medidas e ações concretas referentes “à estratégia de desenvolvimento do Governo Federal para a área da saúde, segundo as diretrizes das políticas nacionais de fortalecimento do complexo produtivo e de inovação em saúde”, segundo o Decreto nº 11.578/2008 que o criou.
Baseando-se em diretrizes como o “estímulo ao uso do poder de compra do Sistema Único de Saúde para favorecer a produção, a inovação e a competitividade da indústria nacional”, o Grupo Executivo ajudou a transformar em política de Estado a ideia-força de que o setor público deve capitanear a industrialização da saúde. Sustenta essa proposta o raciocínio de que os ganhos não se restringem ao SUS – também envolvem o crescimento econômico e a geração de empregos dignos. Saúde e desenvolvimento transformam-se em um binômio inseparável, defende-se.
Em artigo de 2018, Temporão e o economista Carlos Gadelha, que em suas investigações acadêmicas deram os contornos da conceituação do CEIS, indicam que no centro da estratégia estão as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs). Como explica a Sectics e já cobriu Outra Saúde, as PDPs são acordos entre empresas privadas (estrangeiras ou nacionais) e instituições públicas em que, ao final de um período de produção conjunta, serão repassados os conhecimentos necessários para a fabricação nacional de um determinado produto farmacêutico. Em tese, a transferência de tecnologia deve cumprir com as tarefas de assegurar o fornecimento do fármaco ao SUS, reduzir os gastos da Saúde com a importação de insumos e fortalecer a complexidade produtiva da indústria brasileira.
Durante as presidências de Michel Temer e Jair Bolsonaro, boa parte da estrutura institucional dessas políticas foi desmontada e os esforços de industrialização da saúde foram paralisados, em consonância com os retrocessos neoliberais generalizados que marcaram esse período.
Só em 2023, com o retorno de Lula à presidência, é que ressurgiu o Grupo Executivo do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (GECEIS) para “reduzir a vulnerabilidade tecnológica do SUS”, “estimular a produção e a inovação nacional em modelo que favoreça a cooperação regional e global” e “aperfeiçoar o uso do poder de compra do Estado, para impulsionar a produção e a inovação direcionada à saúde”, entre outras diretrizes. Naquele mesmo ano, o CEIS se tornou um dos seis eixos do Nova Indústria Brasil, a política industrial do governo Lula 3. A medida buscava sinalizar que a industrialização da saúde se tornara uma parte integrante dos planos de desenvolvimento econômico, e não uma ação setorial.
No entanto, a volta do CEIS aos planos do Estado não foi acompanhada de outras mudanças estruturais que poderiam garantir resultados mais robustos para a soberania sanitária do Brasil, defendem os autores do texto-base do dossiê da revista Trabalho, Educação e Saúde. Em seu artigo, bem como em sua entrevista ao Outra Saúde, eles relacionam algumas dessas mudanças.
A maior beneficiada, defende Roberta Dorneles, seria a população: “A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) mostra consistentemente que os gastos com medicamentos tomam uma parte enorme dos recursos das famílias. Além disso, estamos vivendo recorrentes situações de desabastecimento de medicamentos específicos no país. Muitas vezes, não são nem medicamentos monopolizados, inclusive alguns têm patentes expiradas há décadas, mas simplesmente não os fabricamos. Especialmente com os laboratórios oficiais, nós temos capacidade produtiva para fazer esses insumos, é preciso vontade política para realizar isso”.

Seriam as PDPs o melhor instrumento?
Sua primeira crítica se refere à eficácia das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo como principal instrumento do CEIS. Desde o surgimento das PDPs, o déficit na balança comercial da saúde – algo que as Parcerias deveriam combater – continuou crescendo.
Chegou a 10 bilhões de dólares no setor de fármacos e biofármacos, segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e a 20 bilhões de reais nos insumos farmacêuticos ativos (IFAs), de acordo com Luciana Santos, atual ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação. O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, também afirmou no ano passado que a Saúde representa a 2ª maior parte do déficit comercial do Brasil.
“Do ponto de vista prático, se olharmos para o desenho da balança comercial brasileira para o setor farmacêutico, as PDPs não romperam com o déficit. Já estamos caminhando para duas décadas dessa política e seguimos com um déficit crescente na balança comercial da Saúde. Algumas PDPs específicas tiveram impacto na redução dos gastos federais com medicamentos, mas não muito além disso”, ressalta a farmacêutica Roberta Dorneles, que é coordenadora do curso de Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
De conteúdo sigiloso, os contratos com empresas farmacêuticas que dão base às PDPs também são alvo de crítica dos autores do dossiê. “Enquanto a transferência de tecnologia não se completa, as PDPs oferecem às empresas um monopólio em um dos maiores mercados de medicamentos no mundo, que é o Brasil. Além disso, muitas vezes ela se completa quando a patente já está caduca ou às vésperas de acabar. A redução dos custos de produção, muitas vezes, não acontece. Sem falar no fato de que são poucas as PDPs que chegam na fase 4, que é a fase final, quando ocorre a transferência completa”, conta Arthur Lobo.
A informação pode ser conferida no Painel das PDPs, disponível no portal do Ministério da Saúde, onde há maiores detalhes sobre as parcerias ativas e extintas. Opiniões similares sobre os problemas destes contratos já foram expostas (1, 2) por outros nomes da área ouvidos por Outra Saúde, como Eloan Pinheiro, química e ex-diretora de Farmanguinhos, e Susana van der Ploeg, advogada e coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual (GTPI).
O exemplo do dolutegravir, um medicamento utilizado no tratamento do HIV que é objeto de uma PDP ativa com a farmacêutica GSK/ViiV, é particularmente ilustrativo. O contrato entre Farmanguinhos e a corporação estrangeira se estenderá até depois do fim da patente do remédio no Brasil – e, enquanto não se conclui, o Brasil paga cerca de 4 reais pela unidade do fármaco, enquanto o preço no Fundo Estratégico da OPAS é de 20 centavos, vinte vezes menor. Ou seja, os gastos de Estado não parecem estar sendo reduzidos o suficiente. Um problema similar ocorreu com o sofosbuvir, medicamento de hepatite.
Além disso, outro limite das PDPs apontado pelos pesquisadores é que, em algum nível, elas desestimulam o desenvolvimento autóctone de tecnologias de saúde. “Ao fim, não promovemos desenvolvimento tecnológico, apenas aprendemos a receita dos outros”, resume Roberta.
“É uma opção, como diz o André Gunder Frank, de desenvolvimento do subdesenvolvimento”, complementa Paulo Henrique Rodrigues, referindo-se ao economista e sociólogo de origem alemã considerado um dos criadores da Teoria Marxista da Dependência.

Apostar na engenharia reversa?
Na visão dos entrevistados, um plano de ação mais condizente com as urgentes necessidades de maior autossuficiência no campo da saúde, além da garantia de acesso a medicamentos e vacinas para a população, envolveria uma série de pontos.
Um primeiro passo seria a opção por uma estratégia focada na engenharia reversa de medicamentos e outros insumos prioritários para o país. Trata-se de uma proposta de confronto. Mas o país já possui histórico relevante nesta seara. Nos anos 1990, o Brasil investiu na produção local de medicamentos antirretrovirais em Farmanguinhos por meio da engenharia reversa, tendo êxito em seu objetivo de questionar os altos preços impostos pela Big Pharma. Já em 2007, quando o país fez o licenciamento compulsório (“quebrou a patente”) do remédio para HIV efavirenz – em medida histórica da gestão de Temporão no MS que não mais se repetiu – a versão genérica do fármaco foi fabricada mediante a engenharia reversa.
Através de intensas pesquisas, o país poderia se propor a aprender as rotas da fabricação de medicamentos que considere estratégicos. Não há sempre garantia de êxito mas, nos casos de sucesso, se rompe o monopólio das grandes corporações do Norte. Mesmo quando não se chegar a um resultado satisfatório para os objetivos imediatos, a experiência contribuirá para o desenvolvimento da ciência e pesquisa autóctones através do conhecimento acumulado – uma característica essencial da aposta na pesquisa de base, que também pode estimular o desenvolvimento de novos medicamentos nacionais.
Uma medida necessária para viabilizar a reorientação rumo à engenharia reversa seria a flexibilização das proteções à propriedade intelectual das grandes empresas farmacêuticas, facilitando a introdução de genéricos e reduzindo os gastos nacionais com pagamento de royalties, um pilar da dependência brasileira neste setor. (Trata-se de caminho tomado pela Índia ainda nos anos 1960, como já contou Outra Saúde em série de matérias).
Para isso, os autores defendem a revogação da Lei de Patentes atualmente em vigor, que o então senador Darcy Ribeiro denunciou, à época de sua aprovação, que “entregava nosso futuro de mãos atadas à exploração primeiro-mundista”. Promulgada na presidência de FHC, a legislação de propriedade intelectual brasileira concede benesses excessivas aos titulares de patentes, que em sua maioria são empresas do exterior.
No Brasil, há dez vezes mais patentes de medicamentos em nome de estrangeiros do que registros por laboratórios nacionais, segundo a Plataforma de Dados de Patenteamento do Setor Farmacêutico. “Nós temos uma legislação patentária mais atrasada que o Acordo TRIPS. Se não revertermos essa lei de propriedade intelectual, seguiremos amarrando o potencial de produção local no nosso país”, critica Roberta Dorneles.
Para levar adiante essa proposta, destacam os pesquisadores, também será preciso formar e empregar com qualidade recursos humanos que se especializam no desenvolvimento de fármacos e na engenharia reversa, garantindo o financiamento de universidades e centros de pesquisa e também promovendo vagas no setor público para esses quadros. “É preciso formar mais químicos, engenheiros químicos e farmacêuticos, para que eles façam pesquisa e desenvolvimento na área”, defende o professor da UERJ Paulo Henrique Rodrigues.
Os laboratórios oficiais seriam peça central dessa estratégia, sejam eles federais ou ligados aos governos estaduais. Com as honrosas exceções da Fiocruz e do Butantan, eles amargam a subutilização, que desperdiça seu potencial.
“Hoje eles estão bastante sucateados pela austeridade, mas é possível promover um uso estratégico dessas ferramentas. Um caminho seria fazer os laboratórios estaduais produzirem aquilo que o setor privado não acha interessante fazer – como genéricos para doenças negligenciadas, doenças tropicais. Outro, seria o de equipá-los para produzir IFAs, porque assim se cria uma base para futuramente ampliar a produção nacional de medicamentos”, opina Arthur Lobo.
“No Rio de Janeiro, nós temos o Instituto Vital Brasil, com uma infraestrutura enorme, mas subutilizado, produzindo em uma escala muito menor do que poderia. Praticamente abandonado pelo governo do Estado, apesar de ter sido importante na produção de antirretrovirais e ter entrado na política de PDPs”, exemplifica Paulo Henrique Rodrigues.
O estímulo à pesquisa de base seria beneficiado pelo fato de que já existe uma infraestrutura para operacionalizá-la, reforça Lobo: “A gente tem um conjunto de instituições fundamentais para o desenvolvimento de inovação – a Embrapii, a Finep, o BNDES, o próprio Ministério da Saúde, os laboratórios estaduais. É um ecossistema cuja capacidade deveria ser potencializada com investimentos, mas que hoje acaba apostando em uma estratégia que não rompe nem com o elemento mais básico da dependência, que é a dependência comercial”.

Parcerias com o Sul Global
Ainda que os recém-assinados acordos para a produção de insulina e vacinas envolvam China e Índia, vale notar que esta não foi a principal face da política brasileira para a indústria da saúde nas últimas décadas. Historicamente, as PDPs e outras parcerias privilegiaram os entendimentos com grandes corporações do Norte Global, sublinham os sanitaristas.
“Em sua grande maioria, as empresas com quem se firmou PDPs ao longo da história são europeias e estadunidenses. Do ponto de vista geopolítico, é preciso olhar cada vez mais para as empresas chinesas e indianas, que são dois grandes players internacionais dentro do setor farmoquímico, com quem podemos estabelecer acordos”, diz Arthur Lobo.
As vantagens são múltiplas, eles argumentam. O maior equilíbrio de poder entre os países pode garantir condições mais favoráveis (e rápidas) de transferência de tecnologia e também maior transparência nos contratos, em contraste com os termos desvantajosos que costumam ser firmados com as empresas ocidentais.
Contudo, ainda que os gigantes do BRICS ofereçam vantagens imediatas devido à sua expertise e infraestrutura já consolidadas no setor farmacêutico, não são os únicos parceiros possíveis. O país pode aproveitar esta política para fortalecer suas relações com seus vizinhos imediatos e outros países do Sul Global. “Os investimentos no setor industrial brasileiro podem servir para a integração latino-americana também”, a partir da fabricação de produtos que atendam às necessidades do continente e não só do Brasil, exemplifica Lobo.
Caso as PDPs não deixem de ser a coluna vertebral da política do CEIS, já seria um avanço que passassem a ser prioritariamente firmadas com parceiros do Sul Global. No entanto, os estudiosos provocam: e se os acordos de cooperação científica e tecnológica na saúde com essas nações se concentrassem na pesquisa de base e na engenharia reversa para a produção de genéricos? Potencialmente, eles defendem, os ganhos seriam ainda maiores. “A engenharia reversa, inclusive, foi muito empregada por Índia e China para chegar no atual estágio de suas indústrias farmacêuticas”, lembra Rodrigues.

Impossível sem outra política fiscal
Desde a retomada da política, o Governo Federal periodicamente anunciou o repasse de recursos a projetos do CEIS – seja por meio do Nova Indústria Brasil ou do PAC Saúde. Contudo, o conjunto de medidas propostas pelos sanitaristas entrevistados envolveria, necessariamente, uma ampliação ainda mais significativa do investimento público na industrialização da saúde, eles frisam.
Afinal, se a soberania sanitária possui um caráter estratégico para o país, a política econômica do Estado deve demonstrar essa importância, não impondo travas ao investimento público. Nesse sentido, o grupo de pesquisadores aponta que seria indispensável acabar com os instrumentos de restrição dos gastos, a exemplo do Arcabouço Fiscal, que dificultam a missão de garantir o direito à saúde da população.
“Dizer que a política não pode estar limitada pela economia não significa que defendemos um voluntarismo, que o país simplesmente pode tudo. O que estamos falando é que o Brasil tem um conjunto de instituições, experiências e profissionais. É preciso investir mais, mas já temos uma capacidade para aproveitar a situação internacional favorável. No mínimo, é preciso que o Arcabouço Fiscal abra uma exceção para os investimentos”, defende Arthur Lobo.
Outros fatores conjunturais, como a reativação do Complexo Petroquímico da Petrobras em Itaboraí (RJ), podem ajudar a oferecer o impulso decisivo para a indústria farmoquímica nacional deslanchar e o país dar passos decisivos contra a dependência, apontam os entrevistados.
O sanitarista e doutor pela UERJ completa: “Esse é um tipo de investimento estatal que é fundamental para o Brasil enfrentar o que se imagina que será um século de pandemias e mesmo de guerras. Isso precisa ter um caráter emergencial, ser uma ação que garante a soberania do país”.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras