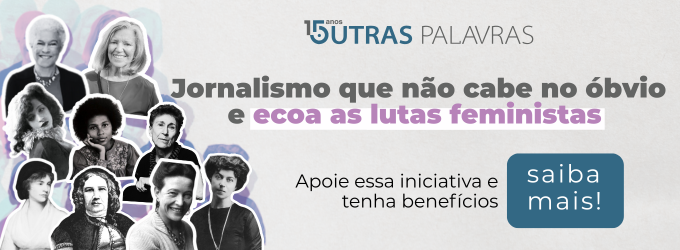Por uma saúde enraizada na Amazônia
Entre omissões institucionais e práticas de resistência, estudo revela como modelo biomédico de atendimento marginaliza saberes tradicionais e amplia desigualdades. Como o SUS pode construir pontes com as comunidades dos territórios amazônicos?
Publicado 22/08/2025 às 10:37 - Atualizado 17/12/2025 às 18:22

A realização da COP-30, em Belém do Pará, recoloca a Amazônia no centro das discussões globais sobre clima e preservação ambiental. A maior floresta tropical do planeta não é apenas decisiva para o equilíbrio climático, mas também abriga povos indígenas e comunidades tradicionais que têm sido, historicamente, os mais eficazes guardiões do território. Ao proteger a floresta, esses grupos preservam conhecimentos agrícolas, pesqueiros e medicinais ancestrais que oferecem alternativas concretas à degradação ambiental. No entanto, a relação entre saúde, floresta e saberes tradicionais ainda recebe pouca atenção no debate público e nas políticas do SUS, especialmente no campo da Atenção Especializada.
Às vésperas da COP-30, torna-se urgente refletir sobre como a saúde se conecta com a floresta e de que maneira os sistemas formais de cuidado dialogam — ou deixam de dialogar — com conhecimentos produzidos ao longo de séculos por povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e outros grupos amazônicos. Essa reflexão não é apenas conceitual: ela pode revelar caminhos para superar limitações históricas da política de saúde brasileira, especialmente nas regiões mais vulnerabilizadas.
Um estudo conduzido pelo Observatório de Políticas Públicas de Saúde/SUS, do Laboratório de Saúde Coletiva (LASCOL), da Unifesp, em parceria com o Ministério da Saúde, chamado “Cartografia da Atenção Especializada no Brasil”, investigou a situação da Atenção Especializada Ambulatorial e buscou identificar práticas inovadoras de cuidado. Os pesquisadores de campo trabalharam em parceria com usuários, gestores e trabalhadores da saúde na construção do conhecimento que visa apoiar a implementação da Política Nacional de Atenção Especializada (PNAES), instituída em 2023. Por meio de encontros presenciais, registros em diários cartográficos (que revelam percepções, afetos e dinâmicas locais) e de produtos gravados, como entrevistas, seminários e rodas de conversa, foi possível construir um retrato vivo e situado dos desafios da Atenção Especializada no SUS em todo o Brasil.
Ao analisar os nove estados da Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), a pesquisa revelou disputas profundas sobre o que é saúde, como se define doença e quais práticas são consideradas legítimas. Essas divergências moldam tanto a formulação das políticas quanto a experiência concreta de quem busca atendimento.
A política de saúde na região carrega um apagamento sistemático dos saberes tradicionais, pois o modelo biomédico-hospitalocêntrico frequentemente desautoriza epistemologias e práticas que não se enquadram em seu referencial técnico-científico. Na prática, isso significa que, à medida que gestores e profissionais de saúde reforçam o conhecimento biomédico como saber dominante na produção do cuidado, acabam por descartar os itinerários terapêuticos próprios das populações racializadas, periféricas, indígenas, ribeirinhas, quilombolas e migrantes.
Além disso, marcadores sociais como raça, etnia, gênero e território não são incorporados como critérios estruturantes da Atenção Especializada, de acordo com os achados da pesquisa de campo. Essa ausência reforça uma racionalidade biopolítica que governa pela escassez e administra a exclusão como política pública.
Práticas inovadoras
Os relatos de usuários evidenciam esse cenário: “a senha é a nova forma de dizer não” é uma frase que resume a percepção de que o acesso é controlado por dispositivos administrativos opacos, como filas e cadastros, que transformam pessoas em números e demandas abstratas. Para muitos, a doença não é apenas sofrimento físico, mas também experiência de abandono institucional, descaso histórico e negação do direito ao cuidado.
Essa política de saúde opera simultaneamente como campo de ausência e de invenção coletiva. De um lado, o Estado regula por fragmentar redes e silenciar sujeitos; de outro, comunidades constroem redes vivas de cuidado, modos ético-afetivos de existir e resistir no SUS. A efetivação de uma Atenção Especializada equitativa e territorializada exige deslocar-se de uma racionalidade meramente gerencial para uma política do cuidado que reconheça territórios e saberes como tecnologias legítimas.
A pesquisa também identificou experiências insurgentes que apontam para caminhos de transformação. Conselhos de saúde, coletivos locais, movimentos negros, indígenas, quilombolas, LGBTQIA+ e organizações de mulheres atuam em diversas frentes: denúncia de racismo institucional, machismo estrutural e exclusão territorial na organização da política de cuidado.
Nos Conselhos de Saúde, propõem-se protocolos específicos, inclusão de marcadores sociais e criação de agendas locais de equidade, defendendo populações vulnerabilizadas nos espaços de pactuação intergestores. ONGs, lideranças comunitárias e associações religiosas têm atuado como pontes entre os territórios e os serviços especializados, sobretudo facilitando o transporte e acolhimento cultural, apoiando mediações linguísticas e organizando agendas comunitárias de cuidado e produzindo diagnósticos e dados sobre desigualdade de acesso – especialmente em territórios negros, indígenas e ribeirinhos.
No imaginário dos usuários, saúde é mais do que acesso a procedimentos: é vínculo, presença e reconhecimento. A espera prolongada, a judicialização como último recurso e a necessidade de “conhecer alguém lá dentro” para obter atendimento revelam a lógica de um sistema que, em vez de universal, é seletivo e tecnocrático. Esse padrão não apenas limita o acesso, mas reforça desigualdades históricas, especialmente na Amazônia, onde as condições geográficas, culturais e socioeconômicas tornam o cuidado mais complexo.
Gestão pela ausência do Estado
O estudo também evidencia que, nos estados amazônicos, há uma desconexão entre diferentes níveis de gestão e entre Atenção Primária e Atenção Especializada, resultando em incomunicabilidade institucional e rupturas nos itinerários terapêuticos. Por exemplo: o hospital não comunica com a Unidade Básica de Saúde, que não comunica com os serviços de Urgência e Emergência. Essa fragmentação é agravada pela “gestão pela ausência” — estratégia na qual o poder público se retira da pactuação e do financiamento, naturalizando a precarização como efeito inevitável da falta de recursos.
Essa racionalidade transforma a clínica em protocolo, o sofrimento em estatística e o corpo em dado administrativo. Governa-se pela escassez, substituindo o direito universal ao cuidado por deferimentos técnicos que decidem quem será atendido, quando e como. Na prática, isso significa que a saúde pública se estrutura sobre a exclusão silenciosa, enquanto os sujeitos demandam reconhecimento, escuta e reparação histórica.
Diante da COP-30, a questão central que emerge é: como integrar os saberes da floresta à produção do cuidado especializado para, simultaneamente, proteger a saúde das populações e a integridade ambiental? A hegemonia do saber biomédico, sem diálogo com conhecimentos tradicionais, reduz a capacidade de resposta do sistema de saúde e ignora soluções já presentes nos territórios.
Práticas insurgentes mostram que é possível construir políticas públicas “com” e não apenas “para” os usuários, valorizando a experiência vivida como critério de legitimidade e investindo em formação intercultural. Reconhecer a legitimidade dos saberes tradicionais na Atenção Especializada não é concessão simbólica: é passo essencial para redes de cuidado mais justas, potentes e enraizadas na realidade amazônica.
A COP-30, ao trazer a Amazônia para o centro das discussões internacionais, oferece uma oportunidade para repensar a política de saúde na região, enfrentando a desconexão entre cuidado e território e abrindo espaço para um diálogo efetivo entre ciência e saberes ancestrais. Iniciativas populares, ainda que pontuais, revelam potências para uma política pública de saúde que reconheça os saberes tradicionais como parte legítima da rede de cuidados especializados.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.