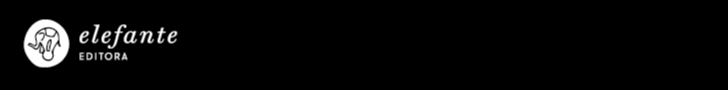Como a saúde ajudou a derrubar a ditadura
Opositores do regime militar detalham as desigualdades na Saúde Pública daquele tempo – e explicam como o movimento popular impulsionou a reforma sanitária para conquistar a democracia e o Sistema Único de Saúde para os brasileiros
Publicado 01/04/2024 às 13:13 - Atualizado 09/04/2024 às 11:05

“Saúde é democracia”. A concepção não é estranha para os familiarizados com a trajetória do movimento sanitário no Brasil, em especial nas décadas de 1970 e 1980. Porém, em tempos de alta do negacionismo e do revisionismo histórico, se a própria memória do golpe de 1º de abril de 1964 e da ditadura militar tem sido negada (ou proibida de ser lembrada), ainda menos conhecida pela população é a contribuição da Saúde para enterrar esse período de arbítrio na vida dos brasileiros.
Por um lado, o campo da Saúde deu uma destacada contribuição para a queda da ditadura, com o envolvimento de muitos de seus melhores quadros nas ações de oposição. Mas essa não foi a única via. A redemocratização, com sua explosão de participação popular na política, influiu na gestação de uma nova concepção de Saúde para o Brasil, a exemplo de episódios como a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Não à toa, a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) é considerado uma das coroações do processo que desembocou na Constituição de 1988 e na Nova República.
Ouvimos depoimentos de três profissionais da saúde, de locais diferentes do país, que participaram ativamente dessa mobilização histórica – à época, como pesquisadores, estudantes ou sindicalistas. São o luso-carioca José Gomes Temporão, sanitarista e ex-ministro da Saúde, a baiana Julieta Palmeira, assessora da Finep e ex-presidente da Bahiafarma, e a cearense Teresinha Braga, ex-presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará.
O boletim de Outra Saúde deste 1º de abril se dedica a um retrato das deficiências graves da saúde brasileira na ditadura – que não podem ser esquecidas – e, depois, das batalhas travadas para criar e fortalecer o SUS. Compartilhamos agora memórias e informações fornecidas pelos convidados sobre as lutas gêmeas por uma democracia para os brasileiros e pela estruturação do maior sistema público, gratuito e universal de Saúde do mundo: uma contribuição para a história do binômio “Saúde é democracia” no Brasil.
Como funcionava a saúde antes do SUS?
Durante a maior parte da ditadura, “saúde era para quem podia pagar”, resume Julieta Palmeira. Mas o cenário não havia sido inventado pelos governantes fardados: desde os primórdios da história do Brasil, assim se organizou a Saúde no país.
Em linhas bastante gerais, é possível dizer que os mais ricos se serviam da medicina privada e aos mais pobres, em caso de doença ou acidente, restava buscar socorro nas Santas Casas e instituições filantrópicas – sempre lotadas, e muitas vezes o atendimento não era garantido para os chamados “indigentes”. Não havia um sistema nacional que articulasse os hospitais públicos já existentes. Eram enormes as taxas de mortalidade infantil, óbitos por doenças evitáveis e de incidência dos mais diversos problemas de saúde entre a população.
A pouca assistência que vinha do Estado era organizada através da medicina previdenciária. Contudo, como o próprio nome já sugere, “só tinham esse direito os trabalhadores com carteira assinada”, ou seja, que contribuíam com a Previdência Social, explica Palmeira. Mesmo essa área era profundamente fragmentada, pois era composta por pelo menos uma dezena de institutos e caixas de aposentadorias, voltados para diferentes categorias da classe trabalhadora, que vinham sendo fundados desde os anos 1930. Contraditoriamente, essas entidades não respondiam e nem se ligavam ao Ministério da Saúde, criado em 1953.
Só em meados dos anos 1970 é que se consolidou uma semente de unificação do sistema: foi quando surgiu o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS.
O ex-ministro Temporão chegou a trabalhar no órgão e lembra que, já no final da mesma década, “ele começou a entrar em uma crise profunda, com denúncias de fraude, mau atendimento e longas filas”. Além disso, a autarquia unificou os institutos previdenciários anteriormente existentes, mas seguia restringindo o direito ao atendimento médico aos trabalhadores com carteira assinada.
Para sustentar esse complicado sistema, que na prática dividia a população em segmentos com diferentes níveis de acesso à Saúde, “havia um arcabouço de ideias que não instituíam a saúde como direito do cidadão ou dever do Estado”, sintetiza Palmeira. Quem tinha outras visões era escanteado: no episódio do Massacre de Manguinhos, em 1º de abril de 1970, a ditadura aposentou compulsoriamente 10 estudiosos, que representavam 14% de todo o quadro de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por considerar o instituto um “foco de ideias subversivas”, nas palavras do então Ministro da Saúde.
A saúde contra a ditadura
A situação de carência na época era tal que, como lembrou Teresinha Braga, nos interiores, houve até situações em que grupos de resistência armada à ditadura “se ligaram à população por meio da atenção à saúde, ajudando a enfrentar os problemas”. É o caso do “Doutor Juca”, médico e militante do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) que participou da Guerrilha do Araguaia e conquistou a simpatia dos camponeses locais, entre outros motivos, por prestar gratuitamente serviços de saúde que o Estado não oferecia naquela região.
A opção de Juca pela resistência ao regime também foi tomada por diversos outros profissionais da saúde naquele tempo. Além dos que participaram de ações armadas, também houve os que se dedicaram a articular a oposição entre a população das cidades por meio da Saúde – ainda que, inicialmente, com passos de formiguinha.
Braga, que era aluna da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) em meados dos anos 1970, recorda-se que, em um contexto de proibição dos Centros Acadêmicos e Diretórios Centrais de Estudantes, muitos estudantes com uma visão social se dedicavam a “projetos de extensão universitária que faziam atendimentos em bairros populares” de Fortaleza.
“Nessas iniciativas, nós tínhamos planos de dar mais sentido à nossa atividade profissional e responder à situação precária da saúde. Passamos a atender em locais cedidos pelas associações de moradores, e até criamos uma Associação Interbairros, que contribuiu para a retomada da organização do movimento comunitário”, diz ela. Na mesma época, experiências similares ocorriam nas principais capitais do país.
Além de projetos de extensão como esses, outra forma de resistência que surgiu nas universidades foi a produção de reflexões mais aprofundadas sobre os problemas da concepção de Saúde que estruturava as ações da ditadura.
Esse foi o caminho que trilhou José Gomes Temporão, então estudante da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). “Lá pelo quinto ano, em 1976, me aproximei muito do Sérgio Arouca, do movimento de renovação médica e do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde (Cebes). Naquele ano, o Cebes passou a publicar a revista Saúde em Debate, que começou a divulgar um pensamento crítico, um pensamento médico-social sobre a saúde brasileira”, ele conta.
“Ali, entramos na luta pela construção de um novo sistema de Saúde no Brasil, que superasse as desigualdades, iniquidades, centralizações e autoritarismos que vigiam antes do SUS”, diz o sanitarista. Nas páginas daquele periódico, assim como em outros, surgiram os questionamentos à lógica excludente, mas também antidemocrática, da Saúde tal como era organizada na ditadura militar.
Questionava-se até mesmo a própria concepção de Saúde em vigor. “Naquela época, a saúde era vista como o não-adoecimento. Tudo era a partir da chave do adoecimento, diferente do que se vê hoje, em que se pensa também nas medidas de prevenção, nas questões sociais”, elucida Julieta Palmeira.
“Na esteira da Declaração de Alma-Ata, fomos desenvolvendo propostas para o que viria a ser a atenção primária”, explica Temporão, referindo-se ao histórico documento produzido a partir das conclusões de uma Conferência promovida em 1978 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no Cazaquistão soviético. “O exemplo de Cuba também teve muita importância ao organizar seu sistema a partir da compreensão de que a Saúde precisa ser para todos”, completa Teresinha.
Longe de se fechar nos muros da academia, os pesquisadores que desenvolviam essas reflexões também se envolviam com o movimento popular de oposição – o sanitarista Sérgio Arouca, uma das mais destacadas lideranças dessa corrente de pensamento, era militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Depois da vitória da Revolução Sandinista, ele viveu alguns anos na Nicarágua, onde assessorou a implementação de algumas de suas propostas pioneiras de programas sanitários.
“Quando nós fizemos um encontro regional de experiências de medicina comunitária do Nordeste, vieram o Sérgio Arouca e o Hésio Cordeiro”, recorda Teresinha Braga. Nos encontros e simpósios promovidos às dezenas pelo pujante movimento estudantil da medicina, como atividades acadêmicas mas também políticas, o trabalho prático dos jovens que levavam Saúde à população desassistida recebia infusões da renovação teórica que estava sendo promovida no Brasil.
Lutando para implementar a reforma sanitária
A partir do início dos anos 1980, o novo impulso de organização dos movimentos populares acelerou o processo de desintegração do regime militar. Com isso, “na medida que a resistência foi se ampliando e a ditadura foi se tornando politicamente insustentável, o movimento de oposição já foi se desdobrando também em um movimento pela reforma sanitária”, conta Julieta Palmeira, que na época era aluna da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
A participação no movimento era ampla, lembra Temporão. “Reunimos acadêmicos, estudantes, pesquisadores, sanitaristas, epidemiologistas, médicos, o Cebes, o movimento de bairros, o movimento sindical e os partidos políticos” que estavam surgindo com a Abertura, cita o médico.
Essa frente levantava a bandeira “de uma nova saúde, radicalmente distinta da que existia até então, totalmente centrada na atenção especializada e hospitalar, com um Ministério da Saúde com baixa capacidade de intervenção, desvinculado das ações do Inamps”. No lugar disso, “apresentávamos para o debate novas propostas, como universalidade, participação da população no controle das políticas, equidade, descentralização e fortalecimento da capacidade pública da oferta de serviços de saúde”, diz o carioca.
Um importante registro dessas ideias está em A questão democrática na área da saúde (1976), documento assinado por Hésio Cordeiro, José Luis Fiori e Reinaldo Guimarães que “acabou se transformando num verdadeiro manifesto do movimento sanitário brasileiro”.
Além de trazer em seu nome a concepção que desembocaria no dístico “Saúde é democracia”, o escrito foi o primeiro a propor, textualmente, a criação de um sistema único de saúde no Brasil. Para Fiori, as inspirações da proposta eram o National Health System (NHS) do Reino Unido, implementado em 1945 pelo governo trabalhista de Clement Attlee, e a reforma sanitária da Itália, encabeçada por Giovanni Berlinguer, um militante proeminente do Partido Comunista Italiano (PCI) – que tinha como secretário-geral o seu irmão, Enrico Berlinguer.
Por meio da luta por essas reivindicações, “a busca pela democracia encontrou uma expressão concreta na área da Saúde”, aponta Palmeira. Assim, nas prefeituras e governos estaduais conquistados pela oposição a partir das eleições de 1982, as ideias da reforma sanitária foram sendo implementadas.
De diferentes formas, cidades como Bauru, Campinas, Londrina, Montes Claros, Niterói e Santos fizeram parte dessa “prova de fogo” das novas propostas. E elas passaram no teste: os índices de mortalidade e de incidência de várias doenças entraram em queda, além da ampliação da cobertura da população. Alguns dos resultados mais célebres remetem à figura de David Capistrano Filho, inicialmente do PCB e depois militante do Partido dos Trabalhadores (PT), que passou pelas secretarias municipais de saúde de Bauru e Santos.
Impulsionado pelos êxitos, o movimento sanitarista se lançou a uma tarefa ainda mais desafiadora: nacionalizar a abrangência dessa visão renovada da Saúde Pública. Depois de afastar de vez os generais da Presidência da República, em 1985, essa empreitada se tornou uma prioridade do processo de redemocratização, trazendo uma grande participação popular.
A 8ª Conferência Nacional de Saúde, convocada em 1986, representou um ápice desse envolvimento do povo organizado. Em contraste às anteriores, que só envolviam técnicos e autoridades, a 8ª Conferência contou com a participação dos usuários do sistema de saúde – isto é, a população em geral –, que interviu nos debates desde as etapas locais até sua conclusão, realizada de 17 a 21 de março daquele ano, em Brasília. Milhares de trabalhadores se envolveram nas discussões.
“Na 8ª Conferência Nacional de Saúde é que foi aprovada a defesa da criação de um Sistema Único de Saúde”, explica Teresinha Braga. Em resposta, o governo de José Sarney criou o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS). Esse foi uma espécie de antecessor do SUS, que acelerou a integração do Inamps, a medicina previdenciária do tempo da ditadura, com as novas iniciativas municipais e estaduais, rumo a um sistema único.
“O SUDS foi uma iniciativa no governo Sarney que alguns consideram ter sido uma etapa importante para o SUS começar a se efetivar e outros consideram que foi uma reação à implementação imediata do SUS pela base municipal, tentando manter o INAMPS como instituição estratégica para o funcionamento do sistema. Não há consenso no movimento da Reforma Sanitária sobre o papel do SUDS no processo político de institucionalização do SUS”, explica a Outra Saúde o cirurgião-dentista e sanitarista Paulo Capel Narvai.
Em uma das mesas da Conferência, Sérgio Arouca proferiu um discurso que sintetizou o espírito dos trabalhos ali realizados em seu título: “Democracia é saúde”.
A criação do SUS, que mudou a face do Brasil
Nesse cenário, as discussões da Assembleia Constituinte de 1988, convocada para dar um novo ordenamento institucional ao país depois do fim do regime ditatorial, se encaminharam também para desenhar as diretrizes do que viria a ser o SUS.
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Uma rápida leitura dessas linhas do artigo 196 da Constituição Federal, que abre a seção Da Saúde, não deixa dúvidas: nelas, estão contidas várias bandeiras da reforma sanitária.
Os parlamentares abraçaram essas pautas não apenas por sua eficácia, que já estava sendo comprovada, mas pela envergadura cada vez mais ampla do movimento que as defendia. A população já não aceitaria mais a Saúde como estava e já tinha em mãos uma proposta alternativa. Entidades como o recém-fundado Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), que tinha como primeiro presidente o militante comunista e secretário da Saúde de Recife Paulo Dantas, também compunham essa pressão. Para ajudar a dar corpo à nova legislação, muitos sanitaristas trabalharam na Assembleia Constituinte.
Dois anos depois, a Lei nº 8.080/1990 regulamentou de vez o Sistema Único de Saúde, dando corpo à sua organização e seu funcionamento, que os entrevistados consideram que mudou a face do país desde então. Os múltiplos programas de vacinação com cobertura praticamente universal, o volume colossal de cirurgias e transplantes realizados anualmente, a implementação de postos de saúde nas regiões mais vulneráveis e de difícil acesso e a criação de programas voltados à saúde de populações específicas como os indígenas são todas conquistas que, em sua visão, seriam impossíveis sem um sistema público, gratuito e de acesso universal como este.
Os dados estão aí para comprovar o que postulam os convidados: desde então, mais de 100 milhões de pessoas passaram a ser cobertas pela Saúde Pública, foram eliminadas doenças como o sarampo e a pólio e taxas como a de mortalidade infantil caíram vertiginosamente.
“Foi um processo em que saúde e democracia se encontraram num projeto civilizatório – ou emancipatório, como dizia Sérgio Arouca – de equidade, fraternidade, universalidade e de Saúde como direito, não como mercadoria”, define Temporão.
É verdade que também houve – e há – muitos desafios. “O problema cotidiano do subfinanciamento e o próprio fato de que ainda se admite, no Brasil, a saúde privada” são alguns deles, aponta Teresinha. A ainda insuficiente valorização dos profissionais de saúde e a falta de maior autonomia na produção de medicamentos também são gargalos históricos a serem resolvidos, complementa Julieta Palmeira.
Ainda assim, há uma certeza de que não podemos abrir mão do SUS, como quiseram governos como o de Jair Bolsonaro, que ensaiou sua substituição por vouchers na saúde privada. “Antes da criação do SUS, até pela situação da democracia brasileira na época, nós tínhamos uma visão muito atrasada, medíocre, do que era a Saúde, e isso se expressava nas ações do Estado brasileiro”, diz Julieta.
Por isso, eles apontam, também não é mais possível abrir mão da democracia que foi conquistada. Não é coincidência que os nostálgicos da ditadura militar sejam hoje os principais inimigos do caráter público da Saúde – e é preciso lembrar constantemente, como aparentam não querer até mesmo autoridades do Governo Federal, que a ditadura significou muito arbítrio, mas também miséria generalizada e abandono da população pelo Estado.
“Você precisa da democracia para fazer avançar a universalização, a equidade, a redução das desigualdades regionais e os determinantes sociais da saúde. Ao ampliar o enfoque estrutural sobre a saúde, você estará sempre fortalecendo a democracia”, conclui Temporão.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.