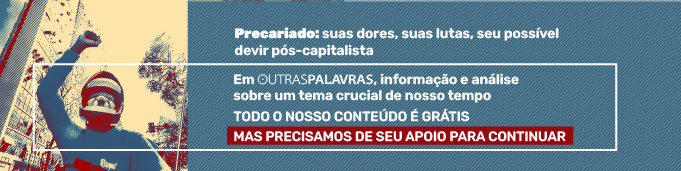As guerrilhas travadas pelo Conhecimento Livre
Informação é poder — e, para assegurá-lo, os capitalistas privatizam a produção de saberes. Mas, em todo o mundo, ações radicais confrontam as catracas das patentes e direitos autorais. Mostram que Ciência e Cultura devem bens do Comum
Publicado 16/06/2021 às 19:46 - Atualizado 22/06/2021 às 08:14

O texto a seguir é o capítulo 7 de:O Comum entre nós — da cultura digital à democracia do século XXI
De Rodrigo Savazoni, pelas Edições SESC
Outras Palavras publicará a obra em capítulos semanais e organizará diálogos quinzenais com o autor, a respeito do tema. Leia o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto capítulos da série
Aos 26 anos, Aaron Swartz era uma referência para os ativistas do conhecimento livre. Garoto prodígio, ainda quando adolescente trabalhou no desenvolvimento do código da tecnologia RSS (Really Simple Syndication), sem o qual não existiria a web 2.0, e foi um dos criadores do modelo das licenças Creative Commons, bem como de seu modelo de implantação online. Esteve sempre envolvido em projetos de reconhecimento internacional: foi um dos sócios da plataforma de mídia social Reddit; contribuiu para a Wikipedia, para o código do Internet Archive, para o desenvolvimento do sistema de criptografia TOR, entre inúmeras outras iniciativas. De 2010 a 2012 intensificou seu ativismo político, tendo sido uma das lideranças contra o projeto de lei S.O.P.A (Stop Online Piracy Act), que poderia culminar com a destruição da internet como a conhecemos. Em uma de suas ações hacktivistas, Swartz, que se tornara aluno da Universidade de Harvard, usou a rede do MIT para baixar arquivos da plataforma proprietária de conhecimento científico JSTOR. Sua ação foi descoberta, e ele sofreu um processo desproporcional movido pelo Departamento de Justiça norte-americano por fraude computacional. Lutou contra a perseguição, mas no dia 13 de janeiro de 2013, pressionado pelas circunstâncias, foi encontrado morto em sua casa.
Swartz é um mártir do conhecimento livre. E sua história, que pode ser mais bem conhecida por meio do documentário O menino da internet (1), uma demonstração de que o comum atingiu o centro da disputa sobre o futuro da humanidade. Quando acoplou um dispositivo à rede do MIT para fazer o download da base de dados da JSTOR, o que Swartz queria era evidenciar a lógica perniciosa do sistema proprietário de divulgação científica, que submete os cientistas e o público ao pagamento de valores abusivos para acessar os documentos (papers) que a comunidade da ciência produz. Entre 1986 e 2004, como informa Bollier, “as editoras de revistas acadêmicas aumentaram as tarifas para as universidades estadunidenses 273%” (2). No Guerilla Open Access Manifesto, escrito na Itália, em 2008, Swartz chamou esse sistema de pagamento obrigatório de “escandaloso e inaceitável” por gerar um regime desigual de acesso à informação, garantindo que as bibliotecas digitalizadas estejam à disposição da elite do Primeiro Mundo, mas não das crianças do Sul global.
Informação é poder. Mas, como todo poder, há aqueles que querem mantê-lo para si mesmos. A herança inteira do mundo científico e cultural, publicada ao longo dos séculos em livros e revistas, é cada vez mais digitalizada e trancada por um punhado de corporações privadas. Quer ler os jornais apresentando os resultados mais famosos das ciências? Você vai precisar enviar enormes quantias para editoras como a Reed Elsevier (3).
No texto, Swartz nos convoca ao contra-ataque, por meio da desobediência civil e da afirmação de que uma lei injusta não deve ser respeitada, filiando-se à longa tradição libertária estadunidense que tem no pensador do século XIX Henry David Thoreau seu grande inspirador.
Aqueles com acesso a esses recursos – estudantes, bibliotecários, cientistas – a vocês foi dado um privilégio. Vocês começam a se alimentar nesse banquete de conhecimento, enquanto o resto do mundo está bloqueado. Mas vocês não precisam – na verdade, moralmente, não podem – manter este privilégio para vocês mesmos. Vocês têm um dever de compartilhar isso com o mundo. E vocês têm que negociar senhas com colegas, preencher pedidos de download para amigos. Enquanto isso, aqueles que foram bloqueados não estão em pé de braços cruzados. Vocês vêm se esgueirando através de buracos e escalando cercas, libertando as informações trancadas pelos editores e as compartilhando com seus amigos. Mas toda essa ação se passa no escuro, num escondido subsolo. É chamada de roubo ou pirataria, como se compartilhar uma riqueza de conhecimentos fosse o equivalente moral a saquear um navio e assassinar sua tripulação. Mas compartilhar não é imoral – é um imperativo moral. Apenas aqueles cegos pela ganância iriam negar a deixar um amigo fazer uma cópia. (…) Precisamos levar informação, onde quer que ela esteja armazenada, fazer nossas cópias e compartilhá- la com o mundo. Precisamos levar material que está protegido por direitos autorais e adicioná-lo ao arquivo. Precisamos comprar bancos de dados secretos e colocá-los na Web. Precisamos baixar revistas científicas e subi-las para redes de compartilhamento de arquivos. Precisamos lutar pela Guerilla Open Access (4).
A oposição radical à privatização do conhecimento colocou Swartz na mira das autoridades dos Estados Unidos. Seu caso foi usado como exemplo pela justiça. Sua morte, no entanto, não será em vão. A reação convocada por ele no manifesto que escreveu aos 21 anos segue avançando, por intermédio do movimento pelo Acesso Aberto (Open Access – OA). Afinal, como nos explicam Hardt e Negri, o capitalismo se transformou, e as restrições à circulação do conhecimento tornaram-se artificiais. Nem o mais alto dos diques conseguirá conter o dilúvio. A espiral viral, para usar um termo cunhado por Bollier, ainda inoculará sua benéfica medicina no coração do sistema.
É importante entender que, do ponto de vista do comum, a narrativa- padrão da liberdade econômica está completamente invertida. Segundo essa narrativa, a propriedade privada é o lugar da liberdade (assim como da eficiência, da disciplina e da inovação), posicionando-se contra o controle público. Agora, pelo contrário, o comum é o lugar da liberdade e da inovação – livre acesso, livre uso, livre expressão, livre interação – que se posiciona contra o controle privado, ou seja, o controle exercido pela propriedade privada, suas estruturas jurídicas e suas forças de mercado. Nesse contexto, a liberdade só pode ser a liberdade do comum (5).
Do acesso aberto à ciência aberta. No primeiro semestre de 2016, sob presidência da Holanda, a União Europeia promoveu uma série de ações para mudar o modelo de divulgação científica do continente e adotar o acesso aberto (6). Durante a Open Science Conference, em Amsterdã, líderes do bloco anunciaram a criação de uma nuvem (European Open Science Cloud) para compartilhamento de conhecimento científico. A meta é que 1,7 milhão de pesquisadores/cientistas e 70 milhões de profissionais da ciência e tecnologia possam armazenar, compartilhar e reutilizar informações nesse ambiente. O fundamental desse episódio, porém, não é somente a plataforma em si, mas a obrigatoriedade estabelecida de que todos os projetos do Horizon 2020 (o maior programa europeu de fomento à pesquisa e à inovação, com investimentos de 80 bilhões de euros) tenham de ser compartilhados livremente.
Com o lançamento do documento Amsterdam Call for Action on Open Science, a UE parece ter efetivamente adotado o modelo de ciência aberta para todas as publicações e pesquisas, oferecendo acesso integral a todos os documentos científicos produzidos no continente. A estratégia, segundo a versão oficial, envolve três prioridades para a área de ciência e inovação: inovação aberta, ciência aberta e abertura para o mundo. Em declaração oficial registrada pelo The Guardian, o português Carlos Moedas, comissário europeu, disse que todos os documentos científicos publicados na Europa devem ser de livre acesso até 2020 (7). Não se trata de uma lei, mas de uma orientação. Uma decisão como essa, porém, pode mudar todo o ecossistema científico global, impulsionando outras instituições a adotar o mesmo modelo.
A Europa está em busca de evitar o que o professor de direito Michael Heller chamou de tragédia dos anticomuns. Basicamente, a tese de Heller é a de que o ecossistema de patentes se complexificou de tal maneira a ponto de gerar uma fragmentação do direito de propriedade, o que tem resultado na impossibilidade de que os pesquisadores acessem os detentores dos direitos para obter autorização para a utilização de um determinado conhecimento patenteado. A privatização do conhecimento, no entanto, vem sendo combatida há muitos anos, por vários atores. Um caso de enorme sucesso e que não poderia faltar neste capítulo é o da plataforma PLOS, que foi lançada em 2001 pelo prêmio Nobel Harold Varmus, o professor de Stanford Patrick O. Brown e o professor da Universidade da Califórnia Michael Eisen. A PLOS foi pioneira na criação de revistas científicas gratuitas, baseadas em licenças abertas. A organização atua principalmente na área de ciências biomédicas, e suas revistas ganharam enorme reputação ao longo dos anos. Em um manifesto publicado em 2001, seus criadores diziam acreditar que “o registro permanente e o arquivo de pesquisas e ideias científicas não devem ser de propriedade de editores, nem controlado por eles, mas deve pertencer ao público e estar disponível livremente através de uma biblioteca pública online internacional” (8). No Brasil, dois exemplos vitoriosos são o do Portal de Revistas da Universidade de São Paulo, que em 2014 reunia 129 periódicos que permitiram 5,7 milhões de downloads de textos, e o projeto de banco de teses e dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict). Embora publicações como Science e Nature, extremamente relevantes, mas construídas sobre um império proprietário, ainda sejam referência no sistema científico global, as alternativas de acesso aberto se mostram cada vez mais relevantes, realizando assim o sonho de Swartz de vivermos em uma terra de liberdade.
Memória, ancestralidade e oralidade
Alguns anos atrás, uma conversa com o artista Alfredo Bello, também conhecido como DJ Tudo, despertou-me para algo óbvio, mas nem sempre evidente. Bello tem um selo musical independente, chamado Mundo Melhor, e ao longo dos últimos vinte anos vem fazendo um trabalho de inventariar gêneros e ritmos da cultura popular. Como o poeta modernista Mário de Andrade fez no início do século XX, ele realiza missões para o interior do país munido de câmeras e gravadores, registrando a tradição oral brasileira, como o maracatu rural de Cruzeiro do Forte, de Recife, o congado de Mogi das Cruzes, São Paulo, ou uma banda de pife – uma flauta popular – do agreste pernambucano. As músicas colhidas lhe inspiram novas composições, nas quais ele funde a sonoridade ancestral com grooves contemporâneos.
Naquele papo, consequência das transformações ocasionadas pela internet, eu falava sobre direitos autorais, licenças livres, música livre e a necessidade de um modelo jurídico e econômico que pudesse garantir os direitos dos artistas e do público ao mesmo tempo. Bello, então, me contestou narrando um diálogo que teve – se minha memória não falha – com um mestre de maracatu. Ele teria pedido permissão para usar um trecho da música do artista popular em uma nova composição e ouviu como resposta que a permissão não lhe poderia ser concedida porque a música não tinha dono, era de todos os povos, portanto dele também. A única exigência do mestre ao DJ foi que fizesse o som chegar a mais e mais pessoas, e essa é uma das premissas de seu trabalho. Bello, então, alertou- me para o fato de que grande parte da arte popular continua fora de qualquer sistema ocidental de documentação e reprodução e, por isso, está fora do domínio do direito e da economia. O “óbvio pouco evidente” a que me referia acima é que a arte popular é de todos e de ninguém. É vivida entre todos. É um manancial infinito de generosidade e conexão entre os seres humanos. Não pertence a governos. Muito menos ao mercado. Pertence ao conhecimento imemorial que atravessa o tempo e o espaço. É um comum, que se expressa não somente como canto ou batuque, mas como dança, moda, hábitos, que são ao mesmo tempo tecido e discurso das comunidades em conexão com suas terras – seja o sertão, a floresta ou a praia. A diversidade cultural, nesse sentido, é também diversidade natural. Formas singulares de vida, como diz o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro.
Memória, ancestralidade e oralidade são bens comuns. Mas a linguagem escrita – esse invento de 5 mil anos – também é um bem comum, como afirmam Hardt e Negri.
E, no entanto, tanta coisa em nosso mundo é comum, de livre acesso a todos e desenvolvida através de participação ativa. A linguagem, por exemplo, como os afetos e os gestos, é quase sempre comum; com efeito, se a linguagem se tornasse privada ou pública – vale dizer, se grande parte de nossas palavras, frases ou enunciados fosse submetida à propriedade privada ou à autoridade pública –, a linguagem perderia seu poder de expressão, criatividade e comunicação (9).
Cito a dupla de filósofos e logo penso no escritor argentino Jorge Luis Borges. Em específico na entrevista que ele concedeu a Fernando Sorrentino na qual diz ser um “erro supor que os contos populares, por serem anônimos, não tenham sido elaborados […]. Podemos dizer que um conto popular é uma obra muito mais trabalhada do que um poema de Donne ou Góngora, porque ao invés de ser trabalhada por uma pessoa, foi por centenas” (10) . Extrapolando Borges, podemos dizer que a literatura em sua origem é um bem comum e o autor é só um detalhe. Outro salto. Não deixa de ser curioso pensar que as licenças de direitos autorais flexíveis Creative Commons – como narrado no primeiro capítulo deste livro – surgiram como reação a uma reforma da legislação de propriedade intelectual que buscou estender o tempo de proteção das “criações” da Walt Disney. Justamente dessa empresa de entretenimento cujo trabalho principal foi promover o cercamento da cultura popular e dos contos populares – como Branca de Neve, Cinderela, A Bela e a Fera. Histórias de criação coletiva que se alimentaram livremente da imaginação humana e foram transformadas em produtos culturais altamente rentáveis. Volto a Bollier, é preciso dizer com todas as letras: “os cercamentos não são só apropriações de recursos, mas também ataques contras as comunidades e suas práticas de criação de comum” (11).
Afirmar a cultura – coletiva e ancestral, obra de muitas mentes e mãos, oral ou escrita – como um comum é tarefa urgente. Mas a preservação desse patrimônio não se dará por meio da construção de redomas protetoras contra as trocas com o contemporâneo. Estamos todas e todos dentro da rede, inclusive índios, quilombolas e ribeirinhos. O único caminho possível é promover a aproximação da cultura popular com as tecnologias digitais livres.
“Em meio à insanidade, há sementes de um novo mundo que cresce, pedaços emergentes de uma nova riqueza comum, baseada em tecnologias redesenhadas ecologicamente, que revitalizam as comunidades humanas e as conexões entre a vida humana e os processos naturais”, observa Carlsson (12). É isso que estão fazendo os ativistas criadores do projeto Baobáxia, uma plataforma distribuída de comunicação que funciona online e offline e foi pensada para operar em comunidades rurais com nenhuma ou pouca internet, em específico nos quilombos. O nome dessa rede é uma contração das palavras baobá e galáxia. Baobá é uma árvore de origem africana que, por viver muito tempo, é um símbolo da ancestralidade e costuma representar o lugar da memória. Nessa metáfora, a árvore milenar se conecta às estrelas produzindo uma rede transcendente. A arquitetura do Baobáxia é feita de nós (múcua – o fruto do baobá) baseados em computadores conectados na comunidade, usados para fazer o upload da produção cultural local (áudio, vídeo, texto e imagens), criando um acervo digital multimídia. Os arquivos que se encontram em cada uma das múcuas pode ser sincronizado com outras de igual característica, e isso pode ocorrer de forma online – pela internet – ou offline. No caso da conexão offline, ela é feita por pessoas que circulam pelas comunidades, polinizando umas às outras. O objetivo dessa ação é que as memórias sejam partilhadas e que os nós possam vir a guardar todo o conhecimento distribuído produzido pelos diferentes povos que integram a rede.
O projeto da Baobáxia foi criado pela Rede Mocambos, que conecta os territórios quilombolas às redes digitais. A Mocambos surgiu e foi estimulada pelo programa Cultura Viva, criado pelo Ministério da Cultura do Brasil em 2004, que tinha como principal ação os Pontos de Cultura. Esse programa foi formulado com base no princípio de que, embora indutor dos processos culturais, o Estado não é o agente responsável por “fazer cultura”. Cabe a ele, em última instância, criar condições e mecanismos para que seus cidadãos não apenas acessem bens simbólicos, como também produzam e veiculem seus próprios bens culturais, movimentando seu contexto local como sujeitos ativos desses processos. Podemos dizer que o espírito do programa era reconhecer, proteger e estimular o comum, embora isso não estivesse enunciado dessa maneira.
Na prática, era um edital público, uma chamada nacional dirigida a organizações da sociedade civil. As exigências do governo eram que a organização tivesse pelo menos dois anos de existência, com histórico comprovado na área da cultura, e estivesse localizada em áreas com pouca oferta de serviços públicos, envolvendo populações pobres ou em situação de vulnerabilidade social. Sua grande novidade, quando surgiu, era superar de uma vez por todas a ideia de “levar” cultura à periferia, passando a reconhecer os atores culturais existentes como protagonistas de seus territórios. As organizações vencedoras passavam a ser chamadas de Pontos de Cultura e recebiam R$ 5 mil por três anos para realizar um plano de ação que elas mesmas propunham. Em seu início, o programa previa que em cada Ponto de Cultura houvesse um estúdio digital multimídia, com computadores conectados à internet e equipados com software livre, além de equipamentos para captação e edição de áudio e vídeo – câmera, filmadora, mesa de som etc.
No período de Gilberto Gil, Juca Ferreira e Célio Turino no Ministério da Cultura (2003-2010), o programa contemplou cerca de 3 mil iniciativas. É considerado por muitos pesquisadores e analistas o maior projeto mundial público de cultura livre. Atualmente, é regulado por uma lei federal e virou referência para políticas públicas de estados e municípios do Brasil e da América Latina. Mas talvez seu principal legado tenha sido a conformação da rede de Cultura Viva Comunitária, uma articulação político-cultural translocal de coletivos e pessoas que atuam comunitariamente afirmando a cultura e suas manifestações como um bem universal. Como observa o colombiano Jorge Melguizo, no artigo “Cultura Viva Comunitaria: convivencia para el bien común”, o norte dessa articulação é a construção do bem comum. Ele faz essa afirmação com base na declaração final do 1° Congresso Latino-americano de Cultura Viva Comunitária, realizado em La Paz, na Bolívia, em 2013: “A cultura viva comunitária só pode ser entendida como parte de processos integrais de cuidado de nossos bens comuns, de economia solidária, de igualdade na distribuição da riqueza e na construção de democracias deliberativas, participativas e comunitárias” (13).
Alguns desses exemplos, recolhidos da experiência brasileira e latino- americana, são relativamente recentes. Mas como nos lembra Lewis Hyde, em seu livro Common as Air, a ideia de tratar a cultura e o conhecimento como um comum é muito antiga. Ele recorda que o filósofo pré-socrático Heráclito, de dois milênios e meio atrás, defendia que “o conhecimento é comum a todos”; também evoca um personagem do poema medieval inglês de William Langland que afirma que o conhecimento, como a água, o ar e o fogo, foi dado pelo Pai do Céu para ser compartilhado em comum; e, por fim, cita uma carta do fundador da democracia americana, Thomas Jefferson, que durante sua presidência escreveu: “o campo do conhecimento é a propriedade comum da humanidade”. Em seu livro, Hyde dedica um capítulo para defender que essa visão de Jefferson é um elemento essencial da democracia americana. Segundo ele, quando o assunto dos “pais fundadores” era a circulação do conhecimento, três aspectos destacavam-se como os mais importantes: “preparar o terreno para o autogoverno democrático; encorajar comunidades criativas; e possibilitar aos cidadãos se tornarem atores públicos, simultaneamente cívicos e criativos” (14).
Arte e inovação cidadã para o comum
O Casco é um centro cultural localizado em Utrecht, na Holanda, que depois de 25 anos de atividades artísticas resolveu se assumir como uma organização que trabalha para o comum. Em 2014 eles iniciaram um processo de reformulação sob o nome de “Compondo os Comuns”, que contou com vários experimentos artísticos e investigativos (exposições, residências, debates, publicações, reuniões). Em maio de 2017, uma exposição em sua sede, reunindo vídeos, painéis e excertos das conversas que ocorreram durante os três anos de pesquisa, celebrou a transformação do antigo Casco – Escritório de Arte, Design e Teoria em Instituto de Arte Casco: Trabalhando para os Comuns. Um projeto aberto de desaprendizagem e reaprendizagem, que resultou, por exemplo, em mudanças na dinâmica de cuidado com o espaço. Entre as medidas adotadas e documentadas, os membros do Casco passaram a limpar eles mesmos, todas as segundas-feiras, o escritório, colocando em evidência o lugar do trabalho reprodutivo em uma comunidade que pretende experienciar outras formas de viver e criar. Para eles, afinal, praticar o comum é mais do que gerir um conjunto de recursos em comunidade. Trata-se de adotar um outro sistema de valores e de governança, e de assumir a defesa de relações contra-hegemônicas.
Inspirados nos textos da teórica Silvia Federici, da cantora e compositora Nina Simone e da intelectual e feminista negra bell hooks, criaram uma nova personagem, Nina Bell Federici, que se tornou a “padroeira” desse processo de imaginação radical. O trabalho do novo instituto se baseia em três pilares: ação (experimentos artísticos para a mudança social), corpo (mobilizar forças organizacionais invisíveis) e Kirakira (espaço de imaginação radical). Essas dimensões substituem as práticas tradicionais de centros culturais (exposição, educação e publicação) e apontam para um futuro experimental. Como nos relata a ativista Georgia Nicolau, em texto para o blog do Instituto Procomum (15), na exposição de “reinauguração” da sede, documentos organizacionais como atas de reuniões, orçamentos, cronogramas e listas de tarefas produzidos durante a fase de transição foram inspiração para artistas criarem colagens, painéis e instalações.
Nos últimos anos, tenho acompanhado a emergência de uma série de iniciativas de arte, ciência e tecnologia que optaram por trabalhar pela afirmação, preservação e invenção dos comuns. Não pretendo aqui catalogar essas iniciativas, mas destacar que nelas reside um projeto inovador de construção social contemporânea. Mais que analisá-las, acredito que o momento é de descrevê-las. O caso do Casco é emblemático por se tratar de um centro cultural com um quarto de século de existência que propôs readaptar-se em movimento e desenvolveu uma ampla pesquisa para isso, comunicando-a de forma radicalmente transparente. Em Saragoça, na Espanha, temos o caso de La Colaboradora, um espaço público comunal de trabalho coletivo (coworking) que, por meio do uso de uma moeda de tempo, organiza o sistema de partilha de sua comunidade; em Medellín, na Colômbia, o Exploratório, localizado dentro do Parque Explora, é um híbrido de ateliê de produção colaborativa e ambiente distribuído de formação que fomenta a cultura livre; na Serrinha do Alambari, zona rural do estado do Rio de Janeiro, a artista e pesquisadora Cinthia Mendonça articula uma estação rural de arte e tecnologia que vem trabalhando em projetos socioambientais e na valorização do protagonismo feminino (EncontrADA).
Muitos desses projetos se identificam com o conceito de laboratórios cidadãos. Um fenômeno de certa maneira indefinível (porque existem muitas experiências díspares que se posicionam debaixo desse guarda-chuva), mas que é cria do encontro entre a ciência cidadã e a cultura livre. Nesses laboratórios, como afirmam Antonio Lafuente, Henrique Parra e Mariano Fressoli no artigo que abre um dossiê sobre essa temática publicado pela revista Liinc, do Ibict, mobiliza-se a “imensa quantidade de conhecimento” necessária para sustentar o comum. Assim, sempre que houver um bem comum em construção, haverá necessidade de um laboratório cidadão. Ao fim e ao cabo, constituem-se como espaços de “convivialidade”, onde podemos aprender a “viver juntos, de forma aberta, sustentável, democrática e autogestionária […]. Se o tradicional laboratório acadêmico é um ambiente com rígidas fronteiras com o mundo exterior, o laboratório cidadão é marcado pelo atravessamento de mundos e pelo esforço de permanente abertura. É um espaço-tempo onde a experiência seja possível, e onde a produção de conhecimento se enriqueça com as singularidades envolvidas” (16).
Em minha concepção, esses laboratórios podem ser definidos como uma rede de pessoas, iniciativas e infraestruturas, articuladas para a produção de bens comuns, em um determinado território. Uma rede de arte e ciência que permite o desenvolvimento de um projeto estratégico no qual a cidadania se reúne para gerar conhecimentos úteis à humanidade, formatando um novo “processo social de convencimento” que faz da inovação cidadã um discurso tão potente quanto aquele que os laboratórios privados, públicos ou universitários oferecem à sociedade. Se o laboratório hegemônico é o laboratório que fabrica o conhecimento que depois será formatado em patentes e inovações a serviço das grandes empresas, o laboratório cidadão é o laboratório que produz alternativas para a criação de novas formas de viver, ou seja, um ambiente-rede de criatividade contra-hegemônica, que até poderia ser visto como uma espécie de contralaboratório. Afinal, o que está em disputa, nesta discussão, é onde e como se produz a verdade. Não se trata de forma alguma de negar o conhecimento tradicional, mas de incorporar a multiplicidade de visões produzidas por mulheres, negros, indígenas, gays, lésbicas, transexuais e deficientes. As vozes que no jargão da sociedade civil reconhecemos como sub-representadas: a maioria dos habitantes do planeta.
Encerro este capítulo, então, com um último exemplo, o dos Laboratórios de Inovação Cidadã (Labic), promovidos pela Secretaria Geral Ibero-Americana (Segib). Baseados em uma metodologia desenvolvida pelo MediaLab-Prado, da Espanha, aperfeiçoada pela equipe de inovação cidadã desse organismo multilateral, o Labic se constrói a partir de duas convocatórias internacionais: a primeira dedicada a selecionar dez propostas de protótipos, os quais terão de ser desenvolvidos em duas semanas de imersão; a segunda destinada a escolher dez colaboradores para cada um desses projetos-protótipos, o que é feito pela equipe organizadora e pelos promotores. O resultado é a formação de equipes interdisciplinares e heterogêneas de trabalho, que integram uma comunidade criativa transnacional de mais de cem pessoas. Nos meses que antecedem o Labic, essas equipes trabalham remotamente, até que todos se reúnem na etapa presencial para viver uma grande aventura baseada na cooperação, na colaboração, na criação coletiva e em trocas intensas de conhecimento. A equipe de apoio do Labic é formada por uma coordenação geral, quatro mentores (que atuam em parceria com as equipes dos projetos), mediadores tecnológicos e mediadores comunitários (que fazem a interface com o território local). Uma das contribuições dessa metodologia de ciência e inovação cidadã é colocar em contato diferentes pessoas, com diferentes conhecimentos, em torno de problemas comuns. Não é, obviamente, um método único. Mas funciona. O que não é pouco. Vivi a experiência de ser mentor de dois Labics e, em minha opinião, o mais interessante é ver a travessia entre o ponto de partida do projeto e o seu resultado final. O risco sempre ronda o processo. Por isso, em um laboratório cidadão a documentação é muito importante. Espera-se que nele sejam produzidos protótipos, de preferência que possam continuar em desenvolvimento ao fim dos quinze dias. Mas também se espera que o projeto conte uma história, primordialmente a história de como essa tecnologia desenvolvida pode resolver problemas contemporâneos. Um Labic, afinal, não é somente um espaço de criação tecnológica, mas de geração de conhecimento livre e de afirmação do comum.
Notas
(1) Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=uAe_9qBxwOc>, acesso em: 13 mar. 2018. 2 David Bollier, op. cit., p. 120.
(2) Aaron Swartz, Guerilla Open Access Manifesto, tradução disponível em: <http://baixacultura.org/aaron- swartz-e-o-manifesto-da-guerrilla-open-access/>, acesso em: 20 abr. 2018.
(3) Ibidem.
(4) Michael Hardt; Antonio Negri, Bem-estar comum, op. cit., p. 312.
(5) Estamos falando da prática de prover o acesso gratuito e online para informações científicas que podem ser reutilizadas. Há duas grandes categorias: peer-reviewed scientific publications, pesquisas e artigos publicados em periódicos acadêmicos e revisados pelos pares; scientific research data, informações e pesquisas que ainda não foram publicadas, consolidadas, ou seja, o material bruto das pesquisas científicas.
(6) Disponível em: <https://www.theguardian.com/science/2016/may/28/eu-ministers-2020-target-free- access-scientific-papers>, acesso em: 20 abr. 2018.
(7) “We believe, however, that the permanent, archival record of scientific research and ideas should neither be owned nor controlled by publishers, but should belong to the public, and should be freely available through an international online public library.” PLOS Open Letter, set. 2001. Disponível em:<https://www.plos.org/open-letter>, acesso em: 15 maio 2018.
(8) Michael Hardt; Antonio Negri, Bem-estar comum, op. cit., p. 9.
(9) Jorge Luis Borges apud Fernando Sorrentino (org.), Jorge Luis Borges: sete conversas com Fernando Sorrentino, Rio de Janeiro: Azougue, 2009, p. 22.
(10) David Bollier, op. cit., p. 46. 12 Chris Carlsson, op. cit., p. 28.
(11) Disponível em: <https://www.scribd.com/document/147877286/Conclusiones-Final-4>, acesso em: 20 abr. 2018.
(12) “…laying the ground for democratic self-governance, encouraging creative community, and enabling citizens to become public actors, both civic and creative”. Lewis Hyde, Common as Air: Revolution, Art, and Ownership, Nova York: Farrar, Straus & Giroux, 2010, p.77.
(13) Cf. Georgia Nicolau, “Estética, imaginação e experimentação: a arte é comum (Dossiê IASC 2017)”, Instituto Procomum. Disponível em: <http://www.procomum.org/2017/08/04/estetica-imaginacao- e-experimentacao-a-arte-e-comum-dossie-iasc-2017-uma-viagem-pelo-comum/>, acesso em: 23 maio 2018.
(14) Henrique Parra; Mariano Fressoli; Antonio Lafuente, “Ciência cidadã e laboratórios cidadãos”, Liinc em Revista, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, p. 1-6, maio 2017, pp. 2-5. Disponível em: <http://revista.ibict.br/liinc/issue/view/244>, acesso em: 20 abr. 2018.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras