O Método Jacarta: outra história da Guerra Fria
No momento em que EUA atiçam novo confronto global, livro recupera a imposição de seu poder, nos anos 1960 e 70. Por trás de uma fachada de democracia e direitos humanos, massacres e ditaduras. Como paradigmas, a Indonésia e o Brasil
Publicado 07/07/2022 às 19:26 - Atualizado 07/07/2022 às 19:39

MAIS
> Este texto é a apresentação do livro:
O Método Jacarta, de Vincent Bevins, publicado pela Autonomia Literária, parceira editorial de Outras Palavras.
> Quem colabora com nosso jornalismo tem desconto de 25% no site da editora.
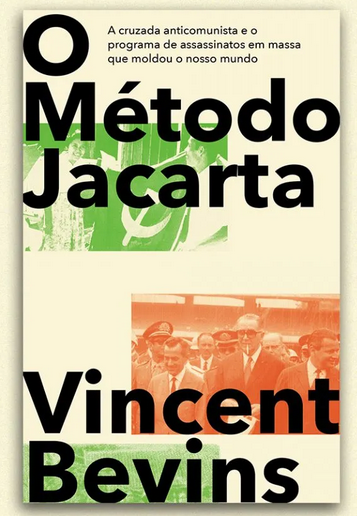
Em maio de 1962, a jovem Ing Giok Tan entra em um barco velho e enferrujado em Jacarta, na Indonésia. Seu país – um dos maiores do mundo – estava sendo arrastado para a batalha global entre capitalismo e comunismo, e seus pais decidiram fugir das terríveis consequências que isso vinha causando a famílias como a dela. Eles embarcaram para o Brasil depois de ouvirem outros indonésios que já haviam feito o mesmo percurso dizerem que o país oferecia liberdade, oportunidades e uma trégua do conflito. Mesmo assim, a verdade é que eles não sabiam quase nada sobre o país. O Brasil era apenas uma ideia distante. Em um trajeto de 45 dias repleto de ansiedade e enjoo, eles passaram por Cingapura, cruzaram o Oceano Índico até as Ilhas Maurício, passaram por Moçambique, contornaram a África do Sul e atravessaram todo o Oceano Atlântico até chegarem a São Paulo, a maior cidade da América do Sul.
Se a família achou que podia escapar da violência da Guerra Fria, estava bastante enganada. Dois anos após sua chegada, os militares derrubaram a jovem democracia brasileira e estabeleceram uma ditadura violenta. Depois disso, os novos imigrantes indonésios no Brasil receberam mensagens de casa descrevendo as cenas mais chocantes que se possa imaginar, uma explosão de violência tão assustadora que, só de relatar a cena, muita gente já começava a surtar, duvidando da própria sanidade. E, no entanto, era tudo verdade. Na esteira desse massacre apocalíptico na Indonésia, uma jovem nação repleta de corpos mutilados emergiu como um dos aliados mais confiáveis de Washington e, em seguida, praticamente desapareceu da história. O que aconteceu no Brasil em 1964 e na Indonésia em 1965 pode representar as duas vitórias mais importantes da Guerra Fria para o lado vencedor – ou seja, para os Estados Unidos e para o sistema econômico global vigente até hoje. Isso faz com que esses dois eventos estejam entre os mais importantes de um processo que fundamentalmente moldou a vida de quase todo mundo. Ambos os países eram independentes, se posicionavam em um lugar intermediário entre as superpotências capitalista e comunista do mundo, mas foram decisivamente lançados ao campo estadunidense em meados dos anos 1960. Funcionários governamentais em Washington e jornalistas em Nova York certamente compreenderam o quão significativos esses eventos foram naquele tempo. Sabiam que a Indonésia – hoje o quarto país mais populoso do mundo – consistia em um prêmio bem mais importante do que o Vietnã jamais poderia ter sido. Em apenas alguns meses, o establishment da política externa dos Estados Unidos conseguiu lá aquilo que fracassou em dez sangrentos anos de guerra na Indochina.
E a ditadura no Brasil – hoje o quinto país mais populoso do mundo [de acordo com a Wikipédia, agora o sexto, ultrapassado pelo Pasquistão] – cumpriu um papel crucial em empurrar o restante da América do Sul para o grupo de nações anticomunistas e apoiadoras de Washington. Em ambos os países, a União Soviética quase não se envolveu.
O mais chocante e mais importante neste livro é que ambos os eventos levaram à criação de uma monstruosa rede internacional de extermínio – isto é, o assassinato em massa sistemático de civis – em muitos outros países, que desempenhou um papel fundamental na construção do mundo em que nós vivemos hoje.
A menos que você seja indonésio ou um especialista no assunto, a maioria das pessoas sabe muito pouco a respeito da Indonésia e praticamente nada acerca do que aconteceu entre 1965 e 1966 naquele arquipélago. A Indonésia segue como uma grande lacuna em nosso conhecimento geral coletivo, mesmo entre pessoas que sabem razoavelmente sobre a Crise dos Mísseis de Cuba ou a Guerra da Coreia, ou Pol Pot, ou podem facilmente recitar alguns fatos básicos sobre o país mais populoso do mundo (China), o segundo mais populoso (Índia), ou mesmo o sexto e o sétimo (Paquistão e Nigéria) [de acordo com a Wikédia, o Paquistão já é o quinto]. Mesmo entre os jornalistas internacionais, são poucas as pessoas que sabem que a Indonésia é o maior país de maioria muçulmana e, menos ainda, que abrigava em 1965 o maior Partido Comunista do mundo fora da União Soviética e da China.
A verdade sobre a violência em 1965 e 1966 permaneceu oculta por décadas. A ditadura estabelecida em seu rastro mentiu ao mundo, e os sobreviventes foram presos ou permaneceram muito assustados para poder falar. É somente graças aos esforços de heroicos ativistas indonésios e pesquisadores dedicados mundo afora que podemos agora contar a história. Documentos divulgados recentemente em Washington têm contribuído muito, ainda que parte do que ocorreu continue envolta em mistério.
A Indonésia, provavelmente, sumiu do mapa porque os eventos de 1965 e 1966 foram um sucesso total para Washington. Nenhum soldado estadunidense morreu, e ninguém nos Estados Unidos jamais esteve em perigo. Apesar de os líderes indonésios nas décadas de 1950 e 1960 cumprirem um papel internacional significativo, depois de 1966 o país parou totalmente de causar problemas. Sei, depois de treze anos de trabalho como jornalista e correspondente estrangeiro, que países longínquos, estáveis e confiavelmente pró-Estados Unidos não chegam às manchetes. E pessoalmente, após examinar a documentação e passar tanto tempo com as pessoas que viveram esses eventos, vim a formar outra teoria profundamente perturbadora sobre por que tais episódios foram esquecidos. Temo que a verdade sobre o que aconteceu contradiga com muita força nossa ideia do que foi a Guerra Fria, do que significa ser americano ou de como a globalização aconteceu, que se tornou mais fácil simplesmente ignorá-la.
Este livro é para aqueles que não têm qualquer conhecimento especial da Indonésia, ou do Brasil, ou do Chile, ou da Guatemala, ou da Guerra Fria, embora eu espere que minhas entrevistas, pesquisas em arquivos e abordagem global possam ter trazido algumas descobertas possivelmente interessantes também aos especialistas. Acima de tudo, espero que esta história alcance as pessoas que almejam saber como a violência e a guerra contra o comunismo modificaram intimamente nossas vidas hoje – esteja você sentado no Rio de Janeiro, em Bali, em Nova York ou em Lagos.
Dois acontecimentos na minha própria vida me convenceram de que os eventos de meados dos anos 1960 ainda seguem entre nós. Que seus fantasmas, de certa forma, ainda assombram o mundo.
Em 2016, eu trabalhava em meu sexto e último ano como correspondente do Los Angeles Times no Brasil, e estava andando pelos corredores do Congresso, em Brasília. Os deputados da quarta maior democracia do mundo se preparavam para votar a destituição da presidente Dilma Rousseff, uma ex-guerrilheira de esquerda e a primeira mulher presidente do país. No final do corredor, reconheci um congressista de extrema-direita sem importância, mas bastante franco, chamado Jair Bolsonaro. Então, eu o abordei para uma rápida entrevista. Era amplamente conhecido naquele momento que os adversários políticos estavam tentando derrubar a presidente Dilma Rousseff por um tecnicismo, e que aqueles que organizaram sua derrubada eram bem mais culpados de corrupção do que ela. Como eu era um jornalista estrangeiro, perguntei a Bolsonaro se ele se preocupava que a comunidade internacional pudesse duvidar da legitimidade do governo mais conservador que foi criado para substituí-la, tendo em vista os procedimentos questionáveis daquele dia. As respostas que ele me deu pareciam tão distantes da política mainstream, uma ressurreição tão completa dos fantasmas da Guerra Fria, que eu nem usei a entrevista. Ele disse: “O mundo vai comemorar o que fazemos hoje porque estamos impedindo que o Brasil se transforme em outra Coreia do Norte”.
Isso era um absurdo. Dilma era uma liderança de centro-esquerda cujo governo havia sido, de alguma forma, bastante amigável com as grandes empresas.
Poucos momentos depois, Bolsonaro se aproximou do microfone na Câmara dos Deputados e fez uma declaração que abalou o país. Ele dedicou seu voto a favor do impeachment a Carlos Alberto Brilhante Ustra, coronel que supervisionou a tortura da própria Dilma durante a ditadura no Brasil. Tratava-se de uma provocação ultrajante, uma tentativa de reabilitar o regime militar anticomunista do país e de se tornar o símbolo nacional da oposição de extrema-direita a tudo.
Quando entrevistei Dilma Rousseff algumas semanas depois, enquanto ela esperava pela votação final que a tiraria do cargo, nossa conversa invariavelmente se voltou ao papel dos Estados Unidos nos assuntos brasileiros. Levando em conta as muitas vezes e formas pelas quais Washington interviera para derrubar governos na América do Sul, muitos de seus apoiadores se perguntaram se a CIA estava por trás disso também. Ela negou: era o resultado da dinâmica interna do Brasil. Todavia, à sua maneira, isso é ainda pior: a ditadura do Brasil havia feito a transição para o tipo de democracia que poderia remover com segurança qualquer um – como Dilma Rousseff ou Lula – que as elites políticas ou econômicas considerassem uma ameaça a seus interesses, e podiam evocar os demônios da Guerra Fria para lutar por eles quando quisessem.
Sabemos agora até que ponto a jogada de Bolsonaro foi bem-sucedida. Quando ele foi eleito presidente, dois anos depois, eu estava no Rio. Imediatamente, eclodiram brigas nas ruas. Homens grandes e fortes começaram a berrar com mulheres tatuadas que usavam adesivos de apoio ao candidato rival, gritando: “Comunistas! Fora! Comunistas! Fora!”.
Em 2017, fui na direção exatamente oposta àquela que Ing Giok Tan e sua família haviam ido tantos anos antes. Me mudei de São Paulo para Jacarta para cobrir o Sudeste Asiático para o Washington Post. Poucos meses após minha chegada, um grupo de acadêmicos e ativistas planejou uma breve conferência para discutir os eventos de 1965. Porém, algumas pessoas estavam espalhando a acusação nas redes sociais de que esta era, na verdade, uma reunião para ressuscitar o comunismo – ainda ilegal no país, mais de cinquenta anos depois –, e uma turba se direcionou para o evento àquela noite, não muito depois de eu ter ido embora. Grupos compostos em sua maioria por homens islâmicos, agora participantes comuns em manifestações agressivas nas ruas de Jacarta, cercaram o prédio e prenderam todo mundo dentro. Minha colega de quarto, Niken, uma jovem sindicalista de Java Central, foi mantida presa lá durante a noite toda, enquanto a multidão batia nas paredes, gritando: “Esmaguem os comunistas!” e “Queimem-os vivos!”. Ela me mandou mensagens, apavorada, pedindo para eu divulgar o que estava acontecendo. Então, fiz isso pelo Twitter. Não demorou muito para que isso gerasse ameaças e acusações de que eu era comunista ou até mesmo membro do inexistente Partido Comunista da Indonésia. Eu havia me acostumado a receber exatamente esse tipo de mensagem na América do Sul. As semelhanças não eram coincidência. A paranoia em ambos os lugares pode ser atribuída a uma ruptura traumática ocorrida em meados dos anos 1960.
Entretanto, foi só depois que comecei a trabalhar neste livro, falando com especialistas, testemunhas e sobreviventes, que percebi que a importância desses dois eventos históricos era muito superior ao fato de que existe ainda um anticomunismo violento no Brasil, na Indonésia e em vários outros países, e que a Guerra Fria criou um mundo de regimes que enxergam qualquer reforma social como ameaça. Cheguei à conclusão de que o mundo inteiro, especialmente os países da Ásia, África e América Latina por onde Ing Giok navegou com sua família, foi remodelado pelas ondas que emanaram do Brasil e da Indonésia em 1964 e 1965.
Senti uma enorme responsabilidade moral de pesquisar tal história e contá-la direito. Em certo sentido, fazer isso é o resultado de mais de uma década de trabalho. Contudo, especificamente para este livro, visitei doze países e entrevistei mais de cem pessoas, em espanhol, português, inglês e indonésio. Examinei arquivos no mesmo número de línguas, conversei com historiadores de todo o mundo e trabalhei com assistentes de pesquisa de cinco países. Não contava com muitos recursos para escrever o livro, mas dei tudo o que tinha.
A violência ocorrida no Brasil, na Indonésia e em 21 outros países ao redor do mundo não foi acidental nem incidental em relação aos principais acontecimentos da história mundial. As mortes não foram “a sangue frio e desprovidas de sentido” ou apenas erros trágicos que não mudaram nada. Foi exatamente o oposto. A violência foi efetiva, parte fundamental de um processo maior. Sem uma visão completa da Guerra Fria e dos objetivos dos Estados Unidos em todo o mundo, os eventos são inacreditáveis, ininteligíveis ou muito difíceis de processar. O memorável filme O ato de matar, de Joshua Oppenheimer – e sua sequência, O peso do silêncio– quebrou a caixa-preta em torno de 1965 na Indonésia e forçou as pessoas no país e em todo o mundo a olhar dentro dela. O trabalho magistral de Oppenheimer recorre a uma abordagem de close-up extremo. Eu tomei propositadamente a abordagem oposta, afastando-me para o palco global, na tentativa de ser complementar. Espero que os espectadores desses filmes leiam este livro para ajustá-lo em seu contexto, e que os leitores assistam a esses filmes após terminarem o livro. Também tenho uma pequena dívida pessoal com Joshua por orientar minha pesquisa inicial, mas devo muito mais a indonésios e a outros historiadores, em especial a Baskara Wardaya, Febriana Firdaus e Bradley Simpson.
Para realmente contar a história desses eventos e suas repercussões – ou seja, a rede de extermínio global engendrada por eles –, decidi que era preciso tentar de alguma maneira contar a história mais ampla da Guerra Fria. Muitas vezes se esquece que o anticomunismo violento foi uma força global e que seus protagonistas trabalharam para além de fronteiras, aprendendo com sucessos e fracassos em outros lugares enquanto seu movimento ganhava força e acumulava vitórias. Para entender o que ocorreu, devemos entender tais colaborações internacionais. Esta é também a história de alguns indivíduos, alguns dos Estados Unidos, outros da Indonésia e da América Latina, que viveram esses eventos e cujas vidas foram transformadas profundamente por eles. O foco que eu escolhi, e as conexões que identifiquei, foram ditados, em certa medida, pelas pessoas que tive a sorte de conhecer e por minha própria formação e habilidade com idiomas. Porém, a meu ver, a história delas é uma história da Guerra Fria tão válida quanto qualquer outra – e certamente maior do que qualquer história da Guerra Fria que se concentra prioritariamente nos brancos estadunidenses e europeus. A história que conto aqui se baseia em informações não oficiais, no consenso formado pelos historiadores mais experientes e em testemunhos avassaladores em primeira pessoa. Confio enormemente em minhas próprias entrevistas com sobreviventes e, é claro, não pude verificar cada uma das afirmações sobre suas próprias vidas, como quais coisas sentiram, o que estavam vestindo ou a data em que foram presos. No entanto, nenhum dos detalhes que incluo contradiz os fatos estabelecidos ou a história mais ampla já revelada pelos historiadores. Para contá-la com a maior precisão possível, para ser fiel às evidências e respeitoso com quem a viveu, descobri que tinha que ser feito de um certo modo. Primeiro, a história é verdadeiramente global; cada vida na Terra é tratada como igualmente importante, e nenhuma nação ou ator é visto, a priori, como mocinho ou bandido. Em segundo lugar, todos nós já ouvimos a máxima de que “a história é escrita pelos vencedores”. Em geral, isso é, infelizmente, verdade. Contudo, essa história, por necessidade, vai confrontar essa tendência – muitas das pessoas em seu centro estão entre os maiores derrotados do século XX – e não podemos ter medo de deixar os fatos de suas vidas contradizerem as compreensões popularmente aceitas sobre a Guerra Fria no mundo anglófono, ainda que tais contradições possam ser bastante desconfortáveis para os vencedores. E, finalmente, evito especulações por completo, resistindo a qualquer impulso de tentar resolver os muitos mistérios não resolvidos por mim mesmo. É necessário aceitar que ainda há muito para sabermos. Portanto, este livro não depende de adivinhação. Nos momentos em que meus colegas e eu tropeçamos naquilo que pareciam grandes coincidências – aparentemente grandes demais, talvez – ou conexões que não podíamos explicar, paramos por aí e as discutimos; não escolhemos unicamente nossa própria teoria sobre o que as causou.
E tropeçamos certamente em algumas conexões.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras



3 comentários para "O Método Jacarta: outra história da Guerra Fria"