Cem anos sem João do Rio
Ele levou a vida de cortiços, favelas e marginalizados aos jornais. Retratou outra cidade, fora do mito de “ordem e progresso”: violenta, mas vibrante pela cultura popular. Lê-lo, até hoje, é um mergulho na alma encantadora dos brasileiros…
Publicado 26/03/2021 às 15:02 - Atualizado 26/03/2021 às 17:53

Figuras capazes de fazer peso na história, seja pela irreverência, seja pelo talento, não pululam aos montes, o tempo inteiro, como artefatos de uma produção em série. Quando surgem e apresentam ao mundo a razão pela qual vieram, invariavelmente causam a impressão de que de outro modo não poderia ser, de que aquele indivíduo, aquele sujeito em especial, quem sabe por uma combinação de elementos históricos, quem sabe por uma sucessão de acontecimentos coincidentemente convergidos, não poderia ter nascido e feito história em outra época e em outro lugar: haveria de ser ali, naquele momento, naquele contexto dado. Aparentemente, é desse modo que surgem aqueles aos quais chamamos de “geniais”.
Pelo menos, assim é que se pode falar de João Paulo Alberto Coelho Barreto, que também foi, no escoar de sua carreira jornalística, Claude, Joe, X, Godofredo Alencar, Caran D’Ache, José Antônio José e, por fim, o sofisticado, o dândi, o “Oscar Wilde” tropical,o ilustre e atípico João do Rio. Conheçamos um pouco da sua história.
Foi na Rua do Hospício (atual Buenos Aires), no Rio de Janeiro, em 1881, entre epílogos monarquistas e prelúdios republicanos, que nasceu um dos principais cronistas brasileiros do século XX. Filho de um professor de mecânica e astronomia, um modelo elucidativo da progênie positivista que ia despontando à época, e de uma mãe matrona, mulata e carioca, Paulo Barreto não teve a mesma sorte que tiveram os últimos filhos dos abastados senhores de engenho, que cedo eram enviados para o outro lado do Atlântico para lá ficarem durante anos estudando direito em universidades europeias. A ventura o estabeleceria aqui, no ardor severo dos trópicos.
Não se pode dizer, contudo, que esse fato fez de Paulo Barreto um homem menos culto, desses que viviam às margens das discussões culturais que ocorriam na agitada abertura do século XX. Muito pelo contrário. Quando o jornalismo lhe acena, através de uma oportunidade no jornal A Tribuna, Paulo Barreto retribui logo com uma crítica da peça “Casa de Boneca”, de Henrik Ibsen, manifestando desde cedo o interesse pelo teatro que o acompanharia por toda a sua vida. Em seguida, completada a maioridade, segue no campo jornalístico colaborando com publicações em A Cidade do Rio, de José do Patrocínio, periódico que já havia estampado as crônicas de Olavo Bilac. Foi nesta oportunidade, inclusive, que Paulo Barreto publicaria Impotência, ficção em que abordou, de modo reservado, mas quase que pioneiramente, no Brasil, o tema da repressão e do desejo homoerótico.

Esse contato bem-sucedido com a gazeta, porém, não faria com que o jornalismo deixasse de ser, para o Paulo Barreto de então, um meio subsidiário. Atraído pela pertinência das Relações Exteriores da segunda década republicana, foi tentar a sorte nas sendas da diplomacia, em 1902. Para o intento, dispunha de requisitos consideráveis: temperamento espirituoso, elegância nas vestimentas, inteligência, eloquência,conhecimentos em literatura, em política e em francês, além de dispor de um certo ar bourgeois e aristocrático que muito bem caía aos jovens de antigamente; detalhe decisivo era que, para mais, Paulo Barreto era gordo, mulato e, ao que se dizia, “afeminado”, características essas quase que contrárias àquelas que o Barão do Rio Branco, o austero comandante do Itamaraty, desejava para representar os Estados Unidos do Brasil mundo afora.
A rejeição, numa análise de longo prazo, foi na verdade uma daquelas típicas derrotas da vida que, tempos após, revelam-se imprevisíveis e pertinentes vitórias. É daí em diante que Paulo Barreto entraria decididamente no universo do jornalismo, carreira que abraçaria dedicadamente até o último dos seus dias. Agora, aos 22 anos de idade, 1903, enquanto colunista na Gazeta de Notícias, assinaria pela primeira vez como João do Rio, escrevendo crônicas urbanas e críticas teatrais. A sociedade carioca não tardaria a assistir a sua primeira obra de sucesso.
Com a publicação de As Religiões do Rio, em 1904, livro que reunia uma série de reportagens investigativas escritas para a Gazeta, o jornalista triunfa originalmente sobre a maioria dos autores de sua época. Tratava-se de uma verdadeira pesquisa de campo sobre as religiões existentes no Rio de Janeiro no despontar do século XX. O candomblé, a umbanda, o positivismo, o maronismo católico, o movimento evangélico, o satanismo, o judaísmo, o espiritismo: a própria população carioca não afigurava a coexistência de tantos credos numa só cidade – no Rio de Janeiro ainda por cima, a cidade sobre a qual o Cristo Redentor estende os seus braços hoje em dia. E esse estranhamento bem constata João do Rio logo na introdução do livro:
“Ao ler os grandes diários, imagina a gente que está num país essencialmente católico, onde alguns matemáticos são positivistas. Entretanto, a cidade pulula de religiões. Basta parar em qualquer esquina, interrogar. A diversidade dos cultos espantar-vos-á. São swendeborgeanos, pagãos, literários, fisiólatras, defensores de dogmas exóticos, autores de reformas da Vida, reveladores do Futuro, amantes do Diabo, bebedores de sangue, descendentes da rainha de Sabá, judeus, cismáticos, espíritas, babalaôs de Lagos, mulheres que respeitam o oceano, todos os cultos, todas as crenças, todas as forças do Susto.”
O autor fez o livro e o livro fez o autor. Raimundo Jr. Magalhães, autor da biografia intitulada A Vida Vertiginosa de João do Rio, disse que a partir dessa obra João do Rio pode ser considerado, “sem dúvida, o primeiro grande repórter brasileiro do início deste século”. E não era por menos. Um só homem embutir, num só trabalho, com brilhantismo e sem embaraços, crônica jornalística, estudo antropológico e ensaio sociológico, tudo isso num estilo literário elegante, brilhando de realidade e de impressões fantásticas, era algo que, à época, somente Euclides da Cunha havia alcançando com Os Sertões – com as devidas proporções, naturalmente.
Ainda na Gazeta de Notícias, no ano de 1907, João do Rio ganha salvo-conduto para escrever sobre tudo o que desejasse, na coluna Cinematógrapho, a qual assinava sob o pseudônimo de Joe. Críticas sociais, literárias e teatrais, crônicas, perfis de personalidades, impressões pessoais: a bem consolidada carreira que havia construído, assim como seu talento único para a escrita, havia lhe assegurado a liberdade que tão bem fazia à criatividade do autor. E foi essa mesma criatividade, fundada na inquietação e ombreada ao interesse pela temática urbana e quase que exigida pelas metamorfoses da Belle Èpoque carioca que, nas talentosas mãos do autor, se tornariam crônicas, e estas, reunidas, culminariam em outro grande sucesso do autor: A Alma Encantadora das Ruas.
Enquanto o prefeito Pereira Passos e as autoridades públicas da capital federal empreendiam a política do “bota-abaixo”, dedicando todas as forças governistas na eliminação urbana de qualquer reminiscência do “popular” para fazer do Rio uma metrópole à la française, eis que irrompe João do Rio com sua A Alma Encantadora das Ruas, iluminando o verdadeiro Rio de Janeiro em toda sua nudez, belíssimo, é claro, mas também sórdido e vulgar.
Não que quisesse a afronta pela afronta. João do Rio nunca fora um agitador.Mas se os administradores públicos diziam que no Rio havia palacetes, João do Rio lembrava que também havia favelas e cortiços, e em quantidades superiores; se diziam que havia diplomatas, lembrava que também havia malandros, prostitutas e tatuadores, também em quantidades superiores; e se diziam que havia bonança, ordem e progresso, era preciso lembrar que, nos arredores, verificava-se a existência de viciados sob o efeito narcotizante do ópio cujos corpos se moviam “como larvas de um pesadelo” e de mulheres detentas de “perfis esqueléticos de antigas belezas de calçadas, sorrisos estúpidos navalhando bocas desdentadas” e “rostos brancos de medo”.
Comprovadamente um escritor talentoso e indiscutivelmente um jornalista inovador, João do Rio é admitido na Academia Brasileira de Letras em 1910, após duas tentativas fracassadas. É ele, inclusive, quem inaugura a tradição de vestir o cobiçado “fardão”, costume continuado pelos imortais da ABL até os dias atuais.
Nos anos que se seguem, pelo menos até 1914, a vida de João do Rio é uma sucessão de glórias. Ainda trabalhando na Gazeta de Notícias, jornal que o acompanhou durante todos seus momentos de prestígio, não demoraria a alcançar o posto de diretor. Publicaria, também, diversos livros, como Os Dias Passam (1911), Vida Vertiginosa (1911), Portugal d’agora (1911) e Psicologia Urbana (1911), além do sucesso que alcançaria nos teatros cariocas com a sua peça A Bela Madame Vargas.
Em 1915 rompe com a Gazeta de Notícia e passa a emprestar seu talento ao periódico O Paiz, que já havia contado com inúmeros nomes de peso da literatura brasileira, como Joaquim Nabuco, Aluízio Azevedo, Coelho Netto e Euclides da Cunha. Nessa empreitada João do Rio inaugura a Pall Mall Rio, célebre coluna social que ganharia o apreço da elite carioca e que, lastimavelmente, daria início a um dos períodos mais frustrantes da vida do autor.
Não se sabe como, nem como e nem por que, mas a coluna foi o rastilho que reacendeu a antiga inimizade entre João do Rio e o também jornalista e membro da ABL Humberto de Campos. Por tempos a Pall Mall Rio foi o principal alvo de sátira de Humberto de Campos, que desferia seus deboches a partir da seção À maneira de Pelle Molle, uma paródia explícita à coluna de João do Rio. O antagonismo entre os autores, que tinha seus precedentes desde as tentativas de João do Rio em entrar para a Academia Brasileira de Letras, ocasionou uma verdadeira campanha difamatória da parte de Humberto de Campos, que aniquilou, impiedosamente, a reputação de João do Rio, explorando, inclusive, os rumores de homossexualidade que acompanhavam desde muito o cronista carioca. O abalo provocado pelo evento trepidou tanto a vida de João do Rio que este, consternado, partiu do Rio rumo à paz de Poços de Caldas, em Minas Gerais, para lá ficar durante um tempo.
Os anos seguintes da sua vida já não seriam tão vertiginosos quanto os de antigamente, com exceção, é claro, da sua ida à Europa em 1918, na plenitude da Primeira Guerra Mundial. João do Rio havia sido enviado à França como correspondente internacional para cobrir a conferência na qual se negociou um armistício entre os beligerantes. As observações extraídas do período em que permaneceu na Europa por cerca de 8 meses resultaria na publicação de Na Conferência de Paz, alguns anos depois.
Continuaria publicando suas crônicas e escrevendo obras sem muita relevância, especialmente no campo do teatro. Em 1921, após sofrer um infarto fulminante no miocárdio, morre tragicamente dentro de um táxi, deslizando sobre as mesmas ruas que havia descrito com tanta magistralidade em suas crônicas jornalísticas.
Atualmente, nos 100 anos de sua morte, apesar de uns poucos trabalhos acadêmicos e da tumba de bronze erguida por ordem de sua mãe, no Cemitério São João Batista, no bairro do Botafogo, a memória de João do Rio resta descuidada. Testemunha fiel de um dos períodos históricos mais relevantes para a história brasileira, os anos inicias da primeira república, além de um escritor talentosíssimo, pouco ou nada se vê em referência ao autor nos meios culturais. Numa praça em Lisboa, Portugal, país que recebeu algumas colaborações do autor em razão de parcerias firmadas com autores portugueses, há um busto erguido em memória de João do Rio; no Rio de Janeiro, terra que abraçou e sobre a qual dedicou sua pena durante quase toda sua vida, não se vê uma exposição, uma estátua, um grafite, uma placa comemorativa que seja que represente a gratidão que se deveria ter pelo patrimônio construído por esse importante jornalista de outros tempos.
Mas ter esperanças é importante. E certamente devemos continuar a sustentar aquela que Marques Rebelo havia esboçado no romance O Trapicheiro, publicado em 1959, e que merece ser aqui transcrito com as todas as suas letras:
“– Não se iludam com o mérito de João do Rio. É defunto demasiado fresco ainda para ser julgado com isenção e clareza. O homem que era, mundano e vicioso, perturbou a valorização real da obra, eivada de futilidades e de facilidades, impregnada do terrível sal do mundanismo. E o Movimento Modernista contribuiu sobremodo para o momentâneo esquecimento. Mas tempo virá, não tenha dúvida, em que seremos obrigados a reconhecer a importância da sua contribuição. As religiões no Rio, Vida vertiginosa e Alma encantadora das ruas são formidáveis documentários, que não pretenderam, quando escritos, ser mais que reportagens para jornal. Caramba, foi o nosso primeiro repórter, o reformador da nossa imprensa mambembe, dando-lhe vivacidade, trepidação, contato com o povo, com a realidade! Acham pouco? Marchamos sobre as suas pegadas, mas depreciamos o semeador – é irrisório!”
ANTELO, Raúl. João do Rio – o dândi e a especulação. Rio de Janeiro, Taurus, Timbre, 1989.
ANTELO, Raúl, A alma encantado das ruas. São Paulo, Companhia das Letras, 2008.
MAGALHÃES Jr., Raimundo. A vida vertiginosa de João do Rio. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira/INL, 1978.
SOUSA, Patrícia de Castro. João do Rio: O repórter com alma de flâneur conduz a crônica-reportagem na belle époique tropical. Universidade Federal de Santa Maria: Dissertação de Mestrado, 2009.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.
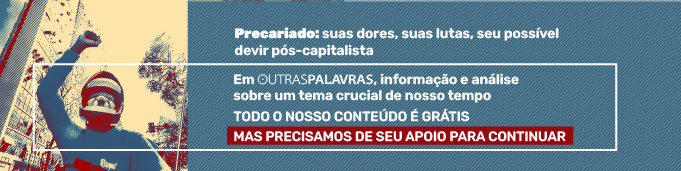

Um comentario para "Cem anos sem João do Rio"