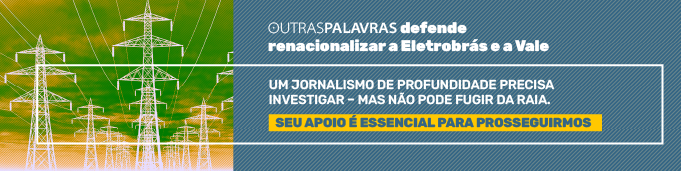Os critérios, as narrativas e as “guerras hegemônicas”
Nos conflitos modernos, não há poder superior que decida quem age com legitimidade. Desde o fim da URSS, EUA e Otan avançam a leste alegando conter a Rússia. E Putin traçou a Ucrânia como limite. O vencedor contará a versão final
Publicado 04/07/2023 às 18:09

Artigo escrito por ocasião do lançamento do novo livro do INEEP: Fiori, J.L. (org.), A Guerra, a Energia e o Novo Mapa do Poder Mundial, Petrópolis, Editora Vozes/Ineep, 2023.
The disequilibrium in the international system is due to increasing disjuncture between the existing governance of the system and the redistribution of power in the system [and] throughout history the primary means of resolving the disequilibrium between the structure of the international system and the redistribution of power has been war, more particularly what we shall call a “hegemonic war”.
R. Gilpin, War & Change in World Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1981.
1. A questão dos “critérios” e das “narrativas”
Quem formulou pela primeira vez a tese de que existiriam guerras que seriam “justas” ou “legítimas” e outras que seriam “injustas” ou “ilegítimas” foi Cícero, o jurista e cônsul romano, que viveu entre os anos 106 e 43 a.C. E foi ele também que definiu como primeiro “critério” de distinção: seriam “justas” todas as guerras que fossem travadas em “legítima defesa”.1 Mas desde os tempos de Cícero, até hoje, foi sempre muito difícil de distinguir e arbitrar quem de fato tem razão quando se está tratando de um conflito concreto e específico entre estados ou impérios que alegam, a seu favor, o mesmo direito à “autodefesa”. Muitos séculos depois do fim do Império Romano, no início da modernidade europeia, em pleno século XVII, Hugo Grotius (1583-1645) e Thomas Hobbes (1588-1679) diagnosticaram este mesmo problema no funcionamento do “sistema interestatal” que estava nascendo na Europa naquele momento. Jurista e teólogo holandês, Hugo Grotius, foi o primeiro a perceber que no novo sistema de poder, no caso de acusações, conflitos ou guerras, sempre existiriam “múltiplas inocências”, e não haveria como decidir de que lado estaria a razão. Motivo que levou o filósofo inglês Thomas Hobbes, seu contemporâneo, a concluir que, neste novo sistema de poder territorial, os Estados seriam eternos rivais preparando-se permanentemente para a guerra,2 porque não existia dentro do sistema um “poder superior” que pudesse arbitrar de “forma objetiva” o “bem” e o “mal”, o “justo” e o “injusto”, numa disputa entre os estados nacionais que estavam nascendo.3
Depois disso, durante mais de 400 anos, a discussão dos filósofos e juristas continuou girando em torno destes dois problemas congênitos do sistema interestatal: o direito dos estados à sua “legítima defesa”, em caso de agressão ou ameaça ao seu território, e a dificuldade de estabelecer um critério consensual e universal, acima de qualquer suspeita, de parcialidade. E hoje, depois de 500 anos de guerras sucessivas, uma coisa parece definitivamente certa: todos os “critérios” conhecidos e utilizados até hoje para julgar as guerras sempre estiveram comprometidos com os valores, os objetivos e as narrativas das partes envolvidas no conflito, e em particular com os valores e a narrativa dos vitoriosos, depois de findas as guerras. Exatamente como está acontecendo no caso desta nova guerra europeia, e que hoje já é uma guerra global, ou “hegemônica”, a Guerra da Ucrânia.
2. As estratégias e as “narrativas”
O argumento fundamental esgrimido pelo governo russo em defesa de sua invasão militar da Ucrânia vem sendo apresentado, defendido e reiterado, de forma muito clara, desde pelo menos 2007,4 em vários fóruns internacionais: sua exigência de que a Otan suspenda sua expansão na direção do leste europeu e, em particular, que se abstenha de incorporar à sua estrutura os territórios da Geórgia e da Ucrânia. E que além disso a Otan interrompa seu processo de militarização dos antigos países do Pacto de Varsóvia e dos novos países que foram separados do território russo depois de 1991 e que já foram incorporados pela Otan. A alegação russa contra o expansionismo “ocidental” encontra apoio numa longa história de invasões de sua fronteira ocidental: pelos poloneses no início do século XVII; pelos suecos, no início do século XVIII; pelos franceses, no início do século XIX; pelos ingleses, franceses e norte-americanos, no início do século XX, logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial; e finalmente, pelos alemães, entre 1941 e 1944. Uma ameaça que se repetiu depois do fim da Guerra Fria, e depois da decomposição da União Soviética, quando os russos perderam uma parte do seu território e logo em seguida assistiram ao avanço das tropas da Otan, apesar da promessa do Secretário de Estado Americano, James Baker, feita ao primeiro-ministro russo Mikhail Gorbachev em 1996, de que isto não aconteceria.
Este foi o principal recado do presidente russo, Vladimir Putin, no seu discurso pronunciado na Conferência de Segurança de Munique, em 2007. Na ocasião, ele disse, com todas as letras, que se tratava de uma “linha vermelha” para a Rússia a Otan tentar incorporar a Geórgia e a Ucrânia. Mas as “potências ocidentais” ignoraram solenemente a reivindicação russa e foi por isso que a Rússia interveio no território da Geórgia, em 2008, para impedir sua inclusão na Otan. Depois disso, em 2014 os EUA e os europeus tiveram uma participação direta no golpe de estado que derrubou o governo democrático da Ucrânia, que era apoiado pela Rússia. Como resposta, a Rússia incorporou o território da Crimeia em 2015, no mesmo ano em que a Alemanha, a França e a Ucrânia assinaram, junto com a Rússia, os Acordos de Minsk, que foram depois sacramentados pelas Nações Unidas, mas não foram respeitados pela Alemanha e a França, nem foram acatados pela Ucrânia. Finalmente, em dezembro de 2021, a Rússia apresentou aos Estados Unidos, à Otan, e aos governos europeus uma proposta formal de negociação sobre a Ucrânia, e de renegociação do “equilíbrio estratégico” imposto pelos EUA, depois do fim da Guerra Fria. Esta proposta foi rechaçada, e foi neste momento que as tropas russas invadiram o território da Ucrânia, com o argumento de “legítima defesa” do seu território, ameaçado pelo avanço da militarização e nuclearização das suas fronteiras, e pela incorporação iminente da Ucrânia à Otan.
Do outro lado dessa guerra, como ficou desde cedo muito claro, formou-se uma coalizão de países liderada pelos Estados Unidos. E aqui o mais importante a ser considerado é que, depois da Guerra Fria, e durante toda a última década do século passado, os Estados Unidos exerceram um poder militar global absolutamente sem precedente na história da humanidade. Foi durante esse período, logo depois da queda do Muro de Berlim, que o presidente George Bush criou um grupo de trabalho liderado pelo seu Secretário de Estado, Dick Cheney, e por vários outros membros do Departamento de Estado como Paul Wolfowitz e Donald Rumsfeld, entre outros. Daí nasceu o projeto republicano do “novo século americano”, propondo que os Estados Unidos impedissem preventivamente o aparecimento de qualquer potência, em qualquer região do mundo, que pudesse ameaçar a supremacia mundial dos Estados Unidos durante todo o século XXI. Foi esta estratégia republicana que esteve por trás da declaração da “guerra global ao terrorismo” como resposta aos atentados do 11 de setembro de 2001.
Por outro lado, ainda na década de 1990, os dois governos democratas de Bill Clinton apostaram na globalização econômica e nas “intervenções humanitárias” em defesa da democracia e dos “direitos humanos”. Foram 48 “intervenções” durante toda a década, as mais importantes, na Bósnia em 1995 e no Kosovo em 1999. Mas ainda nos anos 90, o geopolítico democrata Zbigniew Brzezinski – que havia sido Conselheiro de Segurança do governo Jimmy Carter –, publicou um livro (The Grand Chessboard: American Primacy, em 1997) que se tornaria uma espécie de “bíblia” da política externa democrata dos governos de Barack Obama, entre 2009 e 2016, e agora do governo de Joe Biden. Brzezinski foi o grande mestre de Madeleine Albright (Secretária de Estado de Obama), que por sua vez foi a mentora intelectual de Anthony Blinken, Jack Sullivan e Victoria Nuland, entre outros, que trabalharam juntos durante o governo de Barack Obama, e estiveram todos pessoalmente envolvidos no golpe de estado da Praça Maidan, na Ucrânia, em 2014, e com o envolvimento militar e a escalada bélica dos Estados Unidos e da Otan, desde os primeiros dias da Guerra da Ucrânia.
O roadmap da política externa democrata traçado por Zbigniew Brzezinski ressuscitou a estratégia concebida por George Kennan, em 1945, de contenção da Rússia como objetivo central da política externa norte-americana. E defendeu a expansão da Otan para o Leste da Europa, colocando como um objetivo central e explícito a ocupação militar e a incorporação da Ucrânia à Otan, que ele propunha que ocorresse no máximo até 2015. Foi nesta época que os democratas incluíram, dentro desta mesma estratégia expansionista, a defesa de intervenções visando mudar governos e regimes desfavoráveis aos Estados Unidos, e as “revoluções coloridas” que se sucederam depois da “Primavera Árabe” de 2010, começando no mesmo ano de 2013, no Brasil e também na Ucrânia.
Como se pode ver, os republicanos e os democratas formularam, depois do fim da Guerra Fria, diagnósticos um pouco diferentes, mas com objetivos idênticos: manter a primazia mundial dos Estados Unidos durante o século XXI. A grande diferença entre os dois esteve na importância atribuída pelos democratas à Ucrânia, que Brzezinski considerava que fosse o pivô geopolítico decisivo para a contenção militar da Rússia. Como se pode ver, portanto, a intervenção militar americana na Ucrânia já estava no mapa estratégico da política externa dos Estados Unidos desde a última década do século passado, como uma peça chave para a preservação da “primazia global” dos Estados Unidos.
Em síntese, quando se olha para a Guerra da Ucrânia do ponto de vista dos critérios e interesses estratégicos das duas grandes potências envolvidas neste conflito, se entende melhor porque a Rússia não pode nem tem como recuar, porque o que está em jogo para ela é a sobrevivência do seu território, da sua identidade e da unidade nacional; e do outro lado, os norte-americanos estão bloqueando qualquer iniciativa de paz até aqui, porque o que está em jogo para eles é o futuro da sua supremacia junto com todos os privilégios associados ao poder global que conquistaram depois de sua vitória na Guerra do Golfo, em 1991.
Por isto, finalmente, o que parecia no início tratar-se apenas de uma guerra localizada e assimétrica, transformou-se rapidamente na guerra mais intensa travada desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Exatamente, porque deixou de ser uma guerra local, para se transformar numa “guerra hegemônica”, ou seja, numa disputa sobre quem terá o “direito” de definir os critérios e as regras de arbitragem dentro do sistema mundial durante o século XXI.
Notas
1. Fiori, J.L. “Dialética da Guerra e da Paz”, in Fiori, J.L. (org.), Sobre a Guerra, Petrópolis, Editora Vozes, 2018, p. 80
2. “Sempre existiram reis ou autoridades soberanas que, para defender sua independência, viveram em eterna rivalidade, como os gladiadores mantendo suas armas apontadas sem se perderem de vista, ou seja, seus fortes e guarnições em estado de vigia, seus canhões preparados guardando as fronteiras de seus reinos e ainda espionando territórios vizinhos” (Hobbes, 1983, p. 96).
3. “A natureza da justiça consiste no cumprimento dos pactos válidos, e essa validade começa com o estabelecimento de um poder civil que obrigue os homens a cumpri-los” (Hobbes, 1983, p. 107).
4. Ocasião em que o presidente russo, Vladimir Putin, formulou pela primeira vez, de forma clara e sintética, a posição da Rússia com relação à expansão da Otan e ao equilíbrio de poder europeu, na reunião anual Conferência de Segurança de Munique, realizada em 2007.