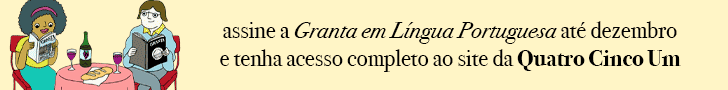Hiroshima, 75 anos
Os corpos fundidos ao granito. As mentiras da mídia ocidental, que negou a contaminação radiativa. Um “experimento” de doze anos e suas cobaias humanas, especialmente indígenas. Atenção: China, novo alvo, resiste a permanecer passiva
Publicado 06/08/2020 às 20:46 - Atualizado 07/08/2020 às 11:18

Por John Pilger, em seu site | Tradução de Simone Paz
Quando fui pela primeira vez a Hiroshima, em 1967, a sombra nos degraus ainda estava lá. Era uma impressão quase perfeita de um ser humano bem à vontade: pernas estendidas, costas curvas, uma mão apoiada ao lado do seu corpo, esperando o banco abrir.
Às oito e quinze da manhã do dia 6 de agosto de 1945, ela e sua silhueta foram fundidas ao granito.
Fiquei olhando para a sombra por uma hora ou mais. Depois desci para o rio onde os sobreviventes ainda viviam em barracos. Conheci um homem chamado Yukio, cujo peito tinha gravada a estampa da camisa que ele usava quando a bomba atômica caiu.
Ele descreveu um enorme flash sobre a cidade, “uma luz azulada, algo como um curto elétrico”, depois do qual o vento soprou feito um tornado, seguido por uma chuva negra. “Fui jogado contra o chão e notei que restavam apenas os caules das minhas flores. Tudo estava quieto e, quando me levantei, havia pessoas nuas, sem dizer nada. Algumas delas não tinham pele nem cabelo. Eu tinha certeza de que estava morto.” Nove anos depois, voltei a procurá-lo e ele havia morrido de leucemia.
“Radioatividade zero nas ruínas de Hiroshima”, dizia a primeira página do The New York Times em 13 de setembro de 1945, um clássico da desinformação escancarada. “O general Farrell”, relatou William H. Lawrence, “negou categoricamente que [a bomba atômica] produzisse uma radioatividade perigosa ou persistente”.

Somente um repórter, o australiano Wilfred Burchett, enfrentou a perigosa jornada para Hiroshima logo após o bombardeio atômico — desafiando as autoridades da ocupação dos Aliados, que controlavam o fluxo e as informações da imprensa.
“Escrevo isso como um aviso ao mundo”, relatou Burchett no London Daily Express de 5 de setembro de 1945. Sentado nos escombros com sua máquina de escrever Baby Hermes, ele descreveu enfermarias de hospitais cheias de pessoas sem ferimentos visíveis, mas que estavam morrendo pelo que ele chamou de “uma praga atômica”. Por causa disso, seu credenciamento de imprensa foi suspenso, e ele foi atacado e desprestigiado. Seu testemunho sobre a verdade nunca foi perdoado.
O bombardeio atômico de Hiroshima e Nagasaki foi um ato premeditado de assassinato em massa, que revelou uma arma de criminalidade intrínseca. Foi justificado pelas mesmas mentiras que compõem a base da propaganda de guerra dos Estados Unidos no século 21, e lançam um novo inimigo e alvo: a China.
Nos 75 anos que se seguiram a Hiroshima, a mentira que mais prevaleceu foi a de que a bomba atômica foi utilizada para pôr um ponto final na guerra no Pacífico e, assim, salvar vidas.
A Pesquisa sobre Bombardeios Estratégicos dos Estados Unidos, de 1946, concluiu que “Mesmo sem os ataques com bombas atômicas, a supremacia aérea sobre o Japão poderia ter exercido pressão suficiente para provocar rendição incondicional e evitar a necessidade de invasão”. Com base em uma investigação detalhada de todos os fatos, respaldada pelo testemunho dos líderes japoneses envolvidos que sobreviveram, a pesquisa conclui que… o Japão teria se rendido mesmo se as bombas atômicas não tivessem sido lançadas, mesmo se a Rússia não tivesse entrado em guerra [contra o Japão] e mesmo se nenhuma invasão tivesse sido planejada ou executada”.
Os Arquivos Nacionais em Washington contém documentos datados desde 1943, que comprovam aberturas japonesas em busca da paz. Nenhuma delas foi levada adiante. Um telegrama enviado em 5 de maio de 1945 pelo embaixador alemão em Tóquio, e interceptado pelos EUA, deixava claro que os japoneses estavam desesperados para alcançar a paz, envolvendo até uma “rendição, mesmo se os termos forem difíceis”. Nada foi feito.
Na época, o secretário de Guerra dos EUA, Henry Stimson, revelou ao presidente Truman que estava “com medo” de que a Força Aérea dos EUA tivesse o Japão tão “bombardeado” ao ponto da nova arma não ser capaz de “mostrar sua força”. Stimson mais tarde admitiu que “nenhum esforço foi feito, e nenhum foi seriamente considerado, para obter a rendição do Japão sem ter que usar a bomba [atômica]”.
Os colegas de Stimson na área de política externa — já olhando para a futura era do pós-guerra que eles mesmos estavam moldando “à nossa imagem”, como o famoso estrategista da Guerra Fria, George Kennan, disse — deixaram claro que estavam ansiosos “para derrotar os russos com a bomba [atômica] fabricada e ostentada por nós”. O general Leslie Groves, diretor do Projeto Manhattan que produziu a bomba atômica, testemunhou: “Nunca houve dúvida de minha parte de que a Rússia fosse nossa inimiga nem de que o projeto fosse conduzido com base nisso”.
No dia seguinte à destruição de Hiroshima, opPresidente Harry Truman expressou sua satisfação pelo “enorme sucesso” do “experimento”
O “experimento” continuou muito depois de terminada a guerra. Entre 1946 e 1958, os Estados Unidos explodiram 67 bombas nucleares nas Ilhas Marshall no Pacífico: o equivalente a mais de uma Hiroshima por evento, durante 12 anos.
As consequências humanas e ambientais foram catastróficas. Durante as filmagens do meu documentário, The Coming War on China, aluguei uma pequena aeronave e voei para Bikini Atoll nas Ilhas Marshalls. Foi lá que os Estados Unidos explodiram a primeira bomba de hidrogênio do mundo. Permanece uma terra envenenada. O contador Geiger identificou meus sapatos como “não seguros”. As palmeiras tinham deformações que não pareciam deste mundo. Não havia pássaros.
Caminhei pela floresta até o bunker de concreto onde, às 6h45 da manhã de 1º de março de 1954, foi apertado o botão. O sol, que havia nascido, voltou a nascer e vaporizou uma ilha inteira que virou lagoa, deixando um enorme buraco negro, que do ar é um espetáculo ameaçador: um vazio mortal em um lugar de beleza.

A chuva radioativa espalhou-se rápida e “inesperadamente”. A história oficial afirma que “o vento mudou de repente”. Foi a primeira de muitas mentiras, como revelam documentos desclassificados e testemunhos das vítimas.
Gene Curbow, meteorologista designado para monitorar o local do teste, afirmou: “Eles sabiam para onde a chuva radioativa iria. No dia da explosão, ainda tiveram a oportunidade de evacuar as pessoas, mas [as pessoas] não foram evacuadas; eu não fui evacuado… Os Estados Unidos precisavam de cobaias para estudar o que os efeitos da radiação fariam.”
Da mesma forma que Hiroshima, o segredo das Ilhas Marshall era um experimento calculado sobre a vida de um grande número de pessoas. Este foi o Projeto 4.1, que começou como um estudo científico de ratos e se tornou um experimento em “seres humanos expostos à radiação de uma arma nuclear”.
Os habitantes das ilhas Marshall que conheci em 2015 — tais quais os sobreviventes de Hiroshima que entrevistei nas décadas de 1960 e 1970 — sofriam de uma variedade de cânceres, geralmente câncer de tireóide. Milhares já haviam morrido. Abortos e natimortos eram comuns; e os bebês que viviam eram, com frequência, terrivelmente deformados.
Diferentemente de Bikini, a ilha vizinha de Rongelap não foi evacuada para o teste da bomba H. Diretamente a favor do vento de Bikini, o céu de Rongelap escureceu e choveu o que primeiro pareciam ser flocos de neve. A comida e a água foram contaminadas; e a população foi vítima de câncer. Isso ainda permanece real hoje em dia.
Conheci Nerje Joseph, que me mostrou uma foto sua de quando era criança, em Rongelap. Ela tinha terríveis queimaduras faciais e grande parte sem cabelo. “Estávamos tomando banho no poço no dia em que a bomba explodiu”, ela me contou. “Poeira branca começou a cair do céu. Eu apanhei o pó. Nós o usamos como sabão para lavar o cabelo. Alguns dias depois, meu cabelo começou a cair.
Lemoyo Abon conta: “Alguns de nós estávamos agonizantes. Outros, com diarreia. Ficamos aterrorizados. Achamos que devia ser o fim do mundo”.
No arquivo oficial dos EUA que incluí no meu filme, referem-se aos ilhéus como “selvagens dóceis”. Após a explosão, um funcionário da Agência de Energia Atômica dos EUA se vangloriou de Rongelap ser “de longe o lugar mais contaminado do planeta”, acrescentando que “será interessante obter uma medida da absorção humana quando as pessoas vivem em um ambiente contaminado”.
Cientistas norte-americanos, incluindo médicos, construíram carreiras diferenciadas estudando a “absorção humana”. Nos filmes, eles aparecem de jaleco branco, atentos às pranchetas. Quando um desses ilhéus morreu na adolescência, sua família recebeu um cartão de condolências do cientista que o estudou.
Eu cobri e relatei cinco hipocentros nucleares (também conhecidos como “Pontos Zero”) ao redor do mundo: Japão, Ilhas Marshall, Nevada, Polinésia e Maralinga, na Austrália. Muito mais do que minha experiência como correspondente de guerra, aprendi sobre a crueldade e imoralidade do grande poder: isto é, o poder imperial, cujo cinismo é o verdadeiro inimigo da humanidade.
Isso me impressionou quando filmei no Ponto Zero de Taranaki, em Maralinga, no deserto australiano. Em uma cratera em formato de prato, havia um obelisco com a inscrição: “Uma arma atômica britânica foi testada aqui em 9 de outubro de 1957”. Na borda da cratera, uma sinalização:
“ALERTA: PERIGO DE RADIAÇÃO
Os níveis de radiação por algumas centenas de metros em torno deste ponto podem estar acima daqueles considerados seguros para ocupação permanente”.
Para além de onde os olhos podiam ver, o chão estava irradiado. Plutônio bruto espalhado como pó de talco: o plutônio é tão perigoso para os seres humanos que um terço de miligrama oferece 50% de chances de desenvolver câncer.
As únicas pessoas que poderiam ter visto o sinal eram os indígenas australianos, para os quais não havia aviso. Segundo um relato oficial, se tivessem sorte “seriam enxotados como coelhos”.
Hoje, uma campanha de propaganda sem precedentes que nos inunda como se fôssemos coelhos. O esperado é que não questionemos a torrente diária da retórica anti-chinesa, que rapidamente ultrapassa a torrente da retórica anti-Rússia. Qualquer coisa chinesa é ruim, maldita, uma ameaça: Wuhan… Huawei. Quão confuso soa isso tudo quando dito pelo “nosso” ultrajante líder.
O estado atual desta campanha começou não com Trump, mas com Barack Obama, que em 2011 voou para a Austrália para discursar perante o maior reunião de forças navais estadunidense na região Ásia-Pacífico desde a Segunda Guerra Mundial. De repente, a China era uma “ameaça”. Isso não fazia sentido, é claro. O que foi ameaçado foi a incontestável visão psicopática dos EUA de si mesmos como a nação mais rica, mais bem-sucedida e “indispensável”.
O que nunca esteve em disputa foi sua valentia de machão — com mais de 30 membros da ONU sofrendo algum tipo de sanção americana e um rastro de sangue correndo por países indefesos bombardeados, com seus governos derrubados, eleições interferidas e recursos saqueados.
A declaração de Obama ficou conhecida como o “pivô para a Ásia”. Um dos principais defensores foi sua secretária de Estado, Hillary Clinton, que, como o WikiLeaks revelou, queria renomear o Oceano Pacífico de “o Mar Americano”.
Embora Hillary nunca tenha ocultado seu apoio, Obama era um mestre do marketing. “Afirmo com clareza e convicção”, disse o novo presidente em 2009, “que o compromisso dos EUA é buscar a paz e a segurança de um mundo sem armas nucleares”.
Obama aumentou os gastos com ogivas nucleares mais rapidamente do que qualquer outro presidente desde o final da Guerra Fria. Até foi desenvolvida uma arma nuclear “utilizável”. Conhecido como o Modelo 12 da B61, de acordo com o general James Cartwright, ex-vice-presidente do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, isso significa que: “reduzir seu tamanho torna seu uso mais concebível”.
O alvo é a China. Hoje, mais de 400 bases militares norte-americanas quase que cercam toda a China com mísseis, bombardeiros, navios de guerra e armas nucleares. Do norte da Austrália ao sudeste da Ásia, Japão e Coréia — através do Pacífico — e, através da Eurásia, ao Afeganistão e à Índia, as bases formam, como me disse um estrategista norte-americano, “o laço perfeito”.
Um estudo da RAND Corporation — que, desde o Vietnã, planejou as guerras norte americanas — tem o título: Guerra com a China: pensando através do impensável. Comissionados pelo Exército dos EUA, os autores evocam a famosa e infame frase do estrategista-chefe da Guerra Fria, Herman Kahn, “pensando o impensável”. O livro de Kahn, Sobre a Guerra Termonuclear, elaborava um plano para uma guerra nuclear “vencível”.
A visão apocalíptica de Kahn é compartilhada pelo secretário de Estado de Trump, Mike Pompeo, um fanático evangélico que acredita no “arrebatamento do fim”. É provável que ele seja o homem mais perigoso do mundo. “Eu fui diretor da CIA”, ele se gabou, “mentimos, enganamos, roubamos. Era como se tivéssemos cursos de treinamento completos”. A obsessão de Pompeo é a China.
O objetivo do extremismo de Pompeo raramente é discutido na mídia anglo-americana, onde os mitos e as invenções sobre a China são comuns, assim como as mentiras sobre o Iraque. Um racismo virulento é o subtexto dessa propaganda. Classificados como “amarelos”, embora sejam brancos, os chineses são o único grupo étnico que foi proibido por um “ato de exclusão” de entrar nos Estados Unidos, porque eram chineses. A cultura popular os declarou temíveis, não confiáveis, “sorrateiros”, depravados, doentes, imorais.
A revista australiana The Bulletin, dedicou-se a promover o medo do “perigo amarelo”, como se toda a Ásia estivesse prestes a cair nas colônias exclusivamente brancas pela força da gravidade.
Como escreve o historiador Martin Powers, reconhecer a modernidade da China e sua moralidade secular, suas “contribuições ao pensamento liberal ameaçava a imagem da Europa. Por isso, foi necessário suprimir o papel do país no debate sobre o Iluminismo… Durante séculos, a ameaça da China ao mito da superioridade ocidental tornou-aa um alvo fácil para ataques xenófobos e racistas”.
No Sydney Morning Herald, Peter Hartcher, um incansável opositor da China, descreveu aqueles que espalham a influência chinesa na Austrália como “ratos, moscas, mosquitos e pardais”. Hartcher, que cita favoravelmente o demagogo americano Steve Bannon, gosta de interpretar os “sonhos” da atual elite chinesa, dos quais ele aparentemente está a par. Seriam inspirados pelos anseios do “Mandato do Céu” de 2.000 anos atrás. Argumentum ad nauseam [em português, “argumentação até provocar náusea”].
Para combater esse “mandato”, o governo australiano de Scott Morrison comprometeu um dos países mais seguros do mundo, cujo principal parceiro comercial é a China, vinculando-o a centenas de bilhões de dólares em mísseis americanos que podem ser disparados contra a China.
O truque já é evidente. Em um país historicamente marcado pelo violento racismo em relação aos asiáticos, os australianos de ascendência chinesa formaram um grupo de vigilantes para proteger seus entregadores. Vídeos feitos por telefone mostram um motorista de entregas tomando um soco no rosto e um casal chinês sendo discriminado em um supermercado. Entre abril e junho, houve quase 400 ataques racistas contra asiáticos-australianos.
“Nós não somos seus inimigos”, disse-me um estrategista de alto escalão na China, “mas se vocês [no Ocidente] decidem que somos, então devemos nos preparar sem demora”. O arsenal da China é pequeno em comparação com o americano, mas está crescendo rapidamente, principalmente o desenvolvimento de mísseis marítimos projetados para destruir frotas de navios.
Gregory Kulacki, da União de Cientistas Preocupados [Union of Concerned Scientists], escreveu “Pela primeira vez na história, a China está discutindo colocar seus mísseis nucleares em alerta máximo para que possam ser lançados rapidamente diante do aviso de um ataque… Isso seria uma mudança significativa e perigosa na política chinesa…
Em Washington, conheci Amitai Etzioni, ilustre professor de assuntos internacionais da Universidade George Washington, que escreveu que havia sido planejado um “ataque ofuscante à China”, “com agressões que poderiam ser erroneamente percebidas [pelos chineses] como tentativas preventivas para tirar suas armas nucleares, encurralando-os no terrível dilema de usá-las-ou-perdê-las [que] levaria à guerra nuclear”.
Em 2019, os EUA realizaram seu maior exercício militar desde a Guerra Fria, grande parte em segredo. Uma armada de navios e bombardeiros de longo alcance ensaiou um “Conceito de Batalha por ar e por mar contra a China” [ASB, na sigla em inglês, “Air-Sea Battle”], bloqueando as rotas marítimas no Estreito de Malaca e cortando o acesso da China a petróleo, gás e outras matérias-primas do Oriente Médio e África .
É o medo desse bloqueio que fez a China desenvolver sua Iniciativa do Cinturão e Rota ao longo da antiga Rota da Seda para a Europa e construir urgentemente pistas de pouso estratégicas em recifes e ilhas disputadas nas Ilhas Spratly.
Em Xangai, conheci Lijia Zhang, jornalista e romancista de Pequim, típica figura da nova classe de dissidentes independentes. Seu livro mais vendido tem o título, irônico, de Socialism Is Great! Tendo crescido na caótica e brutal Revolução Cultural, ela viajou e morou nos EUA e na Europa. “Muitos norte-americanos imaginam”, disse ela, “que o povo chinês vive uma vida miserável e reprimida, sem liberdade alguma. A [ideia] do perigo amarelo nunca os deixou… Eles não têm idéia de que existem cerca de 500 milhões de pessoas sendo tiradas da pobreza, e alguns até diriam que são 600 milhões”.
As conquistas épicas da China moderna, a derrota da pobreza em massa e o orgulho e satisfação de seu povo (medidos de forma por institutos de pesquisa americanos como Pew) são intencionalmente desconhecidos ou mal compreendidos no Ocidente. Isso por si só diz muito sobre o lamentável estado do jornalismo ocidental e o abandono das reportagens honestas.
O obscuro lado repressivo da China e o que gostamos de chamar de “autoritarismo” são as únicas faces que podemos ver. É como se estivéssemos alimentando histórias intermináveis do supervilão malvado Dr. Fu Manchu. E já é hora de nos perguntarmos por quê — antes de que seja tarde demais para frear a próxima Hiroshima.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.