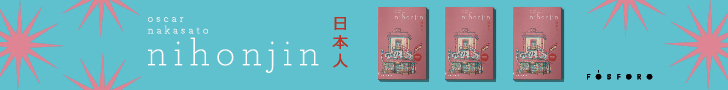EUA: Da crise de hegemonia ao desespero
Exame de um longo declínio. Como a vitória sobre a URSS deu a Washington sensação imperial e a levou a romper as estruturas e alianças que faziam sua força. Por que Trump não é causa – mas sintoma – deste movimento. E de que modo sua deriva neofascista coloca os EUA em impasse histórico
Publicado 14/08/2025 às 17:12 - Atualizado 14/08/2025 às 17:29

Por Luiz Filgueiras e Renildo Souza
Durante o período da Guerra-Fria, de disputa e tensões entre, de um lado, os EUA e seus aliados e, de outro, a União Soviética e seus aliados, a hegemonia das duas potências em cada um dos seus respectivos campos (capitalismo X “socialismo”) era inconteste. Essa bipolaridade geopolítica implicou à época uma certa estabilidade nas relações internacionais. Cabe ressalvar, porém, a presença de guerras e conflitos localizados em diversas regiões da periferia do capitalismo (Coreia, Vietnam, Afeganistão, diversos países africanos e latino-americanos etc.). Nesses conflitos, houve apoio e intervenção armada das duas superpotências imperialistas de acordo com os seus interesses geopolíticos.
No caso dos EUA, a sua hegemonia (dominação e consentimento) foi construída a partir do fim da 2ª guerra mundial. Na condição de grande potência do mundo capitalista vencedora do conflito, os EUA passaram a liderar e dominar a Europa Ocidental, as Américas e parte da Ásia e da África. O apoio à reconstrução da Europa com o Plano Marshall (1948-1951) e a ocupação e reconstrução do Japão (1945-1952), assim como a constituição da aliança militar expressa na criação da OTAN em 1949, foram decisivos nesse processo. Em suma, do ponto de vista das ações estadunidenses, os países centrais foram contemplados com apoio e reconstrução, enquanto para a periferia restaram controle e subordinação. Em ambos os casos, no centro e na periferia, a preocupação com o comunismo e a sua contenção.
Essa hegemonia alcançou diversas dimensões: militar, econômico-financeira, política, cultural e moral. Ela começou a se configurar com o Acordo de Bretton Woods (1944). Sob o controle e a liderança dos EUA, Bretton Woods buscava reconstruir a economia debilitada do pós-guerra e promover a cooperação econômica internacional. Nesse acordo estabeleceu-se um novo sistema financeiro e monetário internacional para o pós-guerra, com a criação do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (BIRD), além da definição, entre outras coisas, do padrão dólar-ouro em substituição ao antigo padrão-ouro – com o dólar tornando-se a principal moeda de reserva internacional, ao lado do estabelecimento do sistema de taxas de câmbio fixas.
Na mesma direção, após o fim da Segunda Guerra Mundial, foi criada em 1945 a Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de manter a paz e a segurança internacionais, promover a cooperação entre as nações e desenvolver relações amistosas entre elas. Inicialmente com a participação de 50 países, a ONU tem hoje quase 200 países membros.
Adicionalmente, foi assinado, em 1947, o Acordo Geral sobre Comércio e Tarifas (GATT): um acordo multilateral com um conjunto de regras e normas para o comércio internacional. O GATT tinha como objetivo principal reduzir as barreiras comerciais entre os países membros (herança da crise de 1929 e seus desdobramentos na década seguinte). Posteriormente, em 1995, ele foi substituído pela Organização Mundial do Comércio (OMC), com o objetivo de regular o comércio internacional. Com a OMC limitou-se a adoção de políticas comerciais dos países membros (em especial os da periferia) que, de alguma forma, confrontassem o dogma do “livre comércio” – um dos carros-chefes do neoliberalismo. Em resumo, a hegemonia dos EUA se valeu da criação de uma série de instituições internacionais, de caráter multilateral, sob o seu controle e na condição de principal financiador.
Essa era a face do Ocidente na arquitetura bipolar da nova ordem internacional que emergiu no pós-II Guerra Mundial. O domínio dos EUA no polo capitalista foi sustentado para além da força militar, pois foi aceito e consentido pelos seus aliados. Esses parceiros eram, na verdade, dependentes econômico-financeiramente e militarmente de Washington. Essa ordem, entretanto, começou a entrar em colapso a partir do início da década de 1970, quando um dos pilares do Acordo de Bretton Woods foi desmontado unilateralmente pelos EUA, mediante a desvinculação do dólar em relação ao ouro em 1971. Os déficits comerciais e a redução das reservas em ouro levaram os EUA ao rompimento do Acordo. Assim, o dólar tornou-se mais uma moeda fiduciária (sem nenhum lastro, baseado apenas na confiança) sob a operação de um sistema com taxas de câmbio flutuantes. Esse dólar sem lastro foi o ponta pé inicial do processo de desregulação e financeirização que viria moldar o capitalismo neoliberal.
A crise do capitalismo nos anos 1970 foi evidenciada por um processo de estagflação que atingiu os países centrais, sobretudo os EUA. Essa crise provocou tanto um movimento de reestruturação produtiva continuado, quanto a ascensão do neoliberalismo como doutrina ideológica e política de Estado. O capitalismo encaminhou-se para a constituição de um novo regime de acumulação mundial sob a dominância financeira. Nos anos 1980 essa crise, e os efeitos da resposta dos países centrais a ela, se espalhou pela periferia do capitalismo, expressando-se na chamada crise da dívida externa. Por razões (internas e externas) que não cabe aqui explicar, essa crise acabou por impactar também o leste europeu, atingindo os países sob a órbita da União Soviética e, no final, a ela própria, a URSS, no início dos anos 1990, levando ao colapso do polo “socialista”. Era o fim da bipolaridade mundial.
A partir daí, o domínio internacional tornou-se unipolar, com os EUA configurando-se como a única superpotência existente. Nessa nova circunstância, Washington, aos poucos, foi incentivando e instituindo uma visão e práticas internacionais unilaterais. O estabelecimento de intervenções (guerras) e sanções a outros países passaram a ser decididas e implementadas sem o aval dos fóruns internacionais. A Casa Branca passou a não reconhecer decisões dos fóruns e acordos multilaterais, quando não eram condizentes com os seus interesses. Em determinado momento, o imperialismo se fez aberto e explícito: a guerra do Iraque em 2003. Sem o apoio da ONU, a intervenção no Iraque se evidenciou como exemplo maior da nova doutrina dos EUA de guerras preventivas. A agressão contra Bagdá foi justificada por uma mentira, depois desmascarada por instituições do próprio EUA, de que Saddam Hussein estaria produzindo armas químicas.
Até aí, a geopolítica unipolar parecia confirmar a hegemonia inconteste dos EUA, sem qualquer contraponto relevante à suas decisões e práticas unilaterais. Mas isso já estava começando a mudar. Paradoxalmente, o contraponto emergiu com a contribuição do próprio EUA. Desde 1978, a China havia iniciado a sua virada em direção ao capitalismo, com o controle e o protagonismo de seu Estado e do Partido Comunista. Os chineses levaram adiante uma política que, entre outras coisas, atraiu as multinacionais para produzirem em seu território, acenando com uma força de trabalho barata, educada e disciplinada, além de câmbio desvalorizado favorável. Mas Pequim controlava e dirigia essas empresas para setores específicos que lhe interessavam. Exigia associação (joint venture) com as empresa estatais, com transferência de tecnologia e produção voltada principalmente para exportação. Tal como no judô, utilizou a força do adversário, desviando-a em seu favor, para derrotá-lo.
Em suma, a revolução nacional-democrática e anti-imperialista de 1949 transitou para um exitoso capitalismo nacional-desenvolvimentista. Trata-se de um projeto muito distinto do neoliberalismo, conforme a tradição inaugurada por Frederich List, durante a primeira metade do século XIX, e seguida pela CEPAL, em meados do século XX. Os resultados alcançados, em pouco tempo, foram impressionantes: em 2009 a China se tornou o maior país exportador de bens do mundo e em 2013 alcançou a condição de maior nação comercial (soma das exportações e importações). Atualmente, a China é a principal parceira comercial de mais de 120 países. Na primeira década, após a sua virada em direção ao capitalismo, as suas exportações concentravam-se em petróleo, alimentos e outros produtos primários. Durante os anos 1990, passou a exportar bens manufaturados de baixo valor agregado, como calçados, vestuário, brinquedos etc. Desde os anos 2000, na sua pauta exportadora predominam os equipamentos eletroeletrônicos, máquinas, motores, equipamentos de energia solar e eólica, veículos e materiais de construção.
No comércio de serviços, embora ainda atrás dos EUA, a distância entre ambos vem se reduzindo ano a ano, em razão de suas maiores taxas de crescimento. Segundo estudo recente do Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI), a China vem liderando o processo de inovação em 37 das 44 tecnologias críticas que apontam para o futuro. A participação de empresas chinesas nos mais variados setores de alta tecnologia reflete uma disputa que assume proporções geopolíticas estratégicas. O conflito é acentuado no que concerne à produção, inovação, desenvolvimento e controle dos semicondutores, a denominada “Guerra dos Chips”. Os semicondutores são cruciais para quase todas as tecnologias do mundo atual – o que significa alcançar e se manter na vanguarda da competição econômica, política e militar. É isso que, em parte, explica a tensão entre as duas superpotências tendo por objeto a ilha de Taiwan: nela se localiza a principal fábrica de semicondutores avançados do mundo. É nesse quadro de guerra tecnológica que se situam as sanções impostas pelos EUA à Huawei e outras empresas chinesas.
Em 2013, sob o critério de Paridade de Poder de Compra, a China tornou-se a maior economia do mundo. Segundos diversas estimativas, a China vai ultrapassar os EUA também pelo critério do PIB nominal (medido em dólar) ainda na primeira metade do século XXI. São crescentes a presença e influência das empresas chinesas, através da exportação de capitais (investimentos diretos e financiamentos) para os países periféricos, notadamente na África e na América Latina. Esse fluxo de investimentos externos faz parte de uma estratégia de longo prazo, de internacionalização do desenvolvimento capitalista chinês, denominada “Nova Rota da Seda”1. Trata-se de um megaprojeto de integração de países sob a liderança da China. É uma iniciativa focada nas áreas de transporte, energia, comunicações e comércio entre Ásia, África e Europa. Foi instituída em 2013 e logo se expandiu ao incorporar a América Latina e Caribe. Atualmente 150 países são signatários do Memorando de Entendimento da Iniciativa, que permite reduzir os custos do comércio internacional e alavancar os negócios chineses. Através de acordos bilaterais, para a compra e instalação de equipamentos chineses para portos, aeroportos, ferrovias e estradas, os países que aderem à Iniciativa têm acesso aos créditos chineses. Para isso, a China mobilizou um grande conjunto de bancos públicos e comerciais, além de criar fundos específicos de financiamento e incentivar a participação de bancos multilaterais de desenvolvimento.
Alguns estudiosos consideram essa Iniciativa um novo paradigma de relações internacionais – que confrontaria o unilateralismo/a unipolaridade praticada pelos EUA, constituindo-se no núcleo de um projeto de globalização alternativo ao da ordem neoliberal. Isso teria como sustentáculos a cooperação, os investimentos em infraestrutura e relações nas quais todos os participantes ganhariam. Outros analistas, contudo, compreendem a Iniciativa da Nova Roda da Seda como a tendência ao início de um novíssimo tipo de imperialismo, adaptado às particularidades do século XXI. Questionam o endividamento dos países perante a China e chamam a atenção para o padrão de trocas desiguais (China exportando manufaturados versus parceiros vendendo produtos primários). Seria um novo expansionismo, cuja natureza tenderia a ficar mais explícita no seu processo de desenvolvimento.
Em contrapartida, os EUA vêm passando por um processo de fragilização econômica, convivendo com um montante de consumo que há muitos anos supera a sua capacidade de produção. Isso tem implicado déficits comerciais crescentes gigantescos, financiados pelo resto do mundo através da compra de seus títulos públicos – o que levou a sua dívida pública atingir atualmente 124% do seu PIB. Concomitantemente, o país sofreu um forte processo de desindustrialização, com suas empresas deslocando-se para o leste asiático.
O capitalismo chinês, em seu surgimento, deu um novo alento e impulso ao velho capitalismo, ao viabilizar uma nova fronteira de expansão para a acumulação de capital. Mas, ao fim e ao cabo, o capitalismo nacional-desenvolvimentista de Pequim tornou-se mais dinâmico e vigoroso do que a sua contraparte ocidental. Assim, a China desafia, objetiva e inevitavelmente, o imperialismo e a hegemonia dos EUA.
Desse modo, assiste-se hoje a uma disputa geopolítica agressiva entre essas duas superpotências. O mundo marcha para nova bipolaridade geopolítica mundial. Essa nova configuração conta, no Sul Global, com a presença de outros países importantes como, principalmente, a Rússia e a Índia – que juntos com a China e o Brasil criaram o BRIC em 2006, incorporando depois a África do Sul em 2011 (passando a se denominar BRICS) e mais seis países em 2024. O Brics é um foro de articulação político-diplomática de países do Sul Global tendo como norte a cooperação nas mais diversas áreas. O seu objetivo mais geral é o de aumentar a influência desses países nas decisões emanadas das inúmeras instituições que compõe a presente ordem internacional. Atualmente conta com 11 países membros, alguns deles grandes produtores de petróleo.
Hoje, a hegemonia dos EUA, a rigor, já deixou de existir. O domínio de Washington ainda se mantém pelo seu gigantesco poder militar e o seu amplo controle monetário-financeiro sobre as transações comerciais-financeiras internacionais. O dólar ainda ocupa a posição de moeda de reserva internacional, mas vem sendo cada vez mais contestado com a criação de outros meios de pagamentos desvinculados do seu ecossistema.
Além de estarem sendo superados econômica, comercial e tecnologicamente pela China, os EUA, com seu unilateralismo desrespeitoso e comportamento agressivo nas relações internacionais, têm aprofundado o seu isolamento político. Desconsiderando todas as instâncias e foros internacionais existentes, praticam um negacionismo climático explícito e apoiam ativamente o genocídio praticado em Gaza pelo governo de extrema direita de Israel. Todos esses elementos levaram à perda de hegemonia política e moral dos EUA, isolando-os cada vez mais no concerto das nações.
A atual guerra tarifária dos EUA contra o resto mundo já atingiu 88 países. O imperialismo (sem qualquer disfarce) quer até mesmo determinar com quem esses países podem, ou não podem, estabelecer relações comerciais de importação-exportação. Trata-se de uma iniciativa desesperada para tentar resolver o seu déficit comercial crônico e recuperar o antigo poder de sua economia. Mas não dará certo, “a pasta de dente que saiu do tubo não pode ser devolvida ao seu interior”.
As multinacionais que deslocaram suas plantas produtivas para o leste asiático assim o fizeram em razão das vantagens ali obtidas (câmbio favorável, menor custo da força de trabalho educada e disciplinada, enorme mercado consumidor, etc.), que lhes deram maior competitividade global. Esses capitais não retornarão aos EUA no curto e médio prazos. As maiores tarifas, impostas a milhares de produtos importados de 88 países taxados, terão a curto prazo um forte impacto no nível de preços internos (um “choque inflacionário’). As tarifas reduzirão a renda real de sua população e desorganizarão cadeias produtivas construídas há décadas na economia dos EUA. Adicionalmente, o uso de tarifas para fins políticos, em especial a tentativa de interferir na soberania dos demais países, apenas aprofundará o isolamento do imperialismo estadunidense e acelerará a perda de hegemonia.
Por fim, a guerra tarifária do imperialismo gera o incentivo a todos os países para reduzir a sua dependência comercial com os EUA. Os países atingidos buscam novos destinos, parcerias e acordos que viabilizem suas exportações-importações. Da mesma forma, a permanente ameaça de bloqueio de suas reservas, aplicada em títulos da dívida pública dos EUA, intensificará a busca dos diversos países, sobretudo do Sul Global, por novos meios de pagamentos internacionais, como alternativa ao dólar.
A antiga hegemonia dos EUA não será resgatada através da violência imperialista, seja de caráter militar ou econômico. A mundialização do capital, liderada pelas finanças internacionais e os grandes grupos econômicos financeirizados que moldaram a atual divisão internacional do trabalho, não voltarão atrás. Mas a disputa pela nova hegemonia, entre o velho imperialismo dos EUA e o imperialismo de novo tipo da China (ainda em construção), está em curso. A perspectiva é de um longo período de instabilidade e indefinições no mundo, com o aumento dos riscos de destruição do meio ambiente e a possibilidade de novos conflitos militares, grandes e pequenos.
A convergência entre neoliberalismo e neofascismo tem, como um dos seus aspectos fundamentais, a aliança entre o capital financeiro e as grandes corporações de tecnologias (as big techs) – estas últimas servindo de instrumento para um movimento político e ideológico que promove uma “guerra cultural” infinita em nome de um delirante combate ao comunismo. Trata-se de uma tendência que coloca em questão a viabilidade e continuação da democracia liberal no plano interno dos países, assim como vem deslegitimando todas as instituições internacionais constituídas no pós-guerra. Essas forças empurram o mundo para uma era de grande incerteza. Ademais, a disputa entre EUA e China (e Rússia) fomenta uma nova corrida armamentista, colocando de forma absurda, mais uma vez, a ameaça nuclear.
Do ponto de vista interno da sociedade dos EUA, a disputa política tenderá a se acirrar, podendo desembocar em duas alternativas excludentes, nenhuma delas significando um retorno ao passado, quais sejam: 1- O avanço cada vez maior da extrema direita e a instauração de um regime abertamente fascista, com a destruição dos principais elementos constitutivos de uma democracia liberal; ou 2- A resistência resoluta das forças políticas democráticas, antifascistas, com a mobilização dos movimentos socias e das organizações de trabalhadores existentes. Conseguirão eles, ao mesmo tempo, derrotar a extrema direita e apontar para outro tipo de democracia – não tutelada pelo capital financeiro e os grandes grupos econômicos financeirizados?
1 A antiga Rota da Seda interligava a Europa à Ásia Central, chegando até o Sul da Ásia, incluindo a Índia e a China. Através dela foram transportados a seda chinesa, commodities variadas, metais preciosos tapetes, roupas, vidro, cavalos e escravos. A Nova Rota da Seda estende-se atualmente de leste a oeste, do Pacífico à Europa, com conexões com as regiões oriental e central da Ásia, expandindo-se para Rússia, Europa Central e Oriental e África, atingindo também a Europa Ocidental e até mesmo a América Latina.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras