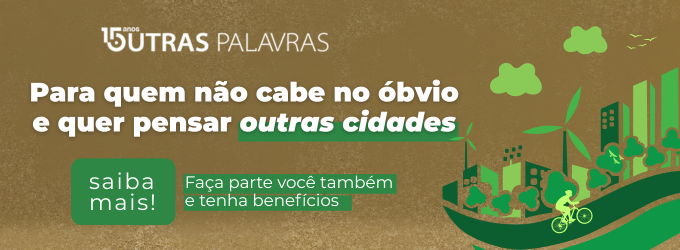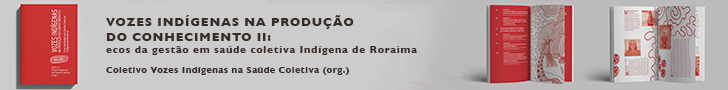Lula III: Para a agroecologia sair do papel
Governo repete vícios anteriores: programas com orçamento pífio e créditos que não chegam aos camponeses mais pobres. Avanços reais ocorrem em municípios e estados, a partir das lutas sociais. Mas falta projeto nacional para o campo, que encare os desafios ambientais futuros
Publicado 22/09/2025 às 17:11 - Atualizado 23/12/2025 às 16:55

Leia a primeira parte: Uma radiografia dos impasses no campo
As políticas públicas para a agricultura familiar no governo Lula III
Neste governo a grande mudança apareceu na definição de objetivos na etapa de transição no final de 2022. O novo MDA passou a definir seus objetivos como os da promoção da agroecologia. A nova linguagem, entretanto, não teve nenhuma incidência nas ações práticas do ministério.
O MDA retomou as mesmas políticas dos governos passados com os mesmos vícios e defeitos, com prioridade para o crédito orientado para o setor modernizado da região Sul e os neocriadores de gado do Nordeste. Mais ainda que nos governos anteriores, a parcela do orçamento dirigida para este crédito e este público ocupa 80% dos recursos disponíveis para os gastos finalísticos. Não há nenhuma orientação ou preferência para um uso do crédito voltado para a agroecologia e talvez isto seja uma benção pois este governo ignora totalmente os condicionantes da agroecologia para operações de financiamento e os riscos de desastre ou fiasco nos acessos seriam grandes.
A única iniciativa nova adotada foi o programa de Quintais Produtivos, muito embora este tenha sido tão mal formulado a ponto de estar condenado ao desastre. Este programa tem o potencial de beneficiar a camada mais empobrecida da AF, os minifundistas do semiárido, sobretudo as mulheres. Mas seria preciso redefinir praticamente todo o programa e multiplicar seu orçamento por cinco, apenas para atingir o público de 90 mil quintais estimado pelo governo, que representa menos de 4% do público potencial.
Quanto ao MDA, pode-se dizer que o ministro não sabe o que fazer e isto não incomoda o governo porque quem não sabe o que fazer não gasta recursos de um orçamento muito baixo. Não há o que se esperar para a agroecologia neste governo.
Um dos programas mais bem avaliados nos governos populares anteriores, o Programa de Aquisição de Alimentos, teve dimensões bastante diminutas. No seu auge, em 2012, investiu cerca de 840 milhões de reais (valor corrente naquele ano, não corrigido) e beneficiou apenas 140 mil agricultores familiares, ou perto de 4% do total. Em 2023, no primeiro ano deste governo Lula III, foram 77 mil agricultores beneficiários do PAA, com um investimento de 1,1 bilhão de reais. Aumentou o valor do financiamento de cada família fornecedora de alimentos, mas em termos de valor atualizado o progresso foi pequeno. Em termos sociais, surgiu uma concentração maior dos projetos em menos beneficiários. Do ponto de vista do apoio à agroecologia, é preciso constatar que menos de 8 mil agricultores familiares forneceram produtos orgânicos ou agroecológicos.
A maior parte do orçamento do PAA é coberto pelo Ministério do Desenvolvimento Social, embora o PAA esteja vinculado ao MDA.
Quanto ao PNAE, não se sabe quantos foram os agricultores familiares que acessaram a possibilidade de fornecer alimentos para a merenda escolar e muito menos quantos ofereceram produtos orgânicos ou agroecológicos. Por experiencia própria, posso dizer que tirando os municípios menores, onde os gestores das escolas conhecem os fornecedores de alimentos e as distancias são relativamente pequenas, os entraves para as compras de produtos da agricultura familiar são enormes, mesmo sem a prioridade para os produtos agroecológicos ou orgânicos.
Sem a organização de uma oferta de alimentos estruturada e sistemática, envolvendo a coleta e entrega coletivas, nenhum gestor de escola vai se meter a procurar os agricultores familiares um por um e contratar entregas em volumes e datas fixas. Quanto maior a demanda de cada colégio mais complexa fica a operação e mais difícil a sua legalização. Estes limitante ficam ainda mais agudos para as compras de alimentos para a merenda dos colégios nos centros urbanos. Para ganhar tempo e evitar riscos da fiscalização todo gerente vai preferir comprar alimentos nos mercados institucionais, no atacado ou no varejo.
Para explorar a oportunidade criada pelas regras do PNAE e, em parte, as do PAA, seria preciso um movimento de organização cooperativa de produtores que atendesse às condições de entrega de produtos em quantidade, qualidade e temporalidade em cada município e cada escola. Sem isso, a lei fica letra morta ou tomada por intermediários não necessariamente vinculados aos produtores. Estas observações valem para projetos de mesma natureza de governos estaduais, embora seja necessário analisar cada caso.
Conclusões
Todos os governos federais desde os anos noventa adotaram essencialmente a mesma política de promoção do desenvolvimento da agricultura familiar, centrada no crédito bancário para financiar insumos químicos, sementes e maquinário no Sul e no Sudeste, ou para financiar as infraestruturas necessárias para a criação de gado bovino no Nordeste.
A grande maioria dos agricultores familiares, sobretudo os mais pobres, ficou à margem das políticas públicas de desenvolvimento, sendo apenas beneficiados pelas políticas sociais.
O impacto destas políticas foi o enriquecimento de uma minoria da AFs, o abandono do mundo rural por quase um milhão de AFs, e a manutenção da maioria na condição de penúria e miséria.
A agroecologia foi adotada na linguagem do governo, mas não na realidade da orientação das políticas públicas federais.
Políticas públicas estaduais e municipais
Durante os mais 40 anos de atividades do movimento agroecológico, desde 1980, as campanhas por políticas públicas em apoio à transição para uma agricultura sustentável estiveram focadas na esfera federal. Com o golpe que derrubou o governo da presidente Dilma Rousseff e o desmonte das políticas conquistadas, foi preciso mudar o foco das reivindicações, centrando-o nas políticas estaduais e municipais.
Tudo começou de forma espontânea, com as bases territoriais de organizações da sociedade civil buscando novos espaços de interrelação com os poderes públicos locais. Às vésperas das eleições municipais de 2020, a Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) fez um levantamento destas campanhas e identificou mais de 700 políticas públicas deliberadas em 531 municípios. Os temas abrangeram a recuperação de sementes de variedades crioulas, fomento à produção e apoio a grupos produtivos de mulheres, processamento (legislação sanitária, estruturação de espaços de armazenamento e de beneficiamento de alimentos), distribuição (apoio a feiras municipais e locais, compras institucionais) e descarte (sistemas ecológicos de saneamento, coleta de resíduos e compostagem).
Esta base de iniciativas locais serviu como referência para a elaboração de uma carta-compromisso modelo, intitulada Políticas de Futuro que buscou a adesão de candidaturas em todos os estados. Foram 1.238 assinaturas, com 14,4% de compromissados eleitos.
Após as eleições, a ANA mobilizou as bases para traduzir estas propostas em políticas concretas, com foco em 39 municípios em 26 estados. Destes esforços resultou a criação de 10 Planos Municipais de Agroecologia, votados nas câmaras de vereadores.
Em 2022, esta iniciativa se repetiu na escala dos Estados, com cobertura neles todos e no Distrito Federal. Foram identificadas 487 políticas estaduais, mas não consegui obter a distribuição nas diferentes unidades da Federação, nem a identificação dos temas mais importantes. Quero crer que os temas não diferem dos que marcaram o levantamento de políticas municipais e, por outras fontes, acredito que os temas das sementes crioulas e do fomento da produção estão entre as de maior destaque.
A ANA não conseguiu, ainda, avaliar o quanto destes compromissos foi transformado em ação pública concreta. Outras fontes, muito parciais, de informação apontam para programas de certa envergadura em apoio à produção agroecológica nos estados da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.
Nos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, os programas de maior peso se vincularam com o projeto da Diaconia, intitulando-se Algodão Orgânico Paraibano e Algodão Orgânico Potiguar. Nestes estados, os governos pegaram carona nos processos em curso de promoção da produção de algodão orgânico e buscaram ampliá-los, levando-os para as bases de atuação das Empresas Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER). Existem links com a iniciativa coordenada pela Diaconia, sobretudo na adoção do modelo técnico e na relação com os compradores, mas quero crer que as experiências correm em paralelo.
Assim como no caso das políticas públicas federais, já comentado acima, estes avanços nas políticas públicas estaduais e municipais tendem a ficar perdidos por problemas de execução. Tal como na esfera federal, existe uma incompreensão dos agentes públicos no que se refere aos princípios da agroecologia e aos conhecimentos técnicos e metodológicos dos agentes executores.
Tanto no caso da Paraíba como no do Rio Grande do Norte, a fragilidade técnica e metodológica dos agentes de ATER governamentais foi identificada pelas empresas compradoras, resultando em dificuldades nos fluxos de produção certificada. Segundo uma delas, entre os mil e tantos produtores familiares assistidos pelo estado potiguar em somente um município, a oferta de algodão manteve estabilidade na quantidade e qualidade do produto, muito embora este município concentre uma boa parte dos participantes do programa. Já na Paraíba, a queixa dirigiu-se a ingerências político-eleitorais no programa, com promessas de pagamento acima do que o mercado estava disposto a assumir.
Sem maior conhecimento do que vem ocorrendo nos programas governamentais, não posso avalizar estas observações, mas a experiência pregressa indica que deve haver algum nível de razão nas críticas.
Ao que pude perceber, os programas governamentais em qualquer nível padecem dos mesmos defeitos: o de querer ampliar muito rapidamente a escala de participação dos agricultores familiares, o de carecer de assistência técnica qualificada em qualidade e quantidade e o de ignorar as peculiaridades da diversidade de situações entre os produtores.
De toda forma, este conjunto aparentemente significativo de iniciativas parece resultar em uma resposta positiva dos poderes públicos frente às campanhas da sociedade civil, mas a precária base conceitual dos agentes governamentais pode resultar em muitos problemas práticos e em eventuais fiascos. Não se pode esquecer a maior experiência de promoção estatal da agroecologia, ocorrida há poucos anos no Sri Lanka. Um novo governo decidiu converter toda a produção do país para a agroecologia, através de normativas nacionais, e deu com os burros n’água em pouco tempo, resultando no abandono da proposta.
Um dos entraves mais importantes para o aumento de escala da produção agroecológica segue sendo a formação técnica e metodológica de profissionais das ciências agrárias e isto não se resolve por decreto, seja ele municipal, estadual ou federal.
As experiências de desenvolvimento agroecológico ou orgânico se dão, na maior parte dos casos, sem o apoio das políticas públicas federais ou estaduais. O seu sucesso e os seus problemas não são o objeto deste trabalho, mas é preciso constatar que faz muita falta uma avaliação geral do que foi acumulado como sucesso e como fracasso nos últimos 40 anos. Analisar as causas de uns e de outros resultados é essencial para poder avançar e influenciar as políticas públicas.
É necessário abrir uma discussão sobre os caminhos mais amplos para a agricultura familiar nas diferentes regiões do Brasil, mas em particular na região Nordeste, que concentra a maioria dos AFs e a maioria dos mais pobres e miseráveis. Este debate deverá levar em conta uma projeção das condições ambientais que vão afetar as diferentes regiões e discutir o que vai ser possível fazer para enfrentá-las.
O que faz falta para definir políticas públicas
Sem um projeto de país e de sociedade, a formulação das políticas fica ao sabor dos interesses de uma ou outra classe ou categoria social, ou ainda de particularismos, ao sabor das pressões dos lobistas e do jogo de poder dos partidos. É o nosso presente caso no Brasil e tem sido assim há muito tempo.
Sem pretender responder a todos os elementos de um projeto nacional, vou indicar algumas ideias força para maiores reflexões no futuro.
Em primeiro lugar, é preciso saber qual é o lugar da agricultura na construção de um futuro sustentável para o Brasil. Tirando a questão da sustentabilidade, os formuladores da política para os AFs nos anos 90 tinham um projeto de sociedade, na verdade, uma cópia do modelo americano. Para eles, a agricultura familiar seria um nicho pequeno em um mercado de produtos agrícolas totalmente dominado pelo agronegócio. Reparem que o papel principal atribuído à agricultura pelos neoliberais de FHC era garantir o balanço de pagamentos do país, mantendo um superavit junto com as exportações de minérios. A produção para o abastecimento interno nunca foi objeto de programas específicos, deixando-se o abastecimento local à mercê dos mercados.
Não é, certamente, isto que queremos para o Brasil.
O papel da agricultura e dos agricultores é, ou deverá ser, muito mais amplo e complexo do que imaginaram os neoliberais. Em primeiro lugar, o objetivo central da agricultura deve ser o de garantir uma alimentação correta em qualidade nutricional e em quantidade para toda a população.
Centrar no abastecimento interno tem a ver com uma análise da crise energética que vai se abater sobre o planeta e que deverá tornar o transporte de bens e pessoas muito mais caro do que hoje e obrigar a uma desglobalização. As economias de energia deverão obrigar uma relocalização da produção agrícola, limitando muito o comércio internacional e até interno em países da dimensão do Brasil.
Reduzir a milhagem viajada pelos produtos alimentares colocados no mercado significa diversificar ao máximo a produção em cada bioma e ecossistema. Isto significa, por exemplo, repensar o consumo diário do pão, elemento central de todas as dietas. Não sendo o trigo uma cultura adaptável em todos os nossos biomas, deveria ser reduzido o consumo do “pãozinho francês” ao Rio Grande do Sul ou ao Sul.
No resto do país teríamos como escolhas a volta da broa de milho (que já foi dominante até os anos cinquenta) ou da tapioca (de mandioca). Existem outras espécies agrícolas apropriadas para biomas e ecossistemas que podem produzir substitutos nutritivos e saborosos para o pão de trigo (ou de centeio), algumas nativas e outras exóticas como o amaranto ou a quinoa. O essencial a se apreender neste ponto é a necessidade de uma nova orientação na dieta e na produção de alimentos de modo a reduzir o investimento em transporte.
A esta nova orientação se agrega a necessidade de se produzir de forma sustentável os alimentos destas novas dietas diversificadas e regionalizadas. A agroecologia é um paradigma de produção que trabalha com a máxima diversidade dos sistemas de cultivo e com a máxima adaptação de espécies e variedades às condições ambientais locais. A sua maior utilização de espécies e variedades no desenho dos sistemas produtivos combina com a oferta diversificada de alimentos para uma demanda que deverá ser mais local, territorial e microrregional.
A agroecologia tem grande economia no uso de energia em comparação com os sistemas convencionais, mas tem baixa produtividade do trabalho na comparação com estes mesmos sistemas. Isto implica que a agricultura terá que se centrar na produção familiar em escala de baixa motomecanização, sempre no sentido de poupar energia (mesmo que eletricidade produzida por ventos ou sol).
Para suprir as necessidades alimentares e outras de origem agropecuária de forma sustentável, serão necessárias (estimativas do autor) cerca de 30 milhões de famílias produtoras, dispondo de 10 hectares em média para cultivos e criações. Isto permitirá a recuperação de centenas de milhões de hectares de terras degradadas e florestas parcialmente desmatadas e queimadas. A recuperação e manutenção das matas brasileiras deverá ocupar permanentemente mais 5 milhões de famílias.
A realocação de 35 milhões de famílias vai ser uma necessidade vital para a sobrevivência da sociedade brasileira e ela vai necessitar de um apoio de pelo menos outras 15 milhões de famílias que se ocuparão da transformação de produtos, do mercado, dos serviços, da construção civil, da educação, da saúde e do lazer em um espaço rural muito mais ocupado do que hoje. Os espaços administrativos terão que ser redimensionados (e muito diminuídos) e se tornarão mais importantes neste novo mundo do que os espaços nacionais e estaduais.
Não é demais lembrar que este modelo de produção e de consumo terá enorme impacto na redução e eliminação das emissões de gases de efeito estufa, aliviando e estancando o processo de aquecimento global hoje em curso acelerado. A mudança na cobertura vegetal promovida pelo modelo agroecológico e pela recuperação das matas nativas vai minimizar a variabilidade da oferta hídrica provocada pelo aquecimento global.
No entanto, precisamos entender que o abastecimento de água não pode seguir o modelo predatório e insustentável do presente. Tanto nas áreas rurais quanto nas urbanas, um vasto processo de construção de infraestruturas de pequeno porte de captação, estocagem e conservação de água de chuva deverá reduzir a demanda dos grandes rios e permitir a recuperação das bacias hidrográficas. Simultaneamente, os serviços de saneamento deverão acompanhar a estratégia de descentralização, gerando um máximo de tratamento local de lixo e de esgoto, diminuindo as emissões de GEE, reaproveitando a água e produzindo composto orgânico para uso na agricultura. Isto poderá resolver um dos maiores problemas da manutenção da fertilidade dos solos cultivados, ampliando em muito o nível de sustentabilidade da produção.
Poderíamos e deveríamos prosseguir discutindo a geração de energia sustentável para substituir os combustíveis fósseis. Por outro lado, não podemos cair na ilusão de que basta trocar um pelo outro. Não vai haver energia em quantidade suficiente para substituir gasolina e diesel ou carvão e gás. Por isso, a importância da relocalização da produção e o encurtamento dos trajetos entre produção e consumo. Isto significa descentralizar a população e diminuir muito as cidades, sobretudo as grandes metrópoles. Vai ser preciso descentralizar a oferta de energia e multiplicar o uso local de painéis solares ou moinhos de vento, abandonando as mega fazendas de vento e de sol. A produção descentralizada é notavelmente mais rentável do que a concentrada, sobretudo pelos custos e perdas energéticas na distribuição de eletricidade produzida de forma concentrada.
O transporte deverá ser o mais racional possível na economia energética e isto elimina o sacrossanto automóvel de uso individual. Os modais de transporte deverão abandonar ao máximo o uso de estradas pelo de hidrovias, cabotagem, trens e metros (nas cidades). O transporte aéreo será necessariamente muito diminuído e dirigido a prioridades sociais essenciais. Vai ser um mundo muito menos conectado diretamente pelo fluxo de pessoas, sobretudo entre os continentes.
Entrando mais em questões específicas, fica a pergunta sobre qual a vocação da agropecuária nordestina, particularmente a do semiárido. Na lógica do liberalismo, a agricultura nos sertões está condenada e cerca de 10 milhões de pessoas deveriam emigrar para outro lugar, deixando as áreas para exploração de minerais, para fazendas eólicas ou solares, e para a criação de gado bovino, algo que faz parte da ocupação histórica destes rincões.
É claro que a solução de retirar a população é sempre um choque, mas o capitalismo nunca hesitou em aplicar soluções drásticas. O que é real e tem que ser levado em conta é que as terras estão muito desgastadas, que a irregularidade das chuvas é cada vez maior e que 1,5 milhões de AFs que vivem na região estão e sempre estiveram na miséria. O que propor para eles?
Guimarães Duque, entre outros ilustres estudiosos do bioma caatinga, do clima semiárido e do potencial produtivo da região, indicaram há muito tempo que a vocação dos sertões nordestinos era a criação de gado bovino e, sobretudo, caprino e ovino. Pesquisadores da Embrapa Caprinos em Sobral desenvolveram propostas de manejo da caatinga que permitem dobrar a carga animal de caprinos, de forma sustentável e mantendo a vegetação nativa. Outros estudiosos mostraram que se pode manejar as plantas xerófilas da caatinga de modo a fornecer forragem farta mesmo nos períodos de seca, para qualquer tipo de gado.
Os estudos em questão não enfrentaram o problema da oferta hídrica para os rebanhos. Isto foi feito em outra linha, desde os tempos do império, com a política de “combate à seca” através da construção de barragens e açudes de tamanhos muito variados. Todos os rios perenes do Nordeste estão barrados em vários pontos e até os temporários o são também. O excesso gerou um problema generalizado de salinização dos corpos d’água pelo fato do volume circulante ser insuficiente para sangrar as barragens.
Os grandes criadores de gado bovino nunca tiveram problemas maiores com falta de água para o rebanho beber, já que em suas imensas terras sempre era possível construir infraestruturas de retenção e/ou captação de água. Só nas super secas ocorreram perdas muito elevadas por morte de sede ou fome. Os rebanhos dos latifundiários sofriam e emagreciam, abortavam crias ou adoeciam por efeito das grandes secas, mas os pequenos criadores de caprinos podiam, muitas vezes, perder tudo. Acesso a reservas de água é e sempre foi uma questão estratégica para todos os produtores, com consequências trágicas para quem não o tem.
O futuro da agricultura familiar no sertão vai ter que passar por sistemas diversificados, típicos da agroecologia, mas com algumas especificidades.
Em primeiro lugar, vai ser preciso oferecer infraestruturas de captação de recursos hídricos de forma também diversificada, com cisternas de placas para consumo da casa, barreiros trincheira para animais beberem, cisternas calçadão e barragens subterrâneas para quintais de autoabastecimento e pequenos excedentes para os mercados locais. Sistemas irrigados, estes modelos independem da regularidade das chuvas e sim do volume total chovido. Um ano seco que entregue 400 mm de chuva captado nas diferentes estruturas citadas permite atravessar o ano sem perdas maiores.
As infraestruturas citadas e outras de pequeno porte permitem manter entre 1,5 e 2,5 hectares “molhados” ao longo do ano e garantem uma alimentação em hortas, pequenos roçados e pomares para uma família de até cinco pessoas, com vendas de excedentes aos mercados locais e de vizinhança. Isto permite a estas famílias sair da miséria e garantir a alimentação, mas não lhes dá promessas de uma vida mais digna, mesmo na suposição de um consumo total dentro do essencial. Qual seria a fonte de renda maior? Qual seria o produto de mercado?
Não há um produto único, mas o critério seria um produto vegetal ou animal resistente à seca.
No caso dos animais, a resposta seria a criação de ovinos deslanados ou caprinos e existem várias raças bem adaptadas tanto ao estresse hídrico quanto à alimentação rústica, as pastagens nativas da caatinga. Tudo depende mais do tamanho da área disponível para este pastejo natural e da possibilidade de reservas de água.
No caso das plantas, o algodão mocó é o candidato mais evidente, desde que possa usar de irrigação, pelo menos de salvação. Outras plantas têm muito potencial, como a mamona e o agave que já foram exploradas no passado, ou o pinhão bravo, objeto de estudos nunca terminados. Todas são plantas com alto potencial de mercado, mas com cobrança de experiências concretas para que se possa propor a sua generalização. De qualquer forma, estas são apenas sugestões e as respostas podem ser muito variadas e diversificadas.
É claro que estas ideias enfrentam problemas de todo tipo ao sair do papel para o mundo real. A criação de caprinos, por exemplo, entrou em declínio após ter sido uma marca do sertanejo nordestino, devido a uma aparente benesse do legislativo.
No começo dos anos 80, foi votada uma lei que se chamou no vulgo de “lei da cerca”. Teoricamente, ela visava impedir que os criadores de gado bovino deixassem suas manadas invadirem as lavouras dos agricultores familiares. Os latifúndios foram obrigados a cercar as suas terras e manter o seu gado dentro delas. Ocorre que a lei de cercas também obrigou os agricultores familiares a cercarem as suas terras e manterem suas cabras dentro delas.
O custo para cercar as terras e para dividir os pastos nas propriedades dos AFs foi enorme e difícil de executar, sobretudo porque o gado caprino é de tipo arisco e capaz de passar cercas de muitos fios farpados. Além disso, o fato de que cessou de existir o pastoreio extensivo na caatinga, a carga animal possível dentro das cercas dos AFs ficou menor do que no sistema anterior. O resultado foi a diminuição dos rebanhos ou o sobre pastoreio, implicando no desgaste da vegetação e dos solos.
Por ser um gado mais fácil de controlar e manejar, muitos AFs passaram a trocar caprinos por ovinos. Foi uma solução muito parcial, dado o mercado de carne de ovelha ser muito menor do que o de cabra e pelo fato de que os roubos de ovelhas são mais fáceis do que os de cabras. Por estes efeitos, os criatórios de caprinos e ovinos diminuíram muito no semiárido.
Para concluir, não tenho resposta para estas perguntas aqui levantadas a não ser do ponto de vista dos critérios a aplicar para obter as respostas. Mas defendo que este debate seja conduzido de forma ampla pelos movimentos sociais, pelas organizações de apoio e pelos meios científicos do Brasil, de forma regionalizada e até territorializada, pois acredito que as respostas serão também diversificadas.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.