Visões indígenas: quando nasce o mundo das diferenças
O primeiro livro de autoria indígena no Brasil, de 1980, nunca foi tão atual e necessário. Em contraste com a monocultura colonial e cristã, em sua cosmologia os diferentes não se anulam nem se resolvem – mas, ao contrário, nutrem-se entre si
Publicado 04/05/2023 às 18:53 - Atualizado 11/08/2023 às 16:45

Por Álvaro Faleiros na coluna Visões indígenas em tradução
Leia os outros textos da coluna Visões indígenas em tradução.
A publicação em 2021, pela editora Valer de Manaus, da quarta edição daquele que se costuma considerar o primeiro livro escrito por indígenas no Brasil, intitulado Antes o mundo não existia, dos autores do povo Desana, Umúsin Panlón Kumu (Firmiano Arantes Lana, 1927-1990) e Tolamán Kenhíri (Luiz Gomes Lana, 1947-) situa-se num momento ímpar da história do Brasil.1 A primeira edição foi publicada pela Livraria Cultura Editora em 1980.2
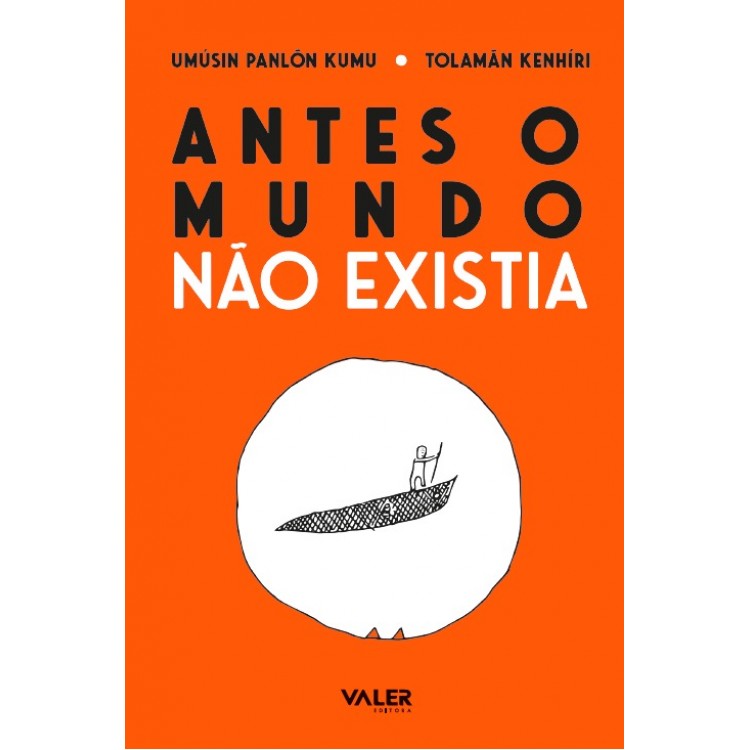
De fato, um dos acontecimentos mais marcantes de nossa história nas primeiras décadas do século XXI é o aumento exponencial do protagonismo de artistas e pensadores afrodescendentes e indígenas na cena cultural e intelectual do país. No que concerne aos primeiros habitantes do país, a atual criação do Ministério dos Povos Indígenas é uma reparação mais que bem-vinda, necessária, ainda que tardia. É também uma prova da relevância crescente desses povos na luta em curso pela refundação do Brasil. Trata-se de uma resposta que ativa as mais altas e profundas frequências de nossa existência; um caminho inevitável para a superação do nefasto sequestro de mentes e espíritos que a evangelização militante e ideológica produz. Estando esta amparada na própria crença de que devemos todos nos curvar à monocultura cristã, essa evangelização que segue em curso encontra-se descrita nesse livro. No terceiro capítulo, intitulado “como a humanidade emergiu à superfície da terra”, apresenta-se a ordem de surgimento dos humanos, sendo os Tukano e os Desana os primeiros. Cabe aos brancos a última posição, descrita da seguinte maneira:
O sétimo a sair foi o branco, com a espingarda na mão. Então, Ëmëkho sulãn Panlãmin disse: “Você é o último; dei aos primeiros todos os bens que eu tinha. Como é o último, deve ser uma pessoa sem medo. Você deverá fazer a guerra para tirar a riqueza dos outros. Com isso encontrará dinheiro”. Quando Ëmëkho sulãn Panlãmin acabou de dizer isso, o primeiro branco virou as costas, deu um tiro de espingarda e saiu para o Sul. Entrou na vigésima primeira casa, situada em São Gabriel. Aí mesmo fez a guerra. Na pedra que existe nesse lugar, veem-se figurinhas parecidas com soldados, com capacete e espingarda, todos ajoelhados dando tiros. Já que Ëmëkho sulãn Panlãmin deu ao branco o poder das guerras, a guerra é, para ele, uma festa. Por isso os brancos fazem a guerra.
Essa descrição — gravada nos petroglifos existentes até hoje na região — infelizmente representa com crueza a dura condição imposta aos indígenas pelo branco. Este é visto, com razão, como um ser afeito à guerra, fazendo de sua espingarda um fatal lançador de fogos, aparato indispensável nas mais altas celebrações e demonstrações de força do poder instituído. As consequências desse festim da morte promovido pelo branco ressurge no quinto capítulo. Ao descrever o destino de Ëmëkho mahsãn Boléka, chefe supremo e ancestral dos Desana, os narradores contam:
(…) chegaram os primeiros brancos. Depois, chegaram os brancos que agarravam indígenas; cercaram a maloca de Boléka, mas não puderam penetrar dentro dela. Suas pernas ficaram moles, não tinham força para andar. Voltaram uma segunda vez, cercaram a maloca e aconteceu a mesma coisa. Tornaram a voltar e sucedia o mesmo. Vendo isso, os brancos perguntaram aos indígenas de outros povos por que não podiam entrar na maloca de Boléka. Responderam que Boléka tinha Ngoamãn (Criador; também um amuleto que ficava no meio da porta do quarto de Boléka), que o defendia (…) Inteirando-se disso, os brancos voltaram pela quarta vez. A primeira coisa que fizeram foi derrubar Ngoamãn com um tiro de espingarda (…) Boléka levou consigo seus poderes, ao ser arrastado pelos brancos.
A luta de resistência à invasão surge aí recontada, até que se torna impossível para os Desana resistir às investidas dos brancos, ajudados por outros povos inimigos. Vencido pelos tiros de espingarda, que atingem o escudo de proteção espiritual, o chefe, supremo e ancestral, Boléka cai na mão dos brancos, levando consigo seus poderes. Desprotegidos, os descendentes do povo Desana sucumbem então às investidas do “padre, com o livro na mão”. Como se sabe, os salesianos durante décadas, foram responsáveis pela catequização e aculturação desse povo amazônico.

Paradoxalmente, como observa o antropólogo Samir Ricardo Figalli de Angelo,3 coube também a um padre salesiano chamado Casimiro Béksta despertar o interesse dos Desana em registrar seus conhecimentos ancestrais incentivando seus alunos a escrever, desenhar e gravar as histórias que escutavam em suas comunidades quando deixavam os internatos no período das férias escolares. Esse desejo do padre em aprender as narrativas para registrá-las atiçou a curiosidade de jovens, entre eles Feliciano Lana, que acabou produzindo um número considerável de desenhos. Quando Luiz Lana, filho de Firmiano, então chefe dos Kehíriporã e primo de Feliciano, notou os desenhos que estavam sendo feitos, se sentiu motivado a participar desse trabalho, mas, em vez de desenhar, optou por escrever as mitologias do seu grupo. São elas que formam o livro Antes o mundo não existia.
Essa obra é constituída por quatorze capítulos nos quais são narrados os mitos mais importantes da cultura Desana na versão do seu grupo de descendência, os Ke ̃híripõrã ou “Filhos (dos Desenhos) do Sonho”. Há também desenhos de Luiz e de Feliciano, um glossário de plantas e animais e uma introdução escrita pela antropóloga Berta G. Ribeiro, datada de 1978. Como se pode observar pelos trechos acima, as narrativas já incluem em sua cosmovisão o contato com o branco e com sua religião, o que não impede os autores de o fazerem dentro de uma estrutura narrativa bastante distinta da nossa. Como bem aponta a pesquisadora Lúcia Sá,4 as histórias indígenas da Amazônia não costumam se estruturar em torno da possibilidade de haver um final feliz ou a resolução de um conflito. Como observa:
Embora o casamento nessas narrativas sirva de metáfora para um contrato social entre espécies, esse contrato não se baseia na eliminação de conflitos ou diferenças. Pelo contrário: conflitos e diferenças podem ser problemáticos e perigosos, mas também são produtivos na medida em que provocam mudanças. Talvez porque o casamento em si não seja visto nessas sociedades como uma aliança cujo propósito é eliminar as diferenças (tornar-se um), mas, em vez disso, como aliança entre partes cujas diferenças não podem (e não devem) ser apagadas ou esquecidas.

Um dos exemplos que ela utiliza é o penúltimo capítulo de Antes o mundo não existia, intitulado “O mito de Gãipayã e a origem da pupunha” (doravante “Gãipayã”). Nele, descreve-se o casamento entre um humano (ou proto-humano) e um animal: uma cobra de rio, no caso, uma sucuri. No início, há um primeiro problema quando o casal descobre que não podem fazer sexo porque a mulher-cobra tem piranhas na sua vagina, mas o problema é resolvido rapidamente com a retirada das piranhas de seu ventre pelo herói.
Como é típico nesse gênero de história, as personagens proto-humanas viajam para a casa de suas noivas e lá se engajam em discussões sobre diferenças em suas visões de mundo. Em Gãipayã, a noiva leva o herói para conhecer o sogro, que também é uma sucuri, no fundo do rio. Ao chegar, depara com diferenças em suas dietas. O sogro fica interessado em comer o marido da filha e prepara uma série de tarefas impossíveis para ele: se o genro não conseguir completar a tarefa, então, será comido. O genro consegue cumprir a tarefa, com a ajuda de diversos animais, para a surpresa e decepção do sogro. No final, o genro humilha o pai de sua esposa e rouba uma semente de pupunha, palmeira muito utilizada na alimentação humana. Não há nenhuma resolução permanente de conflito, pois o genro ensina uma lição ao sogro sem haver mudança no comportamento deste ou qualquer indicação de como será a relação entre o marido e a mulher a partir de então. O grande acontecimento é o roubo da semente da pupunha, tornando-a cultura humana, domesticada e cultivada no solo.
O motivo explicativo final tem também um componente temático e filosófico relevante: a esposa e o marido percebem que o que cada um vê como uma coisa, o outro vê como outra. Essa diferença de pontos de vista aparece, primeiro, quando a personagem humana traz a esposa-cobra para casa, ele se dá conta de que ela come gafanhotos e formigas: “percebeu que havia uma diferença alimentar entre eles, mas não deu muita atenção a isso”. Em seguida, quando ele é levado para conhecer o sogro, este pergunta à filha o que o marido come. Ela responde que ele come a sua gente, ou seja, peixes. Um pouco triste, o pai diz que tem um velho servo da etnia Maku e que vai matá-lo para alimentar o genro… Depois de alguns dias, ele pergunta ao genro se ele tem algum inimigo. Gãipayã responde afirmativamente e o velho então pede que ele o traga para alimentá-lo. Há, pois, uma descoberta mútua de que uns podem se tornar comida dos outros: os homens comem peixes e as cobras (sucuris) comem homens.
Lúcia Sá destaca ainda que o casamento e a incompatibilidade entre a noiva ou o noivo e a sua família não se resolve.
É como se a história começasse no momento em que as narrativas tradicionais do ocidente tendem a parar. Ao mesmo tempo, não há censura a nenhuma das partes e ainda menos qualquer sugestão de que casais tão diferentes nunca deveriam ter ficado juntos. Ao contrário, o casamento traz como resultados importantes mudanças culturais. Nem os protagonistas humanos e nem os animais tentam convencer os companheiros, ou as famílias dos parceiros, a mudar a dieta ou os hábitos. A incompatibilidade entre eles não é uma ilusão ou um mal-entendido, já que humanos de fato comem peixes, as grandes cobras do rio podem comer seres humanos. O enredo dessas narrativas não se baseia na eliminação das diferenças, mas na reafirmação.
Em suma, uma cosmovisão baseada na diferença em vez da identidade gera outra forma de narrar, que privilegia não a resolução definitiva de desordens (o fim da história), mas vínculos temáticos entre conflitos deixados total ou parcialmente em aberto. “Em vez de resolução, o que move essas narrativas é a transformação, entendida não como mudança definitiva de um estado a outro, mas como um processo contínuo e permanente”, acrescenta Lúcia Sá.
À tradução cultural dos modos de narrar e das cosmovisões que Lúcia Sá opera em sua análise e de como ela equivoca nosso modo de compreender “o fim da história”, acrescentamos ainda mais uma discussão envolvendo o processo de tradução do livro e o que nela está implicada.
Na sua introdução, Berta G. Ribeiro lembra que Firmiano, o líder espiritual (kumu) de seu povo, nunca quis aprender português. Luiz Lana, seu filho, começou seu trabalho transcrevendo em desana as narrativas ditadas pelo seu pai. Coube a Ribeiro, segundo ela: “precisar passagens ininteligíveis ou obscuras; melhorar a redação, mantendo dentro do possível, o espírito e o estilo do original; traduzir literalmente ao português, palavra por palavra, na ordem em que apareciam, as expressões em desana que Luiz Lana havia deixado”.
Entre as alterações de redação, ela dá como exemplos: a expressão “ancestral” em vez de “vovô”; “descendente” em vez de “filho”; “enchente” em vez de “dilúvio”; “Criador” no lugar de “Deus”. Veem-se claramente as implicações desse tipo de transformação: o modo familiar de se pensar a transmissão é substituído pelo modo mais neutro, científico; o modo cristão de se pensar o divino é, em certo sentido, “reindianizado”. Nos dois primeiros exemplos nos distanciamos do modo indígena, nos seguintes apagam-se as marcas cristãs já incorporadas ao modo desana de se relacionar com a transcendência naquele contexto. Essa negociação de sentidos revela o quanto esta obra, pedra fundamental da cultura brasileira, é, em si mesma, reflexo dos processos de transformação que nos caracterizam e, a partir dos quais, seguimos aprendendo a conviver com as diferenças ao recontar, uma vez mais, ao nosso modo, essa história sem fim.
Notas
1. Com efeito, como aponta Amanda Machado Lima em sua dissertação de mestrado O livro indígena em suas múltiplas grafias (2012), há um livro que o antecede, intitulado Aypapayũ’ ũm’ũm ekawẽn: Histórias dos antigos, publicado em três volumes, em língua munduruku, português em 1978. Essa obra, contudo, segue em grande medida desconhecida.
2. A segunda edição, de 1995, foi publicada em São Gabriel da Cachoeira, pela UNIRT/FOIRN, como o Volume 1 da Coleção Narradores Indígenas do Rio Negro. A terceira, feita pela Dantes editora, saiu em 2019. A existência dessas quatro edições, ao longo de mais de quatro décadas, sendo duas na região sudeste (São Paulo e Rio de Janeiro) e duas no Amazonas, atesta o alcance e a vitalidade desta obra fundante.
Note-se que a coleção Narradores Indígenas do Rio Negro é um marco na história da escrita da memória e da história dos povos indígenas da Amazônia. Constituída, até onde conhecemos, por nove volumes, a coleção foi publicada essencialmente ao longo de pouco mais de uma década, entre 1995 e 2006 (oito volumes). Um nono volume, intitulado Ennu ianáperi : história dos Tariano pelo clã Khoivate, saiu em 2018. Este, e alguns outros volumes da coleção, encontram-se disponíveis para download no acervo digital do Instituto Socioambiental (ISA). https://acervo.socioambiental.org/adv-search?form_id=advanced_search_form&form_build_id=form-GvVc2qMfP_4gMy9wnbooXedOjlEaNSkrWCiycc2kB1I&search_term=narradores&field_data_inicial=&field_data_final=&content_type=book
Pelo que pudemos apurar, apenas Antes o mundo não existia segue sendo editado, sendo os outros, ainda, de baixíssima circulação.
3. Samir Ricardo Figalli de Angelo. “Livros e Dabucuris. Continuidades e transformações nas formas de atualizações de diferenças entre os grupos Desana do Alto Rio Negro”. Rev. antropol. (São Paulo, Online) | v. 63 n. 1: 83-104 | USP, 2020.
4. SÁ, L. Histórias sem fim: perspectivismo e forma narrativa na literatura indígena da Amazônia. Itinerários – Revista de Literatura. 2020, n. 51, p. 157-178.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras


