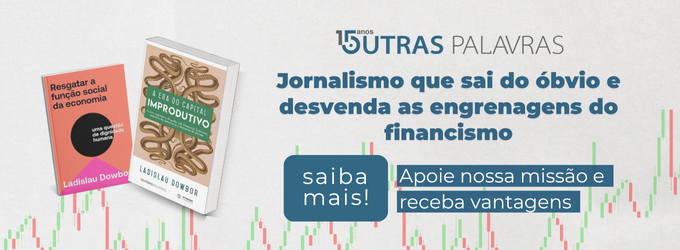Lilia Schwarcz: O Brasil das tentações autoritárias
Intelectual analisa o trauma coletivo deixado pelo colonialismo – e como a distorção da História tornou-se arma da ultradireita. Aponta a urgência da Academia disputar as redes. E provoca: apesar de sempre inconcluso, qual o nosso projeto de democracia para o futuro?
Publicado 22/10/2025 às 19:38 - Atualizado 22/10/2025 às 19:40

A democracia dança na corda bamba de sombrinha e, em cada passo dessa linha, pode se machucar. Talvez essa leve paráfrase da canção “O Bêbado e a Equilibrista”, composta por João Bosco e Aldir Blanc (imortalizada na voz de Elis Regina), sintetize um Brasil atrapado entre as heranças coloniais, com autoritarismo sempre à espreita, as tentativas de reconstruir um projeto de nação soberania, a partir da justiça social. A historiadora Lilia Schwarcz, nesta entrevista, analisa os impasses ainda nunca resolvidos no país, como o racismo, a concentração de poder e a falta de universalidade de direitos, que tornam o regime frágil — embora tenha sua beleza “porque na democracia sempre cabem mais direitos”, apesar de falácias “porque é preciso lutar por direitos, conquistar direitos”, diz.
Para enfrentar enormes desafios, a historiadora defende que intelectuais disputem narrativas nas redes sociais com rigor, sem preconceito — com a função pública de combater a desinformação, uma arma poderosa da ultradireita. E que a memória deve ser disputada: não necessariamente pela destruição de monumentos — simbólicos ou não, como o caso Borba Gato — mas pela crítica e a criação de novos símbolos que mostrem outros brasis, distintos da visão ocidental, masculina e branca.
Em seus trabalhos, a longa duração das nossas estruturas autoritárias é um tema central. Diante do trauma recente e da contínua tensão na nossa democracia, a senhora diria que vivemos um capítulo novo desse processo ou uma reencenação, com novas roupagens, de impasses que nunca resolvemos de fato?
Bom, a resposta pra primeira pergunta… é, sim, eu sempre penso que história é o que muda, mas é também o que reitera. Porém, eu não tenho a pretensão de fazer uma espécie de determinismo histórico. A minha inquietação vem a partir da ideia que certos elementos da nossa estrutura ainda persistem, como a desigualdade, o racismo — que é um legado perverso da escravidão —, a grande propriedade, a concentração de poderes. Então, esses são temas da nossa agenda do passado e da nossa agenda do presente.
Acabamos de passar por um episódio que mostrou como as instituições brasileiras funcionam… Então, se a democracia não é frágil, como toda democracia, eu diria, ela é incompleta. Ela é incompleta porque no Brasil nós não temos uma universalidade de direitos. Se não existe uma universalidade de direitos de maneira universal, eu diria, no caso brasileiro – que segundo pesquisas recentes, é o país mais desigual da América Latina e o sétimo país mais desigual do mundo – há diferenças no acesso aos direitos civis, econômicos, políticos, o que torna a nossa democracia ainda mais frágil. E, sobretudo, é uma democracia que está sempre em perigo, no sentido do crescimento dos discursos populistas, como nós temos visto agora em escala global.
Não dá pra dizer que é a mesma coisa, porque cada momento, cada contexto apresenta novos desafios. E nós estamos aqui nesse desafio de pensar o que é esse mundo das redes sociais e esse mundo em que novos autocratas — no masculino mesmo, brancos em geral — têm compartilhado essa forma, essa maneira de governo, né? Um governo muito populista e muito autoritário, pautado na coerção e pautado na censura.
Então, pra repetir: sim, história é feita de reiteração, mas é também feita de mudança. E, por outro lado, a história nunca se repete igualmente. E é preciso também pensar nos desafios tendo em vista os perfis mais contemporâneos.
A senhora dedicou parte fundamental de sua obra a desnudar o mito da democracia racial. Hoje, com o avanço dos debates e das políticas afirmativas, a senhora percebe uma fratura real no “pacto da branquitude” ou uma reacomodação de suas estruturas de poder, talvez de forma mais sutil?
A pergunta é excelente e muito difícil. Eu tenho estudado sim o mito da democracia racial e, sobretudo, o papel da branquitude. Essa presença ausente é o tema do meu último livro: Imagens da Branquitude: A Presença da Ausência (Companhia das Letras, 2024).
A branquitude é uma espécie de classificação em que aqueles que elaboram a classificação não se autoclassificam — as populações brancas que se entendem como neutras e sem raça, quando têm raça, sim. A branquitude é uma espécie de norma… que vale para os outros, mas não para aqueles que realizam essas normas e que não se nomeiam. Por isso, ela é um pacto silencioso, né? Um pacto narcísico, como diria a Cida Bento.
No entanto, desde os anos 1970, da década de 70, e graças aos movimentos negros, o tema tem aparecido de maneira mais frequente na nossa agenda contemporânea. Isso tem criado um processo muito importante na sociedade brasileira, em que não é mais tão fácil negar a existência de preconceito racial, como era comum até antes desse período. As pessoas simplesmente negavam o racismo. Agora, a questão das cotas, a questão das ações afirmativas, estão mais presentes no ambiente educacional, até no empreendedorismo, eu diria. Essa é uma ferida profunda da sociedade brasileira.
Nós costumamos falar de traumas no sentido mais individual. Que o trauma produz silêncios, se ele não for tratado, veiculado, vocalizado. Mas eu penso em traumas também no sentido coletivo. A questão racial no Brasil é um tema que durante muito tempo ganhou o nosso silêncio. E o silêncio não é bom para lidar com traumas e grandes contradições.
O Brasil, nós sabemos, foi o último país a abolir a escravidão mercantil. Existem ainda outras formas de escravidão no Brasil, porque a escravidão virou uma linguagem no país. O Brasil teve escravizados e escravizadas em todo seu território e foi o país que recebeu o maior contingente de pessoas negras sequestradas do seu continente africano e provenientes de várias nações. Isso tudo criou uma naturalização da desigualdade. Ou seja, racismo virou uma linguagem. Uma linguagem no Brasil! E é preciso que nós enfrentemos essa grande contradição. Como? Tratando dela, falando dela.
Diferente dos Estados Unidos, em que a população autodeclarada de African-American é uma minoria, corresponde de 13 a 17% a depender do censo, no Brasil estamos falando de uma população que é maioria: 56,4%, segundo o último censo – se nós colocarmos juntos o critério de pessoas pretas e pardas, conforme a classificação do IBGE.
Então, como diz Richard Santos, e eu também trabalho muito com esse conceito, estamos nos referindo a maiorias minorizadas na representação. Então não é verdade que superamos essa questão. Claro que não. Ah, mas pelo menos estamos veiculando, falando dela.
Agora, eu temo o futuro porque esses mesmos governos autocráticos, ao que eu me referi, têm produzido uma espécie de backlash. Já é muito visível nos Estados Unidos como a discussão da questão racial e de políticas de afirmação positiva não têm mais o mesmo impacto que existia anteriormente, haja visto empresas como a Google que tinha práticas de ação afirmativa e as têm retirado crescentemente. E esse discurso tem ganhado também impacto no Brasil.
Então, será preciso avaliar o que vem por aí, mas é preciso que a sociedade civil brasileira se mobilize por direitos. E nessa mobilização, não podem ser apenas e tão somente as populações discriminadas, as populações negras. É preciso que a branquitude assuma o seu lugar. “Branquitude” eu não uso como categoria de acusação, não é isso, mas como algo que precisa se converter numa ferramenta de análise para que a gente possa, de fato, enfrentar essa que é uma das grandes contradições da sociedade brasileira e que está na base da nossa desigualdade social.
Sendo uma das mais importantes intelectuais públicas do país, como a senhora enxerga o papel do historiador hoje? Em uma era de revisionismos instantâneos e da velocidade das redes sociais, como podemos disputar a narrativa do passado de forma eficaz, mas sem abrir mão do rigor?
Deixo essa definição de “mais importantes intelectuais públicas do país”, com certeza não sou, mas posso responder à questão. Eu não tinha antes redes sociais, entrei por conta de Jair Bolsonaro, do contexto do bolsonarismo e do revisionismo, pois ele usou a história como uma espécie de player. A história que ele recontava, tanto na ideia de que nós não tivemos uma invasão, mas um “descobrimento”, e o papel da Igreja, mas sobretudo o revisionismo no que se refere à ditadura militar, a qual elogiava. Ele tentou apagar, como diz Heloisa Starling, a máquina de morte produzida pela ditadura.
Fui às redes justamente para combater esse tipo de discurso. Eu acho que durante muito tempo, os setores progressistas agiram com muito preconceito com as redes sociais. A primeira eleição no Brasil ganha pelas redes sociais foi de Jair Bolsonaro. E os setores progressistas não estavam preparados para isso. Como não estão. Ainda, eu devo tudo à academia, à USP, sou uma pessoa formada pela universidade pública de qualidade, mas durante muito tempo a universidade teve muito preconceito com relação a esse tipo de produção de boa informação.
Eu sou uma pessoa que acredito na boa informação. E essa boa informação precisa ganhar o tamanho, o local, a plataforma que for necessária. E eu trabalho muito com releituras, com essa ideia de contramemórias, e trabalho muito com imagens também. E como as imagens têm sido profundamente manipuladas sem uma leitura crítica das mesmas.
É possível manter o rigor. Continuo publicando os meus livros, publicando ensaios em revistas acadêmicas, participando de núcleos de pesquisa do CNPq, dou aulas na USP e em Princeton, mas acho que nós precisamos disputar esse espaço das mídias sociais com qualidade, com boa informação. Não só os excelentes jornalistas investigativos, mas também historiadores, cientistas sociais de uma forma geral, no sentido de dar informações avalizadas para a população.
O debate global sobre a ressignificação de monumentos e da memória pública tem sido intenso no Brasil. Como a senhora, que estudou a fundo a construção dos nossos símbolos nacionais, analisa esse processo? Trata-se de um necessário acerto de contas com o passado ou corremos o risco de cair em anacronismos que mais apagam do que iluminam a história?
A história sempre foi feita a partir de novas perguntas. Então, nós vivemos, sim, um novo momento em que consideramos que a nossa historiografia, durante muito tempo, foi uma historiografia muito pautada por modelos ocidentais de produção do passado. Uma historiografia que usava de fontes muito coloniais, muito masculinas e muito brancas. Há todo um movimento historiográfico da maior importância – e não se trata de destruir nada, mas de acrescentar muito.
Por exemplo, no que se refere à história da nossa Independência. Não vamos negar que existiu o 7 de setembro de 1822. Mas é preciso dizer o contexto em que o evento aconteceu, cuja significação só foi crescentemente construída, primeiro por Pedro I, em 1823, que foi o primeiro a mencionar o “grande evento às margens do Ipiranga”, e depois em 1922, quando São Paulo, de alguma maneira, sequestra a independência para um universo paulista, aventuroso e progressista.
Hoje, nós sabemos também que o 7 de Setembro foi começo de conversa, não final. Se a gente for pensar o processo de independência na Bahia, foi um processo muito mais popular, com mais lutas. Então, esse mito da nossa independência pacífica, palaciana, precisa ser revisto.
Como faremos isso? Aí, vamos estudar. Particularmente, não me parece que vamos destruir monumentos, não é dessa maneira. Nós precisamos, isso sim, é questionar esses monumentos. Precisamos entender por que 97%, num levantamento que fizemos há pouco tempo na USP, dos monumentos são eminentemente de homens e homens brancos. Por que é que nomes de avenidas ainda mantêm homenagens a ditadores?
Então, a minha perspectiva não é de eliminar nada, mas tornar a nossa visão muito mais crítica. E, no que se refere aos monumentos, produzir outros, alternativos, que tenham mais mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas, outros eventos históricos. Assim como devemos questionar, sim, figuras como os Bandeirantes, que foram, de fato, apresadores de negros e apresadores de indígenas.
Não vale contar a história pela metade. É melhor que a gente conte a história a partir desses vários ângulos. Só assim teremos uma história de braços dados com a democracia.
Se Brasil: Uma Biografia ganhasse um novo capítulo, não sobre o passado, mas como uma prospecção para as próximas décadas, qual seria o conflito central, o principal enredo, que a historiadora Lilia Schwarcz identificaria como definidor para o futuro do país?
Olha, a última pergunta, Heloisa [Starling, historiadora] e eu estamos trabalhando em um novo capítulo, por coincidência. Não vamos reescrever o livro, mas vamos incluir bastante coisas: a importância de personagens femininas; não só numa perspectiva de transformar mulheres em heroínas, mas de incluir mais diversidade, de tornar a nossa história mais interessante nesse sentido.
O livro foi publicado há 15 anos e o Brasil passou por muitos processos. O governo Jair Bolsonaro foi muito significativo. Talvez a grande questão seja: que democracia nós estamos falando? Que democracia nós queremos? Uma vez que conceitos como democracia e livre arbítrio passaram a fazer parte de um grupo de extrema direita que os maquiou de forma muito clara e muito séria…
Se formos escrever, será isso: de que democracia nós falamos agora, em 2025, e que projeto temos de democracia para esses anos futuros, pensando-a sempre como um projeto inconcluso. Essa é a falácia e essa é a beleza desse regime. Beleza porque na democracia sempre cabem mais direitos. Falácia porque é preciso lutar por direitos, conquistar direitos.
***
Após a entrevista, por mensagem de texto, a Lilia Schwarcz destacou um ponto que considera definidor para o enredo do país nas próximas décadas. Além da complexa redefinição do conceito de democracia, haveria um elemento que, segundo ela, é indissociável do autoritarismo recente: “a questão das religiões pentecostais é central ao autoritarismo brasileiro”. Ela aponta que o tema “também entrará nessa nova ‘conclusão’ de Brasil uma biografia”. A historiadora justificou a necessidade da inclusão como uma atualização à análise original, explicando que, à época da primeira publicação do livro, ela e Heloisa Starling “não tínhamos visto o fenômeno crescer dessa maneira”.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras