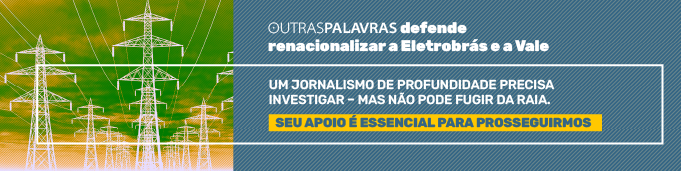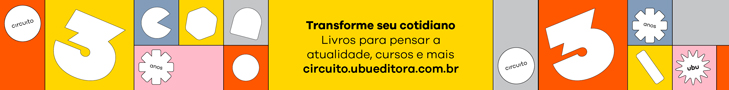Em busca das raízes da brutalidade policial
Violência e racismo das PMs remontam ao período 1830-71. Burguesia colonizada e sem projeto assumiu o Estado. Promoveu branqueamento, dependência e repressão das “classes perigosas”. As elites jamais quiseram livrar-se desta garantia
Publicado 16/05/2025 às 19:32 - Atualizado 16/05/2025 às 20:20

MAIS:
O texto a seguir é uma versão condensada do artigo “O impacto da transição da escravidão ao trabalho livre no desenvolvimento da segurança pública brasileira”. Compõe uma obra notável: Direito e Desigualdades, que reúne estudos apresentados na X Jornada da Associação Brasileira de Filosofia e Sociologia do Direito. Realizado na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, o evento ocorreu entre 9 e 11/5/2024.
Direito e Desigualdades expõe algo às vezes pouco notado: a rica investigação teórica produzida pela Filosofia e Sociologia do Direito no Brasil. Os 47 artigos incluídos na obra abordam temas como regulação do trabalho nas Plataformas Digitais; Religião, Política e Justiça; dialética do Direito Social à Alimentação; exame das Ações Afirmativas; precariedade e “eficácia” no sistema prisional brasileiro; os efeitos da desigualdade socioeconômica no acesso à Justiça; Indústria Cultural e Direito e muitos outros. A íntegra do livro pode ser acessada aqui.
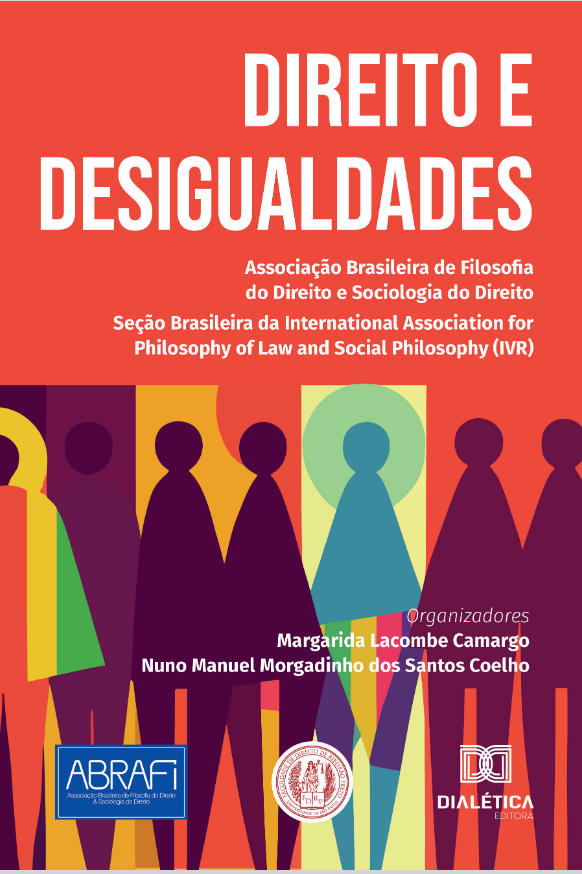
Do Código Criminal do Império à criação do inquérito policial, os primeiros regulamentos criminais e policiais do país se desenrolam entre 1830 e 1871. Paralelamente, a primeira lei abolicionista brasileira data de 1831, convergindo para a aprovação da Lei Áurea em 1888. Muito além de mera coincidência histórica, preocupações das camadas dominantes em realizar esta transição nas relações de produção, da escravidão ao trabalho livre, sem perder o controle sobre classes trabalhadoras foram centrais na formação do sistema de segurança pública brasileiro. Sob a perspectiva de que este período de formação do Estado nacional representou verdadeira revolução burguesa que desem- bocou em um sistema capitalista moderno e dependente, reconhecemos que a racionalidade burguesa brasileira operou numa dupla articulação que compatibilizou dominação imperialista externa e desenvolvimento desigual interno. Enxergamos três contradições fundamentais neste novo sistema nacional: entre o negro recém-liberto e as classes dominantes; entre o trabalhador imigrante e os interesses do modelo dependente de capitalismo; entre a massa negra marginalizada e o trabalhador imigrante. Nelas, compreenderemos como o processo de independência desembocou numa autocracia marcada pela dominação burguesa sobre a máquina estatal e as demais classes, bem como este processo tem relação direta com a formação das instituições policiais no Brasil e o foco de suas atividades no controle social sobre a classe trabalhadora no nascente capitalismo nacional.
(…)
Dos sentidos da colonização aos sentidos da independência: capitalismo e Revolução Burguesa no Brasil
“O escravismo colonial cria, portanto, as premissas econômicas, sociais e culturais para o modelo do capitalismo dependente que o substitui”. A frase de Clóvis Moura (2023, p. 45) dá a tônica do nosso tema. É difícil compreender o papel da polícia brasileira sem recorrer às teorias da formação social do Brasil. Estudar a segurança pública passa por desvendar os sentidos do desenvolvimento de nosso Estado nacional, no qual a transição da forma de produção baseada no trabalho escravo para outra fundamentada no trabalho livre, bem como os interesses nacionais e internacionais que a dirigem, são questões centrais. Ao descrever o processo de evolução do Brasil colônia ao Brasil nação, Caio Prado (1977, p. 83-85). destaca quatro etapas históricas fundamentais: a independência política, a supressão do tráfico africano e, por consequência, a imigração de trabalhadores europeus e a abolição da escravidão. Para desenrolar este trabalho, inicialmente, nos aprofundaremos nos sentidos daquela primeira, sobretudo a partir das ações e pensamentos da classe dominante que a protagonizaria: a nascente burguesia brasileira, em sua hete- rogeneidade e especificidade. Por isso, como pontapé inicial, fazemos a mesma pergunta de Florestan Fernandes (1976, p. 20-22) décadas atrás: “existe ou não uma ‘Revolução Burguesa’ no Brasil”?
Como ele, respondemos afirmativamente. Mas Florestan não o faz buscando repetir deformada ou anacronicamente o movimento ocorrido na Europa, por exemplo, forçando uma pré-existente sociedade feudal brasileira. Dentro das características nacionais, ele procura os agentes humanos que protagonizaram as grandes transformações históricas do país representadas pela desagregação do regime escravocrata-senhorial e pela formação de uma sociedade de classes no país. Reconhece, assim, que uma revolução burguesa não é mero episódio histórico, mas um fenômeno estrutural que pode ser reproduzido de modos relativamente variáveis, desde que determinada sociedade absorva um padrão de civilização que torne esta revolução uma necessidade histórica. No Brasil, esta revolução estava representada pela necessidade do rompimento da classe dominante com a ordem escravocrata-senhorial.
(…)
Aliados incômodos: o povo negro e a burguesia na revolução brasileira
Não tomar o povo negro como força política dinâmica e radical no processo de independência é um erro. A negritude brasileira, mesmo à época da escravidão, teve influências diretas e indiretas nos movimentos revolucionários. Na estratificada sociedade escravista, todo processo de mudança social partia da análise sobre as relações entre senhores e escravos e da possibilidade ou necessidade de substituição deste modo de trabalho. A participação negra neles mostra tanto a força de seu dinamismo na história brasileira, quanto seu próprio isolamento criado pelos centros deliberantes destes processos (MOURA, 2023, p. 56-57). Ao analisar movimentos abolicionistas, Clóvis Moura (2021, p. 215-216) aponta neles dois níveis distintos: o dos negros, desde cedo, pela sua própria condição material; e o de políticos e outras camadas sociais que geralmente enxergavam no escravismo um entrave ao desenvolvimento capitalista. Neste sentido, ele contrasta a fala do abolicionista Joaquim Nabuco na defesa da luta via Parlamento com a realidade negra, em que a liberdade era garantida, geralmente, pelo uso da violência do escravo contra o senhor, resultando em fugas, quilombos, insurreições e crimes. Em suas palavras, “o escravo rebelde foi uma força social ativa e permanente no processo de modificar-se o tipo de trabalho existente no Brasil”.
Lutando pela própria emancipação, induzindo o país a uma nova modalidade de relações de trabalho, não é estranho que o negro escravizado tenha participado diretamente de movimentos que visavam a emancipação também do país. Na dinâmica interna destes processos, negros escravos e ex-escravos dividiram desígnios com outras classes, expondo os sentidos do “espírito burguês” que se criava no Brasil e suas contradições entre o apego a estruturas coloniais e o desejo de desenvolvimento capitalista. Revoltosos negros se fizeram presentes nas duas mais importantes inconfidências brasileiras: a mineira e a dos alfaiates baianos. Clóvis (1981, p. 58-70) aponta que tal atuação não fora tão relevante na revolta de Minas e que, embora os inconfidentes fossem abolicionistas em geral, não é clara a coesão entre os dois grupos sociais. Quando o conflito explodiu, o território mineiro era um dos maiores focos quilombolas do país e os negros aquilombados já sinalizavam união com os da cidade, conforme pasquins encontrados em Sabará. Por outro lado, inconfidentes como o sargento Luís Vaz de Toledo propunham a promessa de alforria como fator atrativo de escravos para a luta, colocando em dúvida qual o real nível de coesão entre ambos.
Na Bahia, onde os organizadores do movimento pertenciam às camadas pobres da sociedade, a Revolta dos Alfaiates foi nitidamente republicana e abolicionista, buscando romper com o governo representante do estatuto colonial para fundar uma república aos moldes franceses em 1798. Seus líderes se preocuparam em atrair outros artesãos, escravos e ex-escravos, reunidos em torno de um programa revolucionário que compreendia a independência da capitania, a forma republicana, a liberdade comercial, a remuneração de soldados e a libertação dos escravos. Mas uma dinâmica interessante deve ser apontada no levante: intelectuais como Cipriano Barata, Hermógenes de Aguiar e Francisco Moniz Barreto, abordados pelo líder pardo Manuel Faustino dos Santos, tentaram convencê-lo a aguardar pela chegada dos franceses ao invés de adentrarem, eles mesmos, numa revolta violenta pela independência. Enquanto a intelectualidade afastou-se gradativamente, membros das classes mais populares mantiveram o movimento coeso. Sufocada violentamente, documentos oficiais demonstram que a revolta teve muitos negros e pardos entre seus líderes condenados à morte, a castigos físicos ou ao banimento para a África. Lideranças das camadas médias, porém, sofreram punições mais brandas: Cipriano Barata ainda participaria de nova revolta em 1817, morrendo apenas anos mais tarde, na velhice; igualmente Hermógenes, que, absolvido, viveria longos anos até morrer como Marquês de Aguiar.
Para Clóvis Moura, o fim da Revolta dos Alfaiates é um marco nos grupos que se organizavam pela independência. “A classe senhorial – possuidora de escravos – entra na composição dessas forças e influi cada vez mais poderosamente, fato que determina a mudança concomitante de objetivo dos movimentos subsequentes”. Se fortalece a ideia de que apenas uma classe com base econômica sólida poderia dirigir o movimento independentista e, nas contradições entre as camadas letradas e populares e os senhores de escravos, são os últimos que conquistam o bastão de comando político dos levantes subsequentes. Embora contasse com escravos e inicialmente defendesse a abolição, tão logo a revolução pernambucana de 1817 fundou seu Governo Provisório, apressou-se em publicar documento esclarecendo: “a base de toda sociedade regular é a inviolabilidade de qualquer espécie de propriedade” e, por isso, desejava uma emancipação “lenta, regular, legal” do “cancro da escravidão”. Na aliança com o latifúndio escravista, ideias liberais em defesa da propriedade, ironicamente, serviram “para defender uma formação econômico-social que na Europa elas ajudaram a esfacelar”. Além disso, apesar da participação escrava na revolta ter sua parcela espontânea, muitos escravos participaram obriga- dos por seus próprios senhores envolvidos na luta.
Nos três movimentos citados, todos com a causa independentista em comum, vemos a participação de escravos e ex-escravos. Porém, apenas no mais popular deles, o baiano, a população negra obteve algum protagonismo a ponto de pautar o movimento. Na Inconfidência Mineira e na revolta pernambucana, embora desejada por parte das classes brancas, a abolição ficou em segundo plano em relação à independência política do país, e o negro era visto por muitos como uma reserva militar motivada pela esperança da alforria. A participação negra nestas revoltas pode inclusive ter sido decisiva para uma maior adesão de classes dominantes à luta pela independência. O senhorio brasileiro buscava a extinção do estatuto colonial, mas não se desapegaria tão facilmente de certas estruturas de poder tipicamente coloniais, mesmo que representassem um entrave para o desenvolvimento capitalista brasileiro. A publicação do Governo Provisório pernambucano foi didática: a passagem do bastão para as classes senhoriais rurais no comando do movimento independentista representava, ao mesmo tempo, a passagem de um liberalismo mais radical, com bases populares, para outro mais conservador. Este seria o sentido do “espírito burguês” responsável pela revolução burguesa aquecida pela independência em 1822.
(…)
Voltemos a análise de Clóvis (2023, p. 43-47). A identificação colonial da divisão social do trabalho com sua divisão racial é mantida. Mesmo com o surgimento do Brasil nação, as classes dominantes formam um tipo ideal nacional que segue o modelo antigo do colonizador: o branco. Criam-se símbolos que justifiquem o negro como inferior biológica, psicológica e culturalmente. A permanência da escravidão até 1888 cercearia possibilidades democráticas para o país, mas não apenas: o latifúndio escravista também minaria a formação de áreas de desenvolvimento capitalista que, à época, eram vistas na Europa, impedindo o surgimento de uma burguesia nacional que liderasse maio- res transformações estruturais na sociedade. Este atraso impossibilitaria maior acúmulo de capital pelo próprio país, tornando inevitável que o Brasil pós-independência desembocasse num modelo de capitalismo de- pendente. É interessantíssima a comparação de Clóvis ao ressaltar que a Lei Eusébio de Queirós seria publicada dois anos após “O Manifesto do Partido Comunista”, de Marx e Engels, e a Lei do Ventre Livre entraria em vigência no mesmo ano da Comuna de Paris. Enquanto o Parlamento brasileiro ainda se ocupava com a luta de traficantes brasileiros pela manutenção da escravidão, áreas em expansão do capitalismo moderno, como a financeira e a de infraestrutura, se acumularam nas mãos do capital estrangeiro, ao invés de serem controladas por uma burguesia nacional que nunca se completou verdadeiramente.
Forma-se uma situação de dupla dominação no Brasil: uma in- terna e outra externa. Pouco antes da abolição, em 1882, a população das cinco principais províncias do país (SP, MG, BA, PE e RJ) se dividia entre 1.433.170 trabalhadores livres, 656.540 escravos e 2.822.583 desocupa- dos. Estes últimos, uma franja marginal característica do capitalismo dependente formada majoritariamente por negros e mestiços, mesmo após a abolição, que ocorreria em 1888 mantendo-se o latifúndio e pratica- mente as mesmas classes dominantes. O país continuaria dependendo da economia de exportação monocultora, do café, enquanto a importação maciça de imigrantes europeus brancos criava enormes contingentes poliétnicos marginalizados. O imperialismo se consolida como um com- ponente externo de dominação, tal qual o antigo colonialismo, impondo situações em que essa franja marginal nunca é aproveitada por solicitações do mercado internacional. Mesmo na abertura de áreas pioneiras para a lavoura de café paulista, a imigração japonesa é induzida, deixando-se o negro na marginalidade.
Para Clóvis, este modelo dependente que vai substituindo o escravismo se define em seis pontos principais: ausência de um capitalismo nativo capaz de conferir autonomia nacional; conservação do latifúndio; subordinação ao imperialismo; conjugação de formas arcaicas e modernas de produção; alta concentração de renda; e a construção de um aparelho de Estado altamente repressivo que contenha a franja marginalizada da população. É neste último ponto que focaremos para explicar a relação entre a transição do trabalho escravo para o trabalho livre e a consolidação de um sistema de segurança pública no Brasil.
Autocracia burguesa: a construção do aparelho policial na formação da classe trabalhadora livre no Brasil
As classes senhoriais brasileiras lograram a independência política, mas havia um longo caminho para construir um verdadeiro Estado nacional e desenvolver um capitalismo moderno no país. Muito pelo fato de que o rompimento com o estatuto colonial acabou mesmo liderado por setores da classe dominante arredios às formas mais radicais do liberalismo. A insistência no modelo latifundiário-escravista dificultaria a modernização necessária ao maior acúmulo de capital pelo Brasil, man- tendo-o em posição de atraso e dependência em relação aos países desenvolvidos. Ao mesmo tempo, a fresta de liberalismo utópico que se abriu numa parcela da população e a potencialidade negra exerceriam pressão na direção da modernização capitalista brasileira, tornando a abolição uma necessidade latente que se realizaria em processo conjunto com a massiva imigração branca europeia.
Começaremos por uma rápida análise do fim deste processo, pois seu resultado final explicita três contradições que foram emergentes ao longo de todo o período imperial-escravocrata. Primeiramente, aquela entre o negro recém-liberto e as classes senhoriais advindas do Império. A segunda, entre o trabalhador imigrante e os interesses de uma sociedade de capitalismo dependente que gradualmente se firmava após o escravismo-colonial. Por último, aquela entre o trabalhador negro livre, desempregado ou subempregado, e o trabalhador branco estrangeiro livre (MOURA, 2023, p. 70-71). Consolidadas com a abolição em 1888, estas três contradições deram a tônica ao período imperial, que repre- sentou um lento processo de modernização do capitalismo brasileiro em direção a um modelo baseado no trabalho livre assalariado. Vale apontar que o movimento abolicionista já mostrava força antes mesmo da inde- pendência e que a Lei Barbacena, que proibia o tráfico de escravos, em- bora desrespeitada, seria imposta já em 1831. A ela, seguiu-se a legislação estrangeira Bill Aberdeen, em 1845, e, como consequência nacional, a Lei Eusébio de Queiróz, de 1850, concretizando a proibição do tráfico. A partir daí, acelera-se a transição do modo de trabalho no Brasil. A Lei do Ventre Livre, em 1871, e a dos Sexagenários, em 1885, seriam um prelúdio da Lei Áurea, que enfim aboliu a escravidão negra no país.
A cronologia destas legislações ganha relevo ao lado de estatísticas populacionais do Brasil. Em 1850, às vésperas da Lei Eusébio de Queiroz, que dificultou a reposição do trabalho escravo, a população nacional era de 5.520.000, sendo 2.500.000, quase metade, escravizada. Dois anos depois, enquanto o povo brasileiro atingia a marca de 8.429.672 pessoas, a população escrava decresceu para 1.510.000. Um ano antes da abolição, entre 18.278.616 brasileiros, o número de escravizados caíra para 723.419. Dados explicados pela mortalidade negra escravizada, pelo gradualismo da abolição e pela massiva imigração de brancos europeus para o país. O Brasil passava por uma nítida transição demográfica tendente ao branqueamento de seu povo, efetivamente acelerada pela República. São Paulo sozinha receberia cerca de 940 mil imigrantes entre 1827 e 1899 (MOURA, 2021, p. 47-49).
Também em estatísticas demonstramos a razão de Clóvis Moura ao dizer que este processo se desenrolaria através de relativo privilégio ao imigrante branco e da marginalização do povo negro. Em 1891, 30% dos trabalhadores de fábricas no Rio de Janeiro eram negros. Em São Paulo, imigrantes ocupavam 84% destas vagas em 1893 (FAUSTO, 2012, p. 124- 125). No Recenseamento carioca de 1906, embora estrangeiros fossem 26% da população da capital, eram quase 50% dos trabalhadores no setor de transformação e emprego da matéria-prima. Em vários setores, estrangeiros ultrapassavam brasileiros, ao passo que, no setor de profissionais liberais e servidores públicos, os nacionais eram 90%. Ao mesmo tempo, a taxa de improdutivos entre os nativos era de 55%, contra apenas 26% entre estrangeiros. Por um lado, na República, os empregos advindos da modernização capitalista iniciada no Império se concentrariam entre imigrantes brancos. Por outro, o contraste entre o alto número de nacionais nas profissões de maior prestígio e a alta taxa de improdutividade entre brasileiros denota a incômoda realidade: na modernização capitalista brasileira, o grosso da população de pretos e pardos seria relegado à marginalidade do desemprego e do subemprego, enquanto uma elite branca se apossava das atividades estatais e melhor remuneradas (FELITTE, 2023, p. 64).
O que importa para o fim deste trabalho é saber por que, ao consolidarmos nossa modernização capitalista, chegamos a esta situação social. Um início de resposta está no caráter dependente do capitalismo nascente. Caio Prado (1977, p. 86-100) diz que a economia brasileira se originou da função exclusiva de fornecimento aos mercados externos, condicionando seu desenvolvimento como Estado independente e constituindo a base da penetração imperialista no país. Duas circunstâncias fundamentais do colonialismo se perpetuaram: esta base voltada ao abas- tecimento externo e, por consequência, o tipo de relações de produção e trabalho que, mesmo após a abolição, conservaria características da tradição escravista-colonial. Em nossa economia rural, “os miseráveis padrões da população trabalhadora rural asseguram os baixos custos da produção exportável, (…) a favor (…) de um sistema capitalista de produção apoiado essencialmente (…) naquela produção exportável.”
(…)
Aqui, finalmente tocamos o ponto de chegada deste trabalho: a construção do aparato policial como necessidade coativa para o desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Se a dependência do país no capitalismo global colocou nossa burguesia numa situação que seu acúmulo de capital só é possível via superexploração da classe trabalhadora livre, este sistema só pôde se sustentar com um forte aparelho público que contivesse ameaças de perturbação desta ordem. Forma-se, no Brasil, uma dissociação pragmática entre desenvolvimento capitalista e democracia, ou, em outros termos, uma associação racional entre desenvolvimento capitalista e autocracia. A apropriação dual do excedente econômico nos países dependentes acentua fatores sociais e políticos da dominação burguesa. Extrema desigualdade in- terna, drenagem internacional do excedente econômico, persistências de for- mas subcapitalistas de produção e pressão baixista sobre o valor do trabalho remunerado, tudo entra em contradição com aspirações democráticas gera- das pelo momento revolucionário. A forma de dominação burguesa que se origina só é comparável, nos países desenvolvidos, aos momentos em que o fascismo se associou à expansão capitalista. No subdesenvolvimento depen- dente, o capitalismo nascido é mais “selvagem e difícil” e sua viabilidade se define por meios políticos. Apesar da dissimulação de uma democracia bur- guesa, escondida na universalização dos interesses burgueses, o que nasce no Brasil, de fato, é uma autocracia burguesa (FERNANDES, 1976, p. 289-293).
Não à toa, no pós-independência, a formação do aparato repressor estatal, as instituições policiais e legislações penais, ocupou boa parte do esforço político da burguesia brasileira no século 19. A Constituição de 1824 previu a supressão de direitos individuais em nome da segurança do Estado e determinou a criação de um Código Criminal. Este seria promulgado em 1830, preocupando-se com a manutenção das estruturas de poder estatais em rol de tipificações que envolviam crimes contra a existência do Império, conspirações, rebeliões, sedições, insurreições e reuniões secretas, além de especificar delitos de abuso da liberdade de comunicar pensamentos e do uso indevido da imprensa. A mentalidade escravocrata se manteve, conservando penas de açoitamento a qualquer escravo que não fosse condenado à morte ou à gaulés e estabelecendo, entre os artigos 113 e 115, penas severas, do açoite à morte, a qualquer cidadão insurrecto envolvido na luta abolicionista (FELITTE, 2023, p. 41-42).
Em torno deste arcabouço penal, formaram-se as polícias. Meses após a formação da Guarda Nacional do Império, a Lei de 10 de outubro de 1831 criou o Corpo de Guardas Municipais da Corte do Rio de Janeiro e permitiu a cada Província do país fazer o mesmo, no que é considera- do a origem das polícias militares estaduais no Brasil. Com exceção da mineira, formada no ciclo do ouro do século 18, da fluminense, ligada à chegada da família real portuguesa, e da pernambucana, criada em 1824, as demais polícias militares do país consideram o início de sua história apenas após a promulgação desta lei. Em comum, todas acumulariam atuações na repressão a revoltas que ameaçassem a ordem imperial, como as destruições de quilombos, a supressão à Guerra dos Farrapos, à Cabanagem e à Revolução Praieira e até mesmo o conflito internacional no Paraguai (FELITTE, 2023, p. 37-40).
Mas seria na atuação cotidiana das nascentes polícias criminais que a importância da transição da escravidão ao trabalho livre seria mais sentida. O Código de Processo Criminal de 1832 criou uma estrutura envolvendo Chefes de Polícia, Juízes de Paz, escrivães de paz, oficiais de justiça e inspetores de quarteirões conformando um ciclo completo de policiamento nas províncias, da prevenção à formação de culpa. A re- forma de 1841, considerada a origem de polícias civis estaduais como a paulista e a gaúcha, renovou a figura dos delegados e subdelegados, sem ainda desfazer a confusão entre funções policiais e judiciárias (FELITTE, 2023, p. 43-45). O Chefe de Polícia funcionava como uma espécie de “supermagistrado”. Através dos termos de bem viver e de segurança, que formavam culpa sumariamente, o trabalho destas polícias era altamente inquisitório, pouco aberto à defesa dos acusados e especialmente voltado aos considerados perturbadores do sossego público, como vadios, bêbados e prostitutas. Somente as reformas de 1871 começariam a desfazer esta confusão, separando funções judiciais das policiais e limitando a competência das segundas autoridades às diligências instrutórias do recém-criado inquérito policial. Apesar disso, os termos ainda seriam usa- dos por algum tempo, e o próprio inquérito conservaria características inquisitoriais (SOUZA, 2009, p. 97-100).
Na repressão a movimentos de grande vulto, é fácil perceber o papel das polícias militarizadas na manutenção dos interesses burgueses no gradual desenvolvimento capitalista nacional. Mas é na atuação destas polícias civis criminais que perceberemos a centralidade da preocupação burguesa com as novas classes trabalhadoras livres que surgiam, além de um forte componente racial, na formação do aparato policial. Clóvis Moura (2023, p. 47-48) é certeiro ao dizer que, nos países periféricos, o imperialismo permite a formação de um capitalismo dependente conjugado com grandes áreas marginalizadas sistematicamente oprimidas por um aparelho estatal autoritário e despótico. A fim de manter o nível máximo de lucro das multinacionais, consagra-se um novo símbolo do homem brasileiro como idealmente branco, ao mesmo tempo em que o negro é atirado para estas últimas franjas da sociedade como modelo antinacional. Mesmo após a abolição, reinterpretam-se racionalizações escravistas, mantendo o negro como exército industrial de reserva e massa marginalizada, forçando baixos padrões salariais e de vida às massas plebeias. O preconceito de cor funciona como mecanismo regulador do capitalismo dependente, e a repressão realizada pelas polícias é central no controle das pessoas negras e na criação da imagem destas como desordeiras e criminosas.
Quando dizemos que o capitalismo dependente exigia uma grande franja marginalizada da força de trabalho, dizemos que, no subemprego e no desemprego, uma boa parcela da população, majoritariamente negra no caso brasileiro, seria relegada ao ócio. Na contenção deste equilíbrio econômico permanentemente vacilante e explosivo, será justamente sobre os ociosos que a repressão policial brasileira terá seu principal foco de atuação. Acostumada a controlar a massa escravizada de trabalhadores através de meios domésticos de coerção, bem simbolizados pela senzala e pelo feitor, ao longo do Império, com o avanço abolicionista e migratório, a burguesia brasileira se deparou com um inédito número de pessoas livres e ociosas circulando pelas cidades, não mais sujeitas às antigas formas escravistas de controle privado. As modernas relações de trabalho que surgiam exigiam que o controle sobre elas também se modernizasse. No contexto de uma autocracia burguesa em que a classe senhorial passou a se organizar pelo poder público, em torno e dentro do Estado, também estas formas de controle deveriam se organizar no seio estatal. A estatização do controle sobre as classes trabalhadoras e ociosas, sobretudo negras, seria o cerne da formação das polícias no Brasil.
Curioso como listas de prisioneiros do Rio de Janeiro e da Bahia entre 1834 e 1837 mostram que, no período, a proporção de pessoas brancas, pardas, livres, libertas e estrangeiras encarceradas era maior que a de negros e escravos. Por motivos óbvios: a população escrava, ainda grande à época, não só estava mais sujeita às formas privadas de punição, como, caso levada ao poder público, acabava sofrendo as penas mais sumárias e cruéis, como açoite e morte (KOERNER, 1999, p. 41). Mas em 1835, então Chefe de Polícia do Rio de Janeiro, Eusébio de Queiroz já esboçava sua preocupação ao Ministro da Justiça: pela dificuldade de se obter provas sobre a condição de uma pessoa negra quando era detida, o mais razoável era presumir sua situação de escravidão, mantendo-a presa até que um certificado de batismo ou uma carta de alforria fosse apresentada em contrário (CHALHOUB, 2011, p. 431). Tanto a livre circulação quanto a prisão de negros nas cidades ainda são tratadas como novidade neste período em que o aparato policial se formava no país. Fenômeno parecido foi observado no estado norte-americano do Alabama, também de escravismo prolongado, onde negros eram somente 1% da população prisional até 1850, mas saltariam para 75% em 1865, ano da abolição (THOMPSOM, 2019, p. 223).
Junto ao recorte racial, o controle sobre ociosos ficaria mais explícito ao longo da transição do país para um modelo de produção base- ado no trabalho livre entre o Império e a Velha República. Em São Paulo, de 1892 a 1916, mais de 80% das prisões foram realizadas por vadiagem, quebra de posturas municipais, averiguações de suspeitos e termos de bem viver e segurança. Mesmo com 3.466 pessoas presas ao longo de 1893, apenas 329 inquéritos foram abertos pela polícia paulista, mostrando que a arbitrariedade policial era rotina (KOERNER, 1999, p. 169-171). Na Bahia, em 1917, o secretário de segurança Álvaro Cova já havia manifestado sua preocupação com o “exército de vadios, desordeiros e contraventores” de pessoas sem trabalho no estado. No ano seguinte, em Salvador, das 2.023 prisões efetuadas, 78% seriam motivadas por “desordem” e “vagabundagem” (DIAS, 2004, p. 22-25). Desocupados também apareciam nos regulamentos policiais. O regramento carioca de 1907 previa a função policial de “dar destino aos loucos e enfermos encontrados nas ruas, bem como aos menores e vadios e abandonados e aos mendigos” (VALENÇA, 2017, p. 173-195). Já a Polícia Administrativa de Porto Alegre tinha como função oficial “pôr em custódia turbulentos, bêbados por hábito e prostitutas perturbadoras do silêncio público” (MAUCH, 2011, p. 35-90). Situações que se juntavam às repressões aos movimentos de maior vulto realizadas pelas polícias militares. Neste quesito, a PM paulista é emblemática: seu atual brasão de armas, instituído em 1958, rende homenagens a atuação da corporação na repressão à Guerra dos Farrapos, em 1838, à Campanha de Canudos de 1897 e à retaliação à primeira Greve Geral do país em 1917 (SÃO PAULO, 1981). No mesmo período, o Secretário dos Negócios de Justiça paulista requisitava, em relatório de 1899, a militarização da cava- laria como bom método “para afastar os desordeiros”, eficaz “nos casos de perturbação da ordem” (FERNANDES, 1973, p. 211-212).
Não é à toa que Florestan conclui que, no processo revolucionário brasileiro, a “Nação burguesa” iria imperar sobre a “Nação legal”. A integração nacional horizontal da burguesia em seu plano de dominação de classe impôs seus interesses particulares como universais no país. Os conflitos entre as facções dominantes foram, de certa forma, aceitos dentro da ordem como um mal menor frente à possibilidade de colapso do poder burguês. Já os conflitos com as antagônicas classes trabalhadoras foram colocados “fora da ordem”, reprimidos de forma violenta até se descolarem totalmente da ideia democrático-burguesa de revolução nacional. Mais do que isso, estes conflitos justificaram o discurso burguês de defesa da estabilidade da ordem para legitimar a dominação desta sobre as demais classes, transformando-se numa espécie de “ditadura de classe preventiva” (FERNANDES, 1976, p. 317-318).
É neste cenário formado que o Presidente do país em 1902, Washington Luís, “símbolo da mentalidade ultraconservadora do Partido Republicano Paulista”, declararia que a fermentação dos movimentos operários pelo país era um “caso de polícia” (DALLARI, 1977, p. 37-38). A revolução capitalista brasileira, iniciada nos movimentos de independência e consolidada entre o Império e a Velha República, imprimiu de forma gradativa uma mudança substancial em nossas relações produtivas. A transição do modelo colonial-escravista para o capitalismo baseado no trabalho livre foi uma necessidade de modernização que se impôs à burguesia brasileira. A posição dependente do país no capitalismo global, porém, induziu tal revolução a um caminho mais conservador, desembocando numa autocracia que possibilitasse a dominação burguesa feroz sobre as demais classes que compensasse a submissão ao abastecimento do mercado externo. Neste interregno, onde se formam as classes sociais no país, formam-se também as polícias. Consolidado o capitalismo brasileiro, a burguesia teria sua própria máquina repressiva ancorada no Estado nacional para exercer controle total sobre as camadas trabalhadoras e marginalizadas e manter o tão “desigual equilíbrio” socioeconômico do nosso país.
Conclusões
(…)
No contexto em que anseios mais democráticos eram deixados de lado na defesa dos interesses burgueses, ainda que disfarçados de universalismo, as legislações penais e as instituições policiais surgiriam ao longo do século 19 em concomitância com o próprio processo abolicionista. Nas estatísticas e nos documentos oficiais, é patente o foco que o trabalho destas tinha no controle sobre a classe trabalhadora brasileira, sobretudo na grande faixa de ociosos, majoritariamente ex-escravos, que se formava como exército de reserva industrial necessário para a manutenção dos baixos custos de produção do capitalismo dependente. Não se quer dizer a mudança no modelo de trabalho tenha sido a única motivação da conformação das polícias no país. A política dos governadores e a dinâmica entre as oligarquias regionais e a União são apenas duas outras catalizadoras deste processo que poderíamos citar. É indubitável, porém, o papel central que a formação de uma massa de trabalhadores livres ocupou nas preocupações das classes dominantes ao organizarem as instituições policiais no seio do nascente Estado nacional brasileiro.
Referências
CHALHOUB, S. The precariousness of freedom in a slave society (Brazil in the nineteenth century). International Review of Social History, Amsterdam, v. 56,
p. 405-439, 2011.
DALLARI, D. A. O pequeno exército paulista. São Paulo: Editora Perspectiva, 1977.
DIAS, A. A. A malandragem da mandinga: o cotidiano dos capoeiras em Sal- vador na República Velha (1910 – 1925). Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2004.
FAUSTO, B. História concisa do Brasil. 2 ed., 5 reimpr. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012.
FELITTE, A. HistóriadapolícianoBrasil: estado de exceção permanente? São Paulo: Autonomia Literária, 2023.
FERNANDES, F. ArevoluçãoburguesanoBrasil: ensaio de interpretação socio- lógica. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 2a. ed., 1976.
FERNANDES, H. R. Políticaesegurança. São Paulo: Editora Alfa-Omega, 1973.
KOERNER, A. HabeasCorpus,práticajudicialecontrolesocialnoBrasil(1841- 1920). São Paulo: IBCCrim, 1999.
MAUCH, C. Dizendo-seautoridade: polícia e policiais em Porto Alegre, 1896- 1929. Tese (Doutorado em História) – Pós-Graduação em História da Universi- dade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.
MOURA, C. Brasil:asraízesdoprotestonegro. São Paulo: Editora Dandara, 2023.
. Onegro,debomescravoamaucidadão?2a ed. São Paulo: Editora Dandara, 2021.
. Rebeliõesdasenzala. São Paulo: Lech Livraria Editora Ciências Hu- manas, 1981.
MARX, K. Amisériadafilosofia: resposta à ‘Filosofia da Miséria’ de Pierre-Josepf Proudhon. Rio de Janeiro: Editora Leitura, 1965.
PRADO JUNIOR, C. Arevoluçãobrasileira. 5 ed. Brasília: Editora Brasiliense, 1977.
SÃO PAULO. Decreto-Leinº17.069,de21demaiode1981. Disponível em: <ht- tps://www.al.sp.gov.br/norma/63304>. Acesso em: 10 jul. 2024.
SOUZA, L. A. F. Lei,cotidianoecidade: Polícia Civil e práticas policiais na São Paulo republicana (1889-1930). São Paulo: IBCCrim, 2009.
THOMPSOM, H. A. The racial history of criminal justice in America. DuBois Review:SocialScienceResearchonRace, Amsterdam, v. 16, p. 221-241, 2019.
VALENÇA, M. A. Processo penal e democracia: as práticas repressivas aos mo- vimentos operários na Primeira República. RevistaBrasileiradeCiênciasCrimi- nais, vol. 133, p. 173-195, jul. 2017.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.