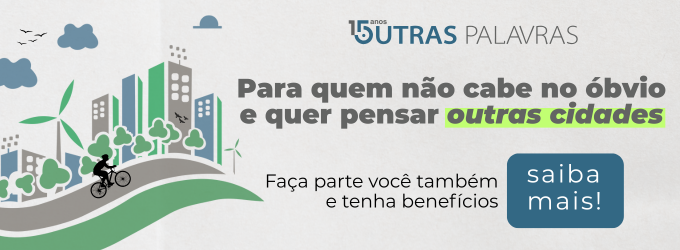Edward Said, filósofo da mundanidade
Expressão do combate intelectual palestino, ele nunca suprimiu do horizonte a ideia de uma humanidade una, de uma cultura cuja universalidade deriva de ser produto da mente humana. Vem daí seu empenho em prol de um “humanismo radical”
Publicado 11/04/2025 às 17:57 - Atualizado 11/04/2025 às 18:20
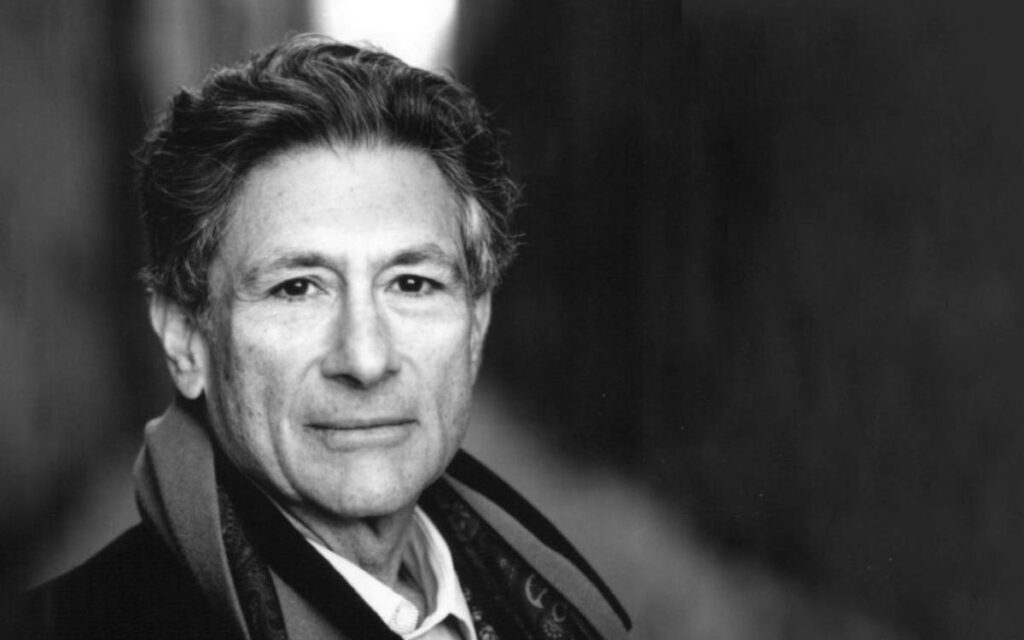
Por Homero Santiago*, em A Terra é Redonda
1.
No mundo em que há tanto tempo, sobretudo após o 11 de setembro de 2001, as tensões entre Oriente e Ocidente, dois polos geopolíticos indefinidos mas atuantes em nosso imaginário, seguem num processo de conturbação sempre prestes a explodir, o nome de Edward Wadid Said, palestino-estadunidense nascido em Jerusalém em 1935 e morto Nova Iorque 2003, sintetiza uma contradição fecunda que foi capaz de motivar a parte mais notável, mais combativa e mais atual de seu trabalho dentro e fora da academia.
Em 1978, ele publicou Orientalismo,[i] um estudo seminal que rapidamente, antes mesmo de se tornar um clássico das humanidades de nossa época, inspiraria um amplo conjunto de novas pesquisas, especialmente naqueles campos que aos poucos se foram nomeando estudos subalternos, pós-coloniais, de(s)coloniais, etc. É muito difícil determinar o âmbito e as especificidades de tais áreas de
investigação, ainda mais que, não bastasse o surgimento recente, parecem do tipo daquelas ondas em que o tramontar está logo ali na próxima curva, por obra da voga seguinte e antes mesmo de estabelecer-se um caldo de cultura consistente e sólido a ponto de persistir.
De qualquer modo, é incrível perceber que, sendo um dos responsáveis por toda essa renovação de campos antigos e abertura de novos, o pensamento de Said soube cultivar o melhor e proteger-se do pior dessas vagas; em particular, isento de preconceitos, avesso às picuinhas e aos escaninhos conceituais, ele nunca suprimiu de seu horizonte a ideia de uma humanidade una, de uma cultura cuja universalidade resulta de ser produto de uma única mente, a humana. Vem daí o seu empenho, do qual buscaremos aqui reconstituir alguns aspectos, em prol de um “humanismo radical”.
2.
Algumas das principais obras de Edward Said envolvem e aprofundam uma questão de método que tem entre suas referências primordiais a filologia humanista, com destaque para o nome de Giambattista Vico, o qual assume a função de pilar teórico dessa disciplina, ou antes desse procedimento cujo modelo prático contemporâneo, aos olhos de Said, é Erich Auerbach, o célebre autor de Mimesis.[ii] O método em questão é, fundamentalmente, um método de leitura, já que a questão chave que se põe é: como ler?
Consideramos estar aí um aspecto fascinante e que não costuma ser devidamente salientado: muitas das novidades do trabalho de Edward Said, inclusive as mais originais e influentes, radicam-se em inovações metódicas. Não vem ao caso apresentar isso por extenso, o que implicaria um estudo de proporção e propósito diferentes. A título de exemplo é suficiente perceber que um livro tão fundamental quanto Cultura e imperialismo, de 1993, pode ser lido todo ele como uma grande tomada de posição acerca do método adequado para a abordagem de determinadas obras e a conexão destas com a história.
Meu método é enfocar ao máximo possível algumas obras individuais, lê-las inicialmente como grandes frutos da imaginação criativa ou interpretativa, e depois mostrá-las como parte da relação entre cultura e império. Não creio que os escritores sejam mecanicamente determinados pela ideologia, pela classe ou pela história econômica, mas acho que estão profundamente ligados à história de suas sociedades, moldando e moldados por essa história e suas experiências sociais em diferentes graus. A cultura e suas formas estéticas derivam da experiência histórica.[iii]
Uma das maneiras privilegiadas de realizar isso é praticando aquilo que Edward Said denomina às vezes “história em contraponto” e que tem por escopo restituir às obras, especialmente aos clássicos, aquilo que, embora crucial para a sua composição, acabou por várias razões restando de fora delas; trata-se, desse ponto de vista, de ler e compreender especialmente os silêncios dessas obras maiores que a tradição nos legou.
“Devemos, pois, ler os grandes textos canônicos, e talvez também todo o arquivo da cultura europeia e americana pré-moderna, esforçando-nos por extrair, estender, enfatizar e dar voz ao que está calado, ou marginalmente presente ou ideologicamente representado. […] ao ler um texto, devemos abri-lo tanto para o que está contido nele quanto para o que foi excluído pelo autor”.[iv]
Fácil de dizer e difícil de fazer, bem sabe o crítico. Muito trabalho é exigido, não só para o estudo preparatório como, principalmente, para aprender a conter o próprio ânimo do leitor, que deve saber abordar as obras, mesmo e sobretudo aquelas que lhe desagradam, com o peito aberto de quem se esforça em compreender o outro, e não somente depreciá-lo, achincalhá-lo como o “maldoso” da história, o inimigo a ser penitenciado em praça pública, digo, virtual (ver, pouco adiante, como Said deplora a mentalidade do “nós-versus-eles”, um treco schmittiano até a veia, aliás).
Unir experiência e cultura é, evidentemente, ler textos do centro metropolitano e das periferias num contraponto, nem segundo o privilégio da “objetividade” do “nosso lado”, nem pelo estorvo da “subjetividade” do “lado deles”. A questão é saber como ler, conforme dizem os desconstrucionistas, e não a separar da questão de saber o que ler.[v]
Basta isso para ilustrar a centralidade e a novidade da questão do método de leitura em Edward Said. A partir daí a pergunta que vem é: como fundamentar esse procedimento?
3.
Alguns anos após a publicação de Orientalismo, quando o nome de Said começava a fazer autoridade, o antropólogo James Clifford publicou uma resenha crítica do livro acusando-o de envolver uma petição de princípio ou, pior, uma contradição em termos: Edward Said protagonizaria um conflito irresolúvel entre o
seu pendor humanista, de um lado, e o que seria um anti-humanismo exigido pelos temas e pela abordagem, de outro.[vi] Tomando as palavras do próprio interessado ao descrever a crítica que recebeu, é como se ele, do ponto de vista de James Clifford, estivesse “ambivalentemente enredado nos hábitos
totalizadores do humanismo ocidental”; uma “dificuldade inquietadora”, por exemplo, seria servir-se de Foucault, autor pretensamente anti-humanista, e ao mesmo tempo flertar com “os modos essencializadores e totalizadores do humanismo”.[vii]
Em sua defesa, o primeiro passo de Edward Said é discutir o sentido do termo “humanismo”. Seu uso nos Estados Unidos, explica, realmente ficou maculado pelo estruturalismo francês, que lhe colou as pechas de soberania do sujeito, cogito, iluminismo etc., tudo isso que hoje faz as vezes de besta das mais recentes ondas de pensamento. Não é tal humanismo, contudo, que ele preconiza. Interessa-lhe antes o humanismo cujas raízes estão em Dante, em Vico, e que era praticado por filólogos como Erich Auerbach e Leo Spitz.
Deste último, aliás, Edward Said toma uma precisa caracterização que, a nosso ver, é uma excelente porta de entrada para a compreensão do alcance e do teor de seu trabalho. O humanismo tem por fundamento, segundo Leo Spitz, em palavras retomadas por Edward Said, a convicção “no poder da mente humana de investigar a mente humana”.[viii] Eis o mais básico credo humanista, o qual ainda
carece de uma advertência que Edward Said propõe logo na sequência: não se trata de mente europeia ou asiática, ou qualquer coisa assim, mas da “mente humana tout court”.[ix]
Os efeitos dessa corajosa tomada de posição são de importância extrema e atravessam o trabalho de Edward Said. É o que lhe permite, por exemplo, exorcizando a prática de ventilar que isso ou aquilo simplesmente é como uma propriedade dessa ou daquela tradição – “um dos exercícios mais debilitantes que se possam imaginar” –, afirmar a necessidade de entendermos que um Beethoven
“pertence tanto aos caribenhos quanto aos alemães, na medida em que sua música agora faz parte da herança humana”.[x] Um dos ofícios do crítico será compreender, a partir da pressuposta universalidade da mente, as suas manifestações locais, ou seja, como o poder de criação da mente trabalha de maneira determinada.
Cabe bem vincar – até para tranquilizar os que já prestes a persignar-se –que o fundamento desse aspecto da mente humana não descansa num sujeito ao estilo cartesiano, que seria universal e dotado de ideias claras e distintas; pressupõe-se aí, ao invés, a concepção viquiana de “sabedoria poética”, como sintetizada no princípio do verum/factum.
Segundo Edward Said, “o núcleo do humanismo é a noção secular de que o mundo histórico é feito por homens e mulheres, e não por Deus, e que pode ser compreendido racionalmente segundo o princípio formulado por Vico em A ciência nova, de que só podemos realmente conhecer o que fazemos ou, para dizer de outra maneira, podemos conhecer as coisas segundo o modo como foram feitas”. [xi]
Dentre as inúmeras consequências dessa tomada de posição, limitar-nos-emos aqui a salientar uma só no plano do método de leitura e que vem sob o nome de mundanidade. “Mundano”, explica o crítico, é uma palavra que ele utiliza para “denotar o mundo histórico real de cujas circunstâncias nenhum de nós jamais pode estar separado nem mesmo em teoria”.[xii] Destaque-se esse “em teoria”; quer dizer, a dúvida cartesiana que faz abstração do corpo e do exterior é inócua na prática e impossível em teoria. Para afirmá-lo, Edward Said se apoia nas críticas viquianas a Descartes.[xiii]
A seu ver, um dos objetivos cruciais da Ciência nova foi “contestar a tese cartesiana de que seria possível haver ideias claras e distintas, e de que essas estavam livres não só da mente real que as possui, mas também da história.”[xiv] O conceito de mundanidade remete precisamente à restituição do nexo inextricável (mais ou menos como aquele entre figura e fundo) entre a nossa mente e uma “natureza indefinida”, diametralmente diversa daquela das ideias claras e distintas; é o que Said caracteriza ainda como uma “falha trágica” que impede o conhecimento definitivo.
Ponhamos de lado e não façamos caso dessa expressão “falha trágica”, que realmente não é das mais felizes (é mais fácil ser pós- ou anticolonial do que escapar às malhas da velha teologia); o que Vico parece querer indicar talvez seja algo como aquela infinitude que torna o nosso conhecimento, mesmo quando exato, necessariamente inacabado, uma indeterminação (que não implica necessária imperfeição) como aquela determinada pelo que um filósofo poderia denominar o “nexo infinito de causas”. Ora, o que de fato nos importa é que dita “falha” possa ser contornada pelo método; ela “pode ser remediada e mitigada pelas disciplinas da erudição filológica e compreensão filosófica […], mas jamais pode ser anulada”.[xv]
Dessa forma, podemos entender perfeitamente o que constitui o fundo de um dos erros cabais, por exemplo, de uma visada eurocêntrica tradicional sobre a literatura: uma falta epistêmica, pois a abstração e a parcialidade amputam as obras de tudo aquilo a que estas se conectam, um pouco como Descartes fazia com as ideias no intuito de esclarecê-las e distingui-las. Na contramão desse
procedimento, o método filológico bem compreendido e praticado é capaz de ser muito mais rigoroso que a visada tradicional.
Tenho em mente uma abordagem racional e intelectual muito mais rigorosa que, como já sugeri, vale-se de uma noção bastante exata do que significa ler filologicamente, de um modo mundano e integrativo [semelhante ao que em Cultura e imperialismo se chamou de “leitura em contraponto”], em oposição ao
que separa ou divide, e, ao mesmo tempo, de uma resistência aos grandes padrões de pensamento redutores e vulgarizadores nós-versus-eles de nosso tempo.[xvi]
Eis as razões de Edward Said propor, segundo o título de um ensaio seu, um regresso à filologia, permitindo o estabelecimento de um tipo de crítica mais rigoroso, mais racional e, sobretudo, politicamente empenhado, pois uma crítica democrática, conforme o título da obra sobre que ora nos estamos apoiando.
Em suma, de maneira fascinantes, descobrimos que o método crítico ou filológico se justifica em virtude de uma determinada constituição do real e do ser humano. Se se quiser, em virtude de uma ontologia que não é a do esse qua esse (ser enquanto ser) inteiramente abstrato, mas algo próximo daquilo que podemos denominar a do esse quatenus entia (o ser enquanto entes, seres), o qual só se deixa apreender mediante a integração de todas as suas infinitas modalizações históricas.
4.
Retornemos à crítica de James Clifford. Estaria respondida? Não completamente. De fato, é irresistível a impressão que Said, ao comparecer ao tribunal do antropólogo, desastradamente confessa mais, e não menos, do que poderia esperar o seu acusador. Algo assim: o paladino dos discursos que põem em
xeque a cultura ocidental e sua vocação “imperialista” (a expressão é péssima, mas não é difícil topá-la por aí) faz as vezes de infiltrado; a cantilena teórica é traída por uma prática que só toma forma e adquire consistência – eis o ponto nodal – por meio dessa mesma cultura e operando categorias que são as dela e como manejadas por alguns de seus mais notórios representantes (Vico e Auerbach, para nomear só uma par de bois de um rebanho enorme).
Dramatizamos um pouco, mas no fundo é isso que está em jogo na crítica de James Clifford. E esse ponto, cremos, o próprio Edward Said sabe que não consegue responder a contento apenas explanando o sentido de humanismo; daí por que, no mencionado ensaio “O regresso à filologia”, ele proporá ainda uma instrutiva comparação entre o seu trabalho e o do filósofo seiscentista Bento de Espinosa.
A tarefa do humanista não é apenas ocupar uma posição ou um lugar, nem simplesmente pertencer a algum local, mas antes estar ao mesmo tempo por dentro e por fora das ideias e valores circulantes que estão em debate na nossa sociedade, na sociedade de alguma outra pessoa ou na sociedade do outro.[xvi]. Para justificar essa concepção do humanista como aquele que, desde dentro, posiciona-se contra, Edward Said remete a um livro do escritor polaco Isaac Deutscher intitulado O judeu não-judeu. Lá, evoca, encontramos: “um relato de como os grandes pensadores judeus – Spinoza, o principal deles, bem como
Freud, Heine e o próprio Deutscher – estavam dentro da sua tradição e ao mesmo tempo a rejeitavam, preservando o laço original ao submetê-la a um questionamento corrosivo que os levou muito além dessa tradição, às vezes banindo-os da comunidade durante esse processo”.[xviii]
Ainda que a menção não se restrinja a Espinosa, aparentemente é este quem fornece o espelho (o “principal” entre todos) em que Edward Said pretende mirar-se: palestino e norte-americano, humanista e anti-humanista, como Espinosa, nascido na comunidade judaica de Amsterdã e dela banido aos 23 anos.
Não são muitos os que dentre nós podemos ou desejaríamos pertencer a uma classe de indivíduos tão dialeticamente carregada, tão sensitivamente localizada, mas é iluminador ver nesse destino o papel cristalizado do humanista americano, o humanista não-humanista, por assim dizer.[xix]
Aqui, de maneira inequívoca, aquela contradição de que falamos ao início viceja. Dialeticamente. Criticamente. Tanto Espinosa quanto Edward Said aliam o humanismo ao exercício de um método filológico ou crítico de tipo “humanista” que porta em si a tensão de uma prática que, desde o interior de um sistema cultural e utilizando as melhores armas fornecidas por esse mesmo sistema, ergue-se
contra ele.
Entendamos. Seria fácil ao jovem judeu Espinosa, após o banimento, virar antijudeu (em termos de hoje: antissionista) e sair vociferando contra todo mundo; difícil mesmo foi continuar a ser um não judeu que não era antijudeu e, como descobrimos maravilhados ao ler o Tratado teológico político, tinha a capacidade de combater a leitura judaica das Escrituras usando as melhores armas colhidas
justamente na literatura judaica. Da mesma forma, ser um palestino que vocifera contra Israel e os Estados Unidos não é difícil, é natural; difícil é um norte-americano palestino que, sem jamais desprezar a cultura que recebeu, saber dirigi-la no combate a favor dos oprimidos.
Pois bem, talvez James Clifford não estivesse mesmo completamente errado. Só não teria compreendido que o paradoxo ou a contradição que ele acusava e denunciava, no caso, era justamente o aspecto mais fecundo do procedimento crítico preconizado por Edward Said. “O humanismo […] é uma técnica da perturbação”; “temos de praticar um modo para-doxal de pensamento”.[xx] Algo
que tanto melhor se revela, significativamente, no espelho de Espinosa: o humanista norte-americano desagrada a gregos e troianos, como o holandês de outrora desagradou judeus e cartesianos. E como efetivar essa proeza de fecunda perturbação da doxa programaticamente buscada?
Tornemos ao início: pelo método de leitura. “O humanismo diz respeito à leitura”, [xxi] reitera de uma vez por todas Said; em certo sentido, toda a questão reduz-se a saber ler, ler bem, o que quer que se leia. Antes de tudo, porque isso implica “pensar bem”. A prática da filologia envolve uma forma de pensar e pensar criticamente. Como poucos, Friedrich Nietzsche percebeu isso desde a juventude e nunca deixou de louvar o “espírito filológico” como uma espécie de eficaz adestramento do intelecto (adestramos um cavalo à marcha e, curiosamente, cremos que o bem pensar surgirá naturalmente?).[xxii] De qualquer modo, pedimos licença para ilustrar o assunto de um modo, por assim dizer, mais prosaico. As leis de Lidia Poët, série italiana narra os percalços de uma jovem diplomada em direito, na Turim de fins do XIX, para conseguir advogar. No primeiro episódio, a doutora Poët assume a defesa de um rapaz acusado de assassinato. Todos já dão o caso por resolvido, argumentando que circunstâncias e pistas incriminam
irrefutavelmente o réu; a única sentença esperada, pois, é a pena capital. Ora, tudo parece tão cristalino, tão incisivamente incriminador que… a jovem, contra tudo e contra todos, desconfia do veredito antecipado.
No curso das atribulações que esse posicionamento lhe custa, assistimos a um breve e sagaz diálogo. Será mesmo culpado o réu, interroga um jornalista? “Digamos que, quando todos pensam assim, sempre tenho dúvidas”, responde Poët. “Nesses casos, como a senhorita procede?”, insiste o jornalista, e então vêm as palavras que nos interessam de perto: “O senhor nunca estudou filologia? […] Quando um texto é transmitido em várias versões, a mais fácil é frequentemente a menos provável. Eu a descarto e me concentro sobre todas as outras”.
É quase impossível encontrar uma maneira mais clara de demonstrar que a leitura filológica, a paciência metódica, a desconfiança bem treinada, o olho aguçado para as contradições (as más contradições, bem entendido, aquelas que são capciosidades que buscam nos envolver no logro), prepara e envolve uma forma de pensar crítico. Não é pouca coisa, muito menos no que concerne aos seus efeitos éticos e políticos.
Uma vez que, como bem sabe o humanista, “escrever é uma série de decisões e escolhas expressas em palavras”,[xxiii] não há como conceber a leitura senão como uma operação tão intelectual quanto política, o que reitera a importância do método adequado. Não existe leitura ingênua ou apolítica; assim como o escrever, também o jeito de ler é sempre tomada de posição. A filologia humanista de Edward Said pode então tornar-se uma figura da crítica, da crítica democrática, sobretudo após o 11 de setembro.
5.
Ainda que não seja usual definir dessa maneira o trabalho de Said, estou convencido de que sua obra exprime uma firme posição filosófica. Durante a maior parte de sua carreira, ele esteve lotado num departamento de Inglês ensinando literatura comparada. Morava nos Estados Unidos; estivesse na França ou Brasil, por exemplo, jamais lhe negariam as credenciais de filósofo. As tradições locais
têm um peso incontornável nos rótulos; é normal.
O fato é que o que ele nos propõe é uma proposta filosoficamente robusta que talvez se pudesse caracterizar à guisa de transição, ou antes “regresso”, para usar uma palavra sua, da filosofia à filologia. Como que revertendo o bordão programático do jovem Nietzsche em sua aula inaugural na Basileia, a saber, philosophia facta est quæ philologia fuit, “o que era filologia tornou-se filosofia”, [xxiv] Said poderia resumir na seguinte tese os propósitos de sua obra: “o que era filosofia deve tornar-se filologia”.
É uma pena, uma pena demasiado penosa, que embora prossigamos nas sendas abertas por Edward Said, tantos frequentemente abram mão de o ler. Ao menos é a minha impressão. Não por acaso, parece que quanto mais se amplia o espectro das leituras literárias, filosóficas, etc., como ele sempre defendeu, mais frouxas se tornam as preocupações com a qualidade da leitura empreendida, como se o ato de ler,
tomado seriamente, fosse dissociável do de pensar criticamente, como se bastasse por si, como se isso pudesse ser feito sem maiores consequências.
Então, lê-se mal, pensa-se mal e, sobretudo, fala-se mal, nos dois sentidos que o advérbio admite; assim é quando os ossos do ofício filológico são substituídos pela facilidade das condenações imediatas e irrefletidas, anacrônicas e emotivas aquelas mesmas que dentro de uns pares de anos (oxalá) ter-se-ão tornado irrelevantes, ao contrário do destino que prevemos e desejamos para as obras de Edward Wadid Said.
__
*Homero Santiago é professor no Departamento de Filosofia da USP.
Notas
[i] Cf. Said, Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente, São Paulo,
Companhia das Letras, 2007.
[ii] Cf. Auerbach, Mimesis. A representação da realidade na literatura ocidental,
São Paulo, Perspectiva, 2021. Ver a “Introdução a Mimesis” de Said incluída
nessa edição.
[iii] Said, Cultura e imperialismo, São Paulo, Companhia das Letras, 1995, p. 23.
[iv] Idem, pp. 104-105.
[v] Idem, pp. 321-322.
[vi] Cf. Clifford, “Sobre Orientalismo”, em Dilemas de la cultura. Antropología,
literatura y arte en la perspectiva posmoderna, Barcelona, Gedisa, 2001.
[vii] Said, Humanismo e crítica democrática, São Paulo, Companhia das Letras,
2007, p. 27.
[viii] Idem, p. 47.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.