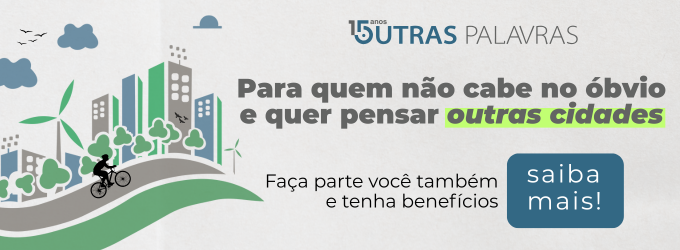Quando os serial killers ganham glamour
Multiplicam-se, no YouTube, vídeos amadores de true crime. Sinal de época: se o mundo está mesmo se acabando – como tantos creem –, por que não ser um dos protagonistas do crepúsculo? Em busca de interações e dinheiro, os algorítmos espraiam a onda mórbida
Publicado 06/02/2025 às 16:22 - Atualizado 06/02/2025 às 18:53

Por Bruno Boncompagno
Título original: Elephant e Franco Berardi
Elephant, filme do diretor americano Gus Van Sant do ano de 2003, retrata o massacre de Columbine por outra ótica. O longa começa acompanhando um garoto, fotógrafo de seu ensino médio, perguntando para um casal de emos se ele poderia tirar uma foto deles. De pouco em pouco esse menino entra dentro da escola e a partir daí o tempo do filme é dividido entre inúmeras personagens que podem muito bem ser compreendidas enquanto arquétipos dos “tipos” no ensino médio. Temos um grupo de garotas “populares”; um grupo de garotos “nerds” que não querem participar na educação física; temos os isolados, os skatistas e todos fazem parte, no começo dos anos 2000, do cotidiano de Columbine.
Enquanto espectadores, somos confrontados com algumas problemáticas durante o filme: há momentos moralmente duvidosos; nos mostram falhas de caráter óbvias das personagens. Explicitamente exposto, o convívio problemático constrói um ambiente vivo que, de pouco em pouco, nos faz sentir naturalizados. Todos ali são adolescentes e têm algum tipo de desvio de caráter; as personalidades estão sendo formadas e, enquanto jovens, é impossível cobrar uma espécie de atitude moralmente plena. Elephant consegue o que muitos documentários e filmes sobre o mesmo assunto não conseguiram: demonstrar que o massacre era também mais um dia normal de escola. Ninguém queria estar ali, estudando, tendo que gastar suas vidas trancafiados numa instituição de que nenhum adolescente gosta. As falas e o desenvolvimento de cada um são propositalmente curtos, afinal, o que ali foi perdido ainda estava nascendo.
Elephant não quer nos confundir e fazer com que sintamos o mínimo de empatia com os assassinos. Pelo contrário, é impossível declará-los humanos. A violência desleal, bruta, fria e horripilante é uma parcela expressiva do longa. A abstração correta nos leva a outra interpretação da vontade do diretor: deve ser compreendido, terminado o filme, o mesmo que Tiros em Columbine nos mostra, ou seja, que há forças maiores que os indivíduos ali presentes.
O documentário do diretor americano Michael Moore, premiado pelo Oscar, coloca em voga o que a mídia “escondeu” do público maior quando houve o ato: as armas e as munições foram compradas num supermercado. A materialidade dos fatos foi deixada de lado, enquanto a culpa do atentado foi direcionada a figuras como Marilyn Manson, vídeo games de tiros, entre outros elementos de “choque” da cultura americana. Os assassinos de Columbine estavam jogando boliche na manhã do atentado, voltaram às suas casas e tranquilamente se dirigiram a um supermercado para comprar milhares de balas para terem certeza que o atentado tivesse sucesso. Garotos de dezesseis anos de idade compraram rifles, granadas e munição suficiente para lutar contra tudo e todos, e isso legalmente.
A culpa, segundo a mídia convencional, era da música “satânica” de Marilyn, era do videogame “Doom” cuja violência alimentou os instintos animais dos adolescentes, e dos palavrões tão repetidos em desenhos problemáticos como South Park. Durante o documentário são entrevistados adolescentes que moram na cidade de Columbine, mas que não estavam presentes no atentado. É impressionante: situados num bar, os dois garotos contam que, após o atentado, a polícia ficou na cola deles pôr os considerarem “suspeitos em potencial”. O consciente coletivo retrógrado das cidades de interior estadunidenses, junto da força política policial, tornou qualquer um que demonstrasse uma atitude mais subversiva, transgressiva e com um passado violento, um terrorista em potencial. Todavia, o que assusta e impressiona é o fato de um desses dois garotos dizer abertamente que ficou triste por não estar em primeiro na lista dos suspeitos mais perigosos. A sua vontade era de amedrontar os cidadãos, queria ser tratado como um serial killer, um agente do horror e do puro mal. A repressão e a forma pela qual o atentado foi vendido na mídia apenas fomentou o sentimento violento desses meninos. Quem escutava Limp Bizkit, Slipknot e Korn era agora visto como Lúcifer na Terra pelos religiosos puritanos, presentes proeminentemente nessas cidades norte-americanas.
O ensaio do filósofo italiano Franco Berardi, cujo título Heróis, assassinatos em massa e suicídio é autoexplicativo, denota o momento pérfido da psique dessa geração que crescia nos anos 2000. No capítulo primeiro, um outro caso de assassinatos em massa é detalhado: um jovem, que também sofria bullying e era isolado socialmente, entra no cinema para assistir Batman: O cavaleiro das trevas ressurge e, após trinta minutos, começa a atirar na plateia ali presente. Devemos prestar atenção à materialidade tal como Michael Moore faz: esse mesmo jovem comprou as armas e as munições legalmente nos Estados Unidos, conseguindo efetuar o atentado facilmente pela livre disposição do armamento militar à população. Ademais, é o sentimento desumano, caótico, de que o mundo já acabou e nada faz sentido nem vale a pena que, em demasia permeado no inconsciente dessa geração, possibilita a ocorrência de atentados como esse. A repetição nos noticiários de crimes violentos, assassinatos, guerras, grupos terroristas, entre outros casos nocivos, naturaliza, literalmente, o pensamento que o apocalipse é o futuro mais provável da humanidade. No cérebro dos assassinos em massa é presente o nexo: já que tudo acabará pela decadência dos valores e moral humana, é preciso que eu, ser isolado, seja o herói dos nossos tempos.
Se não cuidarmos da forma como são tratados esses tipos de casos-limite, apenas proliferam as condições para eles se repetirem. Berardi, colocando a questão do “Herói” já no título, traz à luz essa motivação por muito ofuscada dos serial killers. Eles querem salvar a humanidade que está sendo perdida. Eles percebem que tudo está morto e apenas com esse ato limite talvez as coisas voltem a viver. No século XX já havia manifestos de psicopatas que matam pela crença indubitável no fim do mundo e, mais ainda, no fim da espécie humana como estes “a conheciam”. Digo do Unabomber, por exemplo; ou de Charles Manson na década de 1970. Esses eram tratados como anomalias psicopatológicas e durante muito tempo expostos ao público como os seres mais subversivos que já existiram.
A maneira pela qual foram apresentados a uma outra geração, que sofria pelas mazelas econômicas e sociais acalentadas na década de 1990, propiciou que essas figuras se tornassem ídolos. Em 2025 ainda temos exemplos de psicopatas que caem no colo do público. Vale lembrar da reação expressa no Twitter à duas séries da Netflix que retratavam a vida de Jeffrey Dahmer e Ted Bundy. Para além de nojento, o tipo de sentimento abertamente expresso significa uma desumanidade normalizada. Tornou-se tornou “se apaixonar” por um serial killer, assim como aconteceu no julgamento de Ted Bundy na década de 1980. O problema é igualar o contexto destes dois momentos distintos na história: ali era um caso isolado, hoje em dia esse tipo de acontecimento é massificado. Vimos isso acontecer recentemente no caso de Luigi Mangione, que assassinou a sangue frio o CEO de uma empresa de seguros de saúde lá nos Estados Unidos.
O livro “In Cold Blood” de Truman Capote, publicado em 1966, foi extremamente controverso em sua época por noticiar intimamente o que acontecia na vida de dois assassinos no corredor da morte. Já naquele período o público achou estranho conceber um ar tão amigável a seres que haviam brutalmente assassinado uma família no interior do estado do Kansas. Capote foi vanguarda no gênero de true crime e, hodiernamente, no Youtube, esse tipo de conteúdo é um dos mais consumidos. São milhões de visualizações em séries de true crime, em vídeos alheios. Não são mais noticiários que perpassam nossas vidas sensacionalizando guerras, são indivíduos que postam no Youtube suas investigações sobre crimes reais e são aplaudidos por tal. A empatia exposta no livro de Capote, para a década de 1960, era realmente elucidativa, o autor conseguia polemizar conscientemente contra um público exacerbadamente conservador, quiçá retrógrado. Assim como em qualquer outro período, não há empatia nos sendo servida, apenas a expropriação de um conteúdo que chama a atenção por sua notoriedade.
Caminhando nessa realidade mórbida, cunhada até de post-mortem, temos que tomar cuidado para não nos habituarmos com um tipo de discurso desumano, independente se este é feito humoristicamente ou não.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras