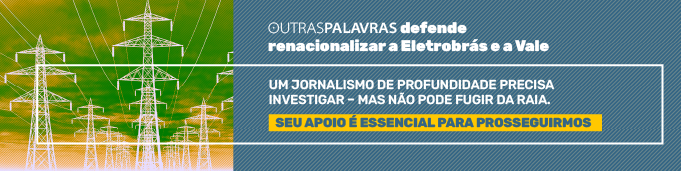O fantástico e as fissuras da razão capitalista
Ocidente impôs ao mundo uma natureza desencantada e inerte, à disposição para o uso. Evidências, como a crise climática, erodem essa ilusão de domínio: o real nos ultrapassa, o estranho nos constitui. É tempo de descolonizar o imaginário
Publicado 21/07/2023 às 20:43 - Atualizado 21/12/2023 às 14:58

Por Girolamo de Michele no EuroNomade | Tradução: Maurício Ayer
O longo artigo, ou talvez breve ensaio, de Eduardo Rialti, Né realismo né fantasie. Allo scrittore piace farlo strano [Nem realismo nem fantasia. O escritor gosta de tornar as coisas estranhas, “Il Foglio”, 2 de maio de 2023) reabriu o debate sobre o fantástico literário, lançando algumas balizas que será difícil não ter presentes. Com estas notas, que pressupõem a leitura dessa “peça-mundo”, pretendo mobilizar três teses: que a justaposição, grosso modo, entre o realismo e o fantástico não é apenas literária, mas sobretudo política; que termos ou categorias como “mágico”, “fantástico”, “weird” não são apenas palavras, mas apontam para algo que de fato existe; que o debate sobre o fantástico como um todo tem a ver, queiramos ou não, com aquilo a que chamamos “natureza” e, através do questionamento de nossa relação com a natureza, tem a ver com o destino dos humanos e dos nossos parentes não-humanos ou mais-que-humanos.
Quartos separados
O fantástico e o realístico, escreve Rialti, coexistiram durante cinco ou seis séculos em “quartos separados”: o realístico, tendo como correlato a perfeição estilística (segundo o cânone que Bembo elabora na esteira de Petrarca), representa a linha dominante da tradição cultural italiana, enquanto o fantástico se exprime por exceções e alternativas: como o romance épico-cavalheiresco renascentista de Pulci, Boiardo, Ariosto e Tasso, do qual deriva um modelo europeu que chega (simplificando) finalmente até Tolkien e Ursula Le Guin – mas também, até Margaret Atwood, Walter Tevis e Kazuo Ishiguro.
De fato, é preciso dizer que o realismo, ou seja, a crença na “realidade que se vê” como a única realidade existente, nasceu com o enclausuramento do mundo mágico no literário e a negação da realidade do mágico e do fantástico. Os poemas cavalheirescos de Boiardo e Ariosto tornaram acessível à linguagem das cortes uma visão de mundo popularesca em que, num espaço euclidiano onde cada lugar é equivalente a outro, se confundem o mágico/sobrenatural e o natural, o lunar e o sublunar. O mundo mágico era, para as classes populares do século XV – não só dos camponeses, mas também o mundo das ruas e das oficinas – um mundo real: este saber popular, através dos versos dos poetas, fascina o mundo das cortes, narrado de forma magistral por Castiglione. Mas este saber das oficinas, que era a expressão de uma visão do mundo que aceitava a presença do mágico e do fantástico, era ao mesmo tempo um saber que rejeitava a mediação da Igreja na relação entre o homem e Deus, e questionava as distinções sociais: quando a invenção da imprensa tornou possível a sua ampla difusão, este saber tornou-se um problema político. Trazer o mágico de volta ao literário é uma operação política que anda de mãos dadas com a repressão da bruxaria nas primeiras décadas do século XVI, particularmente nos Apeninos toscanos-emilianos: uma ação de limpeza política que servirá para afinar a máquina da Inquisição, que a partir de 1540 passará a reprimir as heresias, desde a leitura direta do Texto Sagrado até à protestante. Uma operação que Michel Foucault compreenderá, em As Palavras e as Coisas, como a passagem do Mesmo ao Outro.
É sintomático que Giambattista Pigna, plenipotenciário e educador do duque Alfonso II d’Este, que viria a imprimir um tratado sobre a arte de governar (Il principe, 1561) escrito para legitimar o domínio semi-absolutista dos Este sobre Ferrara, tenha publicado um estudo sobre Os romances [I romanzi] (1554), e em particular sobre o de Ariosto, no qual, através de uma crítica “estrutural”, expurgou do poema os aspectos mágico-fantásticos: o Hipogrifo não era um fantástico cavalo voador, mas um emblema de glória, tal como o Palácio de Atlante não é um lugar mágico, mas “um símbolo do juízo corrompido: que é acreditar que aquilo de que estamos mais privados é o verdadeiro fim a que nos devemos dirigir. […] Pode similarmente assumir a forma da corte, cuja servidão por vezes em vão se gasta; ela, no entanto, não deixa de manter a esperança de que, se nada for resolvido, a brigada se mantenha”. Como não ver não uma analogia, mas a mesma máquina normalizadora em ação entre a teorização da governança, que chega a determinar a composição qualitativa e quantitativa da população, e a normalização do conteúdo a que Pigna submete o texto de Orlando Furioso?
Acrescente-se que, nesse mesmo clima, com a tendenciosa tradução latina de Alessandro Pazzi da Poética de Aristóteles (que traiu uma tradução filologicamente correcta de Poliziano), foi imposta aos tradutores e comentadores uma leitura classista da distinção de Aristóteles entre as “melhores” e as “piores” personagens da tragédia e da comédia, baseada na hierarquia social entre nobres e humildes, e não no desempenho da personagem no palco: um paradigma disciplinar que seria seguido por Maggi, Robortello, Giraldi, Castelvetro e pelo próprio Pigna.
Finalmente: nesse mesmo período, a questão do vernáculo encontra a sua conclusão, com a afirmação do paradigma bembesco sobre aquele, elegante mas restrito às cortes, de Castiglione e aquele, maquiavélico, que defende o toscano das ruas e das oficinas: onde o elemento decisivo não é a pureza estilística do toscano refinado e embotado de Bembo, mas o fato de esta linguagem ser a que se estabelece na escrita diplomática, nos despachos de príncipes e embaixadores – ou seja, ser a linguagem do exercício do poder. Onde o exemplo, talvez único, mas de enorme importância, do toscano popular mais brusco e áspero é a tradução vernácula da Bíblia por Antonio Brucioli, da linha maquiavélico, participante na conspiração republicana dos Orti Oricellari em 1522, que no exílio francês converteu-se ao calvinismo e que finalmente refugiou-se em Veneza: uma língua que não pôde afirmar-se, porque lhe faltavam os falantes.
Fazer a genealogia da antítese entre o realismo e o fantástico significa, desde logo, saber por qual fantástico se está lutando quando se narra – e ter claro contra qual realismo se engaja a luta.
A mixórdia
Rialti observa que Manzoni condena, na sua Carta sobre o Romantismo de 1823, os fascínios do romantismo europeu por “não sei que bagunça de bruxas, de espectros, uma desordem sistemática, uma busca extravagante, uma abjuração em termos de senso comum”. E acrescenta:
Um leitor freudiano não poderá deixar de notar que esta mesma “mixórdia” será mais tarde empregada pelo próprio Manzoni, numa passagem capital, para descrever o coração humano em Promessi Sposi (Os noivos), e a palavra será mais tarde particularmente cara ao Gadda de Pasticciaccio – precisamente – que faz desmoronar a estrutura clássica do romance e as suas indagações racionais num sentimento de horror opressivo e decadência cognitiva.
Exceto que a pena de Manzoni, na sua exatidão, troça do inconsciente e das leituras psicanalizantes. O motivo da “mixórdia” (guazzabuglio) se repete apenas três vezes em Os noivos: no já mencionado Capítulo X (aberto por uma anotação sobre a fraqueza da alma humana em jovens, como Gertrude), onde se amplia da descrição das paixões do príncipe pai para a de Gertrude e seu examinador, generalizando aquele “essa mixórdia do coração humano é tão grande”, que parece ser um suspiro do autor; no capítulo XIV – “Deixando Renzo a fazer uma mixórdia de petições e censuras” –, tornando a divagação e o arrazoamento de Renzo turvados pelo vinho; finalmente, naquela página capital do capítulo XXXIII – “Era uma mixórdia de caules, que faziam com que se esmagassem uns aos outros na ária, ou que passassem uns pelos outros, rastejando pelo chão, e ainda para roubar o lugar em cada verso” – onde é descrita aquela que foi a vinha de Renzo abandonada a si mesma durante dois anos, em que a natureza retoma o seu próprio espaço e se mostra, aos olhos de Manzoni, como um monstro polimorfo irredutível a qualquer ordem e harmonia. É a natureza em si, não a antropizada: não o espelho do espírito que é a paisagem – desde o braço do Lago de Como até às montanhas de que Lucia se despede.
Se na Carta de ’23 “mixórdia” parece ser o nome dessa figura da mitologia que é a “caça selvagem” – aparição noturna de personagens e animais fantásticos que se perseguem uns aos outros, prenúncio de desgraça iminente – e que Tasso, colocado não além, mas no limite da normalização do fantástico, esconde com grande habilidade na descrição da floresta de Saron (Gerusalemme Liberata, XIII, 21); no romance a mixórdia sinaliza, em todas as suas declinações, na desordem espontânea que deve ser governada pela razão: seja a natureza, a linguagem ou as paixões do coração. Do rebanho que precisa de um pastor; ou da criança pegajosa do cap. XI, que governa um rebanho de porquinhos-da-índia (metáfora do autor que controla a pluralidade fugidia do enredo e das personagens ficcionais).
Na descrição da ruína daquela “pequena quinta que [Renzo] fazia trabalhar e trabalhava ele próprio, quando a roda de fiar estava parada”, e que garantia ao bom lavrador (quase uma prefiguração do empresário de si próprio) uma certa fartura a despeito da crise, Manzoni, que também tinha horror à escravatura, mostra-se um intelectual europeu: para quem a natureza é matéria inerte, que deve ser governada e moldada pela racionalidade ocidental. É o que Amitav Ghosh, no seu panfleto A maldição da noz-moscada, joga na cara da cultura ocidental com extrema dureza, em comparação com o texto mais “educado mas bastante duro” (tal como Wu Ming, na bela conferência em memória de Valerio Evangelisti) de 2016 A grande cegueira: para além da escravização dos povos asiáticos e africanos, da exploração capitalista dos recursos naturais e do genocídio dos povos indígenas, os europeus impuseram a sua própria concepção moderna e racionalista da natureza aos mundos e aos povos que viam a natureza – entendida seja como ambiente sjea como seres vivos não humanos ou mais que humanos – como dotada de intenção e consciência, em suma, animada, isto é, dotada de alma. Vale a pena recordar que Giordano Bruno, o último grande pensador, no limiar da modernidade, a defender o caráter animado da natureza, morreu na fogueira em Campo de’ Fiori apenas 21 anos antes do acontecimento de que o livro de Ghosh se inspira.
Por que os europeus fizeram isso aos não europeus? Porque, recorda-nos Ghosh, era a sua forma de atuar. Porque exterminar indiscriminadamente era a sua forma de fazer a guerra e, como tal, exportaram-na também para fora da Europa. Montaigne tinha recordado este fato no seu famoso (mas ainda incompreendido) ensaio sobre os selvagens; e, antes disso, Pulci o tinha contado no Canto XXVII do Morgante maggiore, onde descreve o massacre de Saragoça, cujos habitantes são exterminados “pelo fogo e pelo corte das espadas”, as suas gargantas cortadas “à francesa” ou queimados vivos – mesmo as crianças assadas e comidas como carne de porco – pelos soldados cristãos.
Trata-se, então, não só de libertar o fantástico das cercas dos cânones literários, mas também de regressar a uma crença no mundo mágico e fantástico: de descolonizar o imaginário; de reafirmar, seguindo uma pergunta célebre, que não só os subalternos e subalternas, mas que, “mesmo perante uma violência implacável e apocalíptica”, até “os não-humanos podem e devem falar”.
A tragédia das cercas
O apelo de Ghosh a reivindicar uma visão animista e vitalista da natureza, face à catástrofe desencadeada pela racionalidade capitalista, extrativa e imperialista, pode parecer uma concessão ao irracionalismo. O próprio Ghosh tem consciência disso; no entanto, o contista bengali, ao propor uma provincialização radical da racionalidade europeia e ocidental (baseada numa conceção mecanicista da natureza), sabe bem que, se a colonização da terra e da imaginação é um produto da racionalidade ocidental, é igualmente verdade que há instrumentos dessa racionalidade que são inevitáveis. Foi o racionalismo europeu que fez do ser humano um agente geológico capaz de modificar o ambiente, desencadeando as alterações climáticas de que ainda hoje nos esforçamos por tomar consciência; no entanto, sem as ferramentas fornecidas pela ciência, não poderíamos medir e compreender a alteração climática em curso. Foi a lógica colonizadora ocidental que criou as condições para a eclosão de crises pandêmicas, alterando os habitats e o clima do planeta e antropizando as zonas intermédias entre os aglomerados humanos e os ambientes em que os vírus se desenvolvem: mas sem a ciência biomédica não teríamos conhecimento da existência dos vírus, nem teríamos os instrumentos – a começar pelas vacinas – para barrar a sua virulência e propagação.
É a contraposição simples entre “uma” racionalidade e “irracionalismo” que está errado: Primo Levi, entre muitos outros, recordou-nos isto em Os afogados e os sobreviventes, estigmatizando a nossa propensão para narrativas históricas maniqueístas. Mas não há “uma” racionalidade: como tudo (a começar pela subjetividade e pela natureza), também a racionalidade é um campo de batalha entre diferentes racionalismos, alguns dos quais estruturam esse campo adverso a que chamamos razão capitalista ou imperialista. Não compreender isto significa voltar a cair em certas teorias do desencantamento, reedição diluída de um conceito weberiano já questionável, que, ao fazer coincidir toda a racionalidade com uma única racionalidade, fazem a racionalidade simplesmente colapsar com o poder (por sua vez entendido como um monolito): com o resultado de apagar todo e qualquer “irracionalismo” numa chave “antagônica”.
A “tragédia das cercas” de que fala Ghosh não é apenas um resultado do imperialismo ocidental – conceber qualquer terra não cercada como um elemento inerte e passivo em relação aos desejos do colonizador, a ser cercada e “civilizada”. É também uma forma de colonizar o imaginário, levando-nos a acreditar num mundo desencantado, isto é, livre da presença do mágico, do encantamento: um território liso e euclidiano, desprovido de alma e de entidades não humanas. Mas este é apenas um efeito prospectivo: não se encontra o mágico-fantástico porque não se o procura, e não o encontrando, acaba-se por acreditar que é inútil procurá-lo. Exceto para nos surpreendermos a cada vez que – do sucesso editorial de Harry Potter ao enésimo “regresso” das sagas de Tolkien, dos espaços editoriais e televisivos da fantasia, em papel ou vídeo – o fantástico irrompe no real. A esta surpresa, a resposta é uma fuga para o elitismo, através da acusação de “comercialização”: afinal, as séries de fantasia são produzidas pelas grandes plataformas de entretenimento em vídeo, do Netflix ao Disney+, passando pelo Hulu e Paramount+. Apetece repetir a velha piada de Lênin, apócrifa ou não, de que a burguesia vende até a corda com que vai ser enforcada, e ficar por aqui. O fato é que as grandes plataformas produzem séries de fantasia (e não só) porque essas séries têm um mercado; e têm um mercado porque sinalizam algo: Àquela perda de presença que De Martino situou na intersecção entre o medo de que o mundo acabe e a expetativa do fim deste mundo; àquela “nostalgia de um futuro perdido” a que, segundo Mark Fisher, aludem as ucronias ambientadas em um passado alternativo, a partir do qual surgem outros futuros que contradizem a afirmação neoliberal de que “There is no alternative”; a todas aquelas terras desconhecidas, povoadas por seres desconhecidos, que se estendem para além dos cercamentos do imaginário.
A estranheza
Há uma cena em La Stranezza [A estranheza], de Roberto Andò, que diz tudo numa só linha: quando o velho Verga recebe a visita de Pirandello, que tem “uma estranheza na cabeça que se tornou quase uma obsessão”, e lhe diz: “Meu Luigi, partiste por uma estrada desolada, cheia de perigos; uma estrada que ninguém conhece, e nem sequer sabes onde vai dar. Colocaste uma bomba sob os alicerces do edifício que construímos laboriosamente: a realidade”. Esta frase (imaginária, mas muito real) foi dita há mais ou menos um século: as Seis Personagens à Procura de um Autor (ou seja, a “estranheza”) surgiram no palco em 1921 no Teatro Valle – hoje um lugar desolado, povoado por fantasmas e pó, enquanto continuam concretíssimas as personagens pirandellianas. Nesta linha está condensada a superação do “realismo” e do “racionalismo” não só no campo estético-literário, mas em todos os campos do conhecimento contemporâneo: há um século, de fato. Basta ver o que se passou não só com a “realidade”, mas com as suas estruturas básicas, o espaço e o tempo, na física do século passado. No entanto, a representação mais coerente e convincente do que resta do tempo na relatividade einsteniana é uma série de ficção científica que, apesar de complexa, tem tido muito sucesso: Dark. Não por acaso, ela abre com uma célebre afirmação de Einstein: “Estamos convencidos de que o tempo é algo linear, algo que avança eternamente e de forma completamente uniforme, algo infinito. Na realidade, a distinção entre passado, presente e futuro não passa de uma ilusão”. Menos conhecido é o fato de estas palavras não terem sido proferidas numa conferência, nem incluídas num programa de aforismos: foram escritas numa carta que Einstein, um mês antes da sua morte, dirigiu, em 16 de março de 1955, à irmã do seu amigo Michele Angelo Besso, que havia morrido no dia anterior.
Como podemos acreditar que os não-humanos, e a própria natureza, têm uma alma, são dotados de intencionalidade e finalidade? Claro que não podemos sabê-lo: para isso, teríamos de saber como é ser um não-humano. Quer se trate de um morcego, de acordo com o famoso ensaio sarcástico de Nagel, ou de um neandertal, como Pievani argumenta espirituosamente, não podemos saber: não podemos imergir em uma mente com uma estrutura simbólica alheia. De fato, é provável que também não possamos fazê-lo entre nós, humanos, apesar do DNA comum. Mas não é a resposta que falta: é a pergunta que está errada, tal como a pergunta sobre a Inteligência Artificial como potencial inteligência humana, capaz de passar no teste de Turing, está errada. Mas mais do que o debate medíocre sobre a IA, povoado por jornalistas e especialistas que ignoram os fundamentos do assunto, valeria a pena retomar a discussão sobre a consciência e a intencionalidade que teve lugar há algum tempo entre os filósofos da mente – entre Chalmers e Dawkins, por exemplo. Nelas, tinha finalmente surgido um ponto firme que se encontra na melhor ficção científica sobre o assunto – dos robôs e clones de Ishiguro (Don’t Leave Me, Klara and the Sun), Atwood (a trilogia MaddAddam), Walter Tevis (Mockingbird), mas também de Kubrick (A.I., realizado após a sua morte por Spielberg): considerar como humano aquilo que suscita efeitos, intencionalidade, afetos comparáveis aos humanos. Também porque qualquer tentativa de restringir o campo do humano para manter o não-humano fora do recinto implica inevitavelmente uma deportação para além das cercas da conduta humana, das atitudes, dos modos de ser: o que não é apenas uma possibilidade, mas uma realidade que tem sido e continua a ser, como sabemos.
A questão a responder é, então, a seguinte: o que implica, em termos de cesura radical do nosso modo de habitar o mundo, cercando-o com cercas e estacas, pensar o não-humano como dotado de vontade e intenção, capaz de surpreender a nossa razão determinante e de suscitar emoções que não são apenas um reflexo do nosso mundo interior? O mínimo que se pode dizer é que isso implica uma provincianização radical da nossa visão do mundo: afinal, só nós, ocidentais, somos capazes de pensar o fim do mundo, mas incapazes de pensar o fim do capitalismo – e de nos surpreendermos com essa incapacidade. Basta perguntar a um bangladeshiano, por exemplo.
Concluindo com Ghosh:
Uma grande parte, se não a maioria, da humanidade vive hoje como os colonialistas, considerando a terra como uma entidade inerte que existe principalmente para ser explorada e pilhada com a ajuda da tecnologia e da ciência. No entanto, hoje em dia, até a ciência é obrigada a contar com forças invisíveis que se manifestam em fenômenos climáticos de uma violência perturbadora e sem precedentes. E, à medida que se intensificam, esses acontecimentos tornam cada vez mais relevantes as vozes que, mesmo perante uma violência implacável e apocalíptica, continuam teimosamente a defender que os não-humanos podem e devem falar. À medida que a perspetiva de uma catástrofe planetária se torna mais forte, é essencial que estas vozes não-humanas encontrem um lugar nas nossas histórias.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras