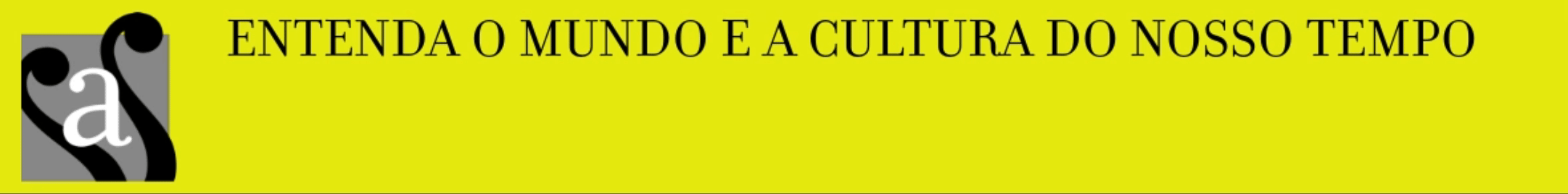Luiz E. Soares: Brasil em contagem regressiva
Há chances consideráveis de que Lula vença. Nesse caso, terão início as imensas tarefas da reconstrução. Espero que valorizem as lutas que sacodem o patriarcado e a herança colonial — e foram tantas vezes desdenhadas como apenas identitárias
Publicado 10/10/2022 às 18:06 - Atualizado 10/10/2022 às 18:22

Por Luiz Eduardo Soares | Imagem: Mariza Dias Costa
Não estamos entendendo nada, ou quase nada. Dia 2 de outubro caiu como uma bomba de efeito retardado: intuímos, ao fundo, o rumor da contagem regressiva rumo à regressão incalculável. Esse é o fato, pudicamente coberto por conversa fiada mais ou menos vulgar e eventualmente adornada pela sofisticação dos ilustrados. Aqui e ali, lemos textos e declarações que normalizam o escândalo na vulgata da ciência política positivista, cuja indigência fora demonstrada à exaustão na última década. As instituições estão funcionando, eles dizem, e, conforme venho repetindo desde 2013, continuarão a funcionar como o ventilador no fim do mundo, girando até a bateria acabar. Como é possível que alguém minimamente informado continue funcionando como um adulto racional e afirme essa barbaridade, depois de quatro anos em que um presidente cometeu todo tipo de crime sem ser molestado pelos bravos e republicaníssimos checks and balances? Não raro, nas redes e na mídia, topamos com truísmos, platitudes e exaltações da prudência ante o enigma – menos mal –, ou com o exibicionismo narcísico da inteligência impotente, que apenas circunscreve com elegância a própria ignorância. Por outro lado, ouvi e li intervenções desbravadoras, corajosas e criativas, diferentes entre si, mas poderosas e verdadeiramente inspiradoras, de Manuel Domingos, Gilberto Maringoni, Bruno Torturra, Ferrez e Ronilson Pacheco. Certamente, há muitas outras manifestações importantes e esclarecedoras. As redes são incansáveis e eloquentes.
Acho que é o momento de ousar, reconhecer a perplexidade e dar nome à nossa limitação (conceitual, vocabular, intelectual e perceptiva) para entender o curto-circuito societário que nos assombra: afasia. É hora de reaprender a falar – e escrever. Mas longe de mim a pretensão de ensinar. O melhor que posso fazer é errar erros novos.
Começo pelo que me parece óbvio e faz com que a leitura de artigos normalizadores me deixem exasperado: estamos diante de um processo eleitoral que dá tração a um assalto fascista ao poder. Ou seja, não estamos diante de um processo eleitoral, stricto sensu, mas ante uma ameaça existencial. De meu ponto de vista, quem não partir desse pressuposto corre o risco de, mesmo involuntariamente, fortalecer a ameaça. Uma boa alma indagaria: isso não restringiria o espaço para o diálogo e não conduziria a julgamentos morais – não apenas intelectuais e políticos – sobre os portadores de perspectivas divergentes? Sim, sem dúvida. É isso mesmo que estou fazendo.
Se colegas intérpretes do Brasil preferem aplicar ao assalto que denominei “fascista” outro adjetivo, não me oponho. Empreguem o que considerarem mais adequado no repertório das qualificações para o bolsonarismo. Se tampouco se satisfizerem com o uso da categoria bolsonarismo, recorram a outros epítetos. Não me oponho, desde que não se rendam às falácias em voga: “direitista”, “ultradireitista”, “populista de direita”, que têm servido para naturalizar (e portanto legitimar) o fenômeno em curso, inscrevendo-o numa série homogênea, numa linha contínua, em que também se localizariam Lula e outras lideranças do campo democrático, como se as diferenças não fossem de natureza, mas de grau. Nada melhor do que essa geometria simplória para tornar mutuamente comensuráveis o PT e a abominação bolsonarista, a proposta política petista e a ameaça existencial à sociedade e à própria vida no planeta. Não quero perder tempo com disputas conceituais em torno da pertinência ou não da referência ao fascismo. De meu ponto de vista, me dou por satisfeito com a afirmação de que a coisa em foco nada tem a ver com disputas políticas eleitorais, nem se relaciona com a experiência democrática. Por isso mesmo requer, de quem repele a barbárie, audácia e energia para pensar e agir, antes que o segundo turno eventualmente a consagre.
Segundo ponto: perdoem reiterar o óbvio, mas sempre haverá quem critique generalizações, que não fariam justiça à gigantesca heterogeneidade do universo de eleitores de Bolsonaro. E mais: é preciso salientar que eleitores não são necessariamente adeptos do bolsonarismo, seja lá o que isso signifique, ou melhor, não são nem fanáticos, nem fascistas. Nem mesmo se identificam com os valores que o líder postula. Há graus distintos de adesão. Muitos, muitíssimos serão perfeitamente capazes de criticar o presidente e de se posicionar numa ou noutra direção, de acordo com pautas e conjunturas. Eis aí a sociologia liberal racionalista de volta, uma espécie curiosa de antropologia de centro, ou talvez a mera racionalização da ideologia rastaquera que opera com o modelo liberal do homem que calcula, do empreendedor utilitário movido por interesses, legitimamente egoísta. Legitimamente, sim, uma vez que, afinal, como Mandeville nos ensinou, no mercado, vícios privados redundam em virtudes públicas. Mercado que, por sua vez, também legitimamente, se refletiria nas escolhas políticas. Tudo bem, mesmo descrendo nessa teoria de araque sobre o ser humano e lamentando a pobreza sociológica do utilitarismo projetado sobre a política, posso conceder tudo isso. Trata-se de um universo plural e internamente diverso. Contudo, as miríades de diferenciações internas à galaxia bolsonarista sucumbem frente ao voto, a diversidade é abolida no momento da escolha derradeira, quando as variações torrenciais são condensadas (não se trata de subsunção ou síntese, pelo contrário) pela exclusão prática, naquele gesto trivial e épico do voto. O que me autoriza um juízo ético-político e intelectual unívoco, não somente a análise. São todos cúmplices do genocídio, da degradação ambiental e da brutalização de nossa sociedade – nesse caso vale inclusive indagar: sociedade?
Em dramas sociais, como são as eleições, estão presentes as mais diversas dimensões que compõem a vida em sociedade. Por esse motivo, faz todo sentido refletir sobre as conexões entre interesses e voto, renda e voto, classes sociais e voto – eis aí o mapa para uma genealogia da cumplicidade. Assim como entre faixas etárias, escolaridade, adesões religiosas, regiões, raça ou cor, gênero e voto. Em outras palavras, todas essas relações merecem ser objeto de reflexão e pesquisa, e devem constituir focos da campanha de Lula, sem nenhuma dúvida. Todavia, é evidente que isso não basta. Não bastou e não bastará. Por este motivo, a contribuição que pretendo oferecer põe em circulação hipóteses relativas à relevância de outras dimensões, entre elas, e em primeiro lugar, a demanda, amplamente ativa na sociedade, pela restauração da mais profunda e matricial das ordens, aquela que, abalada, provoca insegurança mais intensa e dramática do que a violência e a criminalidade. Uma ordem que não se promove com polícia e justiça criminal. Refiro-me à ordem no plano matricial – que é imaginária mas vivida como o pressuposto mais essencialmente real da existência –, plano que delimita e suporta o próprio ser de cada sujeito humano, define seu destino e lhe dá sentido, plano que merece ser denominado “ontológico”.
I. A restauração da ordem ontológica
A tempestade feminista varreu certezas, referências e toda a arquitetura patriarcal e falocêntrica que organizava homens, mulheres, adolescentes e crianças em torno de papéis consolidados e funções padronizadas – sociais, econômicas, culturais e reprodutivas –, cada qual com suas contrapartidas psíquicas, isto é, afetivas e libidinais. A luta das mulheres por igualdade não se esgotou nem se esgota na paridade salarial, na redistribuição do trabalho doméstico, no direito ao voto, à representação e à propriedade. Avança no campo das autoimagens e das imagens sociais, reconfigura a sexualidade, reestrutura os vínculos entre sexo e moralidade, erotismo e reprodução, amplia o espectro semântico e político da liberdade e dos direitos, e reivindica o controle do próprio corpo.
O capitalismo e a ideologia liberal demonstraram plasticidade suficiente para absorver parte substancial das energias precipitadas pelos movimentos das mulheres, mas sinalizaram dificuldades para conviver com as interseções entre as mobilizações feministas e as lutas antirracistas, que trouxeram consigo as contradições entre as classes (as quais já atravessavam as pautas e as linguagens feministas). As tensões se intensificaram quando, a essa pororoca de protestos, reivindicações e intervenções cívicas, culturais e políticas, se somaram, progressivamente, as lutas LGBTQIA+. Deu-se um nó no trânsito da política tradicional pelas novas esquinas da história. A retórica, o horizonte do possível, o princípio de realidade e os procedimentos da política liberal institucionalizada foram abalroados por novos projetos e desejos e subvertidos pela babel (ininteligível e chocante às sensibilidades convencionais) de aspirações, estéticas e modalidades organizativas. Não se tratava do mesmo indivíduo, o cidadão racional da República democrática, que simplesmente passava a acumular alguns itens originais à sua agenda, assim como o empresário liberal acrescenta papéis à sua carteira de negócios. A praça ficou grande demais, agitada demais, febril e incandescente demais, imprevisível e incompreensível demais para caber no mercado.
O liberalismo, radicalizado por seu rebento monstruoso, o neoliberalismo (que não pervertia a origem, apenas a revelava com mais crueza), não demorou a desmascarar sua natureza excludente, autoritária e brutal, desde os primeiros confrontos com sindicatos de trabalhadores (lembremo-nos da resposta de Thatcher aos mineiros). Pois o desafio seria bem mais complexo do que as greves na Inglaterra prenunciavam. O fim da Guerra Fria não implicaria o desaquecimento das tensões sociais, até porque as desigualdades, os processos neocoloniais, as manifestações crescentes e contínuas do aquecimento global e os antigos mecanismos repressivos se expandiam, suscitando novas formas de consciência e distintas modalidades de resistência. Entretanto, e essa é a beleza da história (beleza trágica e sangrenta), por mais que a primeira-ministra britânica decretasse o fim da sociedade e a primazia absoluta do indivíduo, inaugurando a era da precariedade generalizada – salvo para os salvos do dilúvio, evidentemente – e debilitando as organizações populares e as concepções coletivistas, novas individualidades eram gestadas, envolvendo revoltas políticas de novo tipo, a invenção de comunidades experimentais e a emergência de inesperadas solidariedades transversais. Essa energização recíproca – apesar de contradições internas aos múltiplos movimentos e, em parte, graças a elas – alcançou patamares surpreendentes com a disseminação das redes sociais e das tecnologias digitais de comunicação. Os tipos de individualidade surgiram, paradoxalmente, da exacerbação do individualismo neoliberal, mas transcenderam os limites do figurino moldado pela economia, na medida em que precisavam, para se viabilizar, de ações coletivas e acolhimento mútuo, que apontavam para projetos políticos socializantes e radicalmente democráticos. Essas individualidades originais que transbordavam o capitalismo neoliberal (e foram se constituindo em meio a saltos e recuos, encontros e desencontros, graças às mobilizações feministas e LGBTQIA+) exerciam uma estética de si que pressupunha inusitado campo de liberdade e apontava para alianças não apenas táticas com movimentos antirracistas e aqueles assentados na luta de classes: à sua coragem libertária devemos a conquista extraordinária que correspondeu à dissociação entre corpo, gênero e sexualidade. Assim, a anatomia deixou de ser um destino; o gênero se rendeu à vontade política e às sinuosidades do desejo, explodindo a camisa de força das classificações e suas canalizações institucionais, familiares e sociais; e o sexo abriu-se à arte indeterminada das experimentações.
Por óbvio, não estamos diante do velho personagem: o indivíduo-consumidor de mercadorias, que aluga a força de trabalho. Estamos frente a frente com a persona gestada por um complexo processo político consciente e inconsciente, em (re)construção permanente, que evoca a linguagem da solidariedade, da liberdade, da participação e de um protagonismo cívico-político inusitado. Não se trata de fantoche produzido pelo neoliberalismo, nem seu apelo político radical à individualidade corresponde ao que se convencionou denominar individualismo. A gestação das novas individualidades significa, do ponto de vista do capital, uma anomalia, justamente porque realiza uma de suas tantas contradições estruturais. Isso não significa, por exemplo, que todas as mulheres sejam revolucionárias, até porque o machismo não faz a cabeça somente dos homens. Mas não é coincidência que os fascistas se oponham tão ferozmente ao que denominam “ideologia de gênero”. Eles não odeiam as mulheres, individualmente, mas o feminino como signo de um mundo que ignoram e temem, um mundo que poderia vir a ser hostil ao autoritarismo falocêntrico e à exploração mercantil. Eles odeiam o potencial de construção política do feminino. Eles odeiam a população LGBTQIA+ porque temem a subversão dos papéis tradicionais, promovida por quem ousa privilegiar a liberdade fluente do próprio desejo e experimentar a indisciplina no jogo das identidades. Às vezes, na esquerda, nós escorregamos, seja por negligenciar como “identitárias” as lutas que não compreendemos, seja por compartilhar preconceitos patriarcais.
E aqui chegamos ao ponto que importa diretamente à análise do bolsonarismo e das lutas políticas em curso no Brasil, que agora se conectam com a disputa eleitoral. Não apenas os fascistas estão desnorteados ante o tensionamento dos arquétipos. O macho está desnorteado – o que inclui as mulheres que assimilaram a estrutura mental do patriarcado. E não só no Brasil, mas, agora, é do Brasil que se trata. O fascismo bolsonarista é (entre muitas outras coisas) uma das respostas ao desespero dos que sentem o chão tremer sob os pés e, sem norte, se agarram ao último fio de esperança que os ligue à ilusão de que poderiam ver restaurada a ordem ontológica subvertida. Bolsonaro endereça seu discurso, seus atos, sua performance aos machos em agonia, homens e mulheres que se veem na beira do abismo da própria insegurança. Se o ser é movimento, se corpo, gênero e sexo não formam uma unidade inquebrantável, sancionada por Deus e pela natureza para todo o sempre, se não há uma essência substantiva que ancore aquilo que cada um(a) é, no âmago de seu ser, orquestrando seus afetos fundamentais, se a família patriarcal não é a única forma sadia e sagrada de união, como cada um e cada uma pode se reassegurar contra a correnteza de incertezas? Insegurança e medo clamam por ajuda, apoio, resposta. Bolsonaro se dirige a esse medo matricial com performances que evocam tanto o tio do churrasco, racista, homofóbico e misógino, quanto o Deus de Primeiro Testamento, um deus de fancaria, mas que faz sentido para o homem sem norte. A coreografia com a arminha é a cena grotesca e canhestra dessa mensagem: eis-me aqui, o macho grosseiro, tosco, rude, sou pura violência vingadora, vim expulsar o Outro que encarna o mal e as perversões, que é a anti-natureza – o anti-Cristo. Quem protege a natureza sou eu, ele dirá, a verdadeira Amazônia é o falo inflamado pelo poder que impõe a ordem definitiva. Bolsonaro é o esboço de tirano imbrochável, sem amarras, que não conciliará com a alteridade. O Outro será expurgado de nossa pátria. Ela é o solo comum sobre o qual se sobreporão novamente (tratar-se-ia de repetição, de recuperação do passado idealizado) o mandamento divino atemporal, a essência do homem e da mulher, e a natureza humana imutável. O Outro e a história serão banidos. E todos estarão armados para essa guerra terminal. Bolsonaro inscreveu na política a promessa de restauração da ordem ontológica fraturada pelos movimentos emancipadores e libertários. Essa é a segurança que de fato importa, a outra – onde policiais caçam bandidos – é menor e vicária.
É possível viver de formas diferentes o desmonte progressivo do poder falocêntrico. Por exemplo: aderindo ao desmonte; recalcando o incômodo perturbador com mais ou menos sucesso (isto é, formando neuroses ou psicoses); buscando ajuda em terapias; aproveitando sua adesão religiosa para elaborar a resistência nos termos simbólicos de cosmologias teológicas; ou passando ao ato com a violência de linchamentos ou de ataques individuais, abusos e violações, disseminando preconceitos e discursos de ódio, e/ou vinculando-se ao bolsonarismo, ao integralismo e a outros movimentos neofascistas.
A hierarquia de classes e o racismo estrutural também se articularam, historicamente, com os pilares arquetípicos da família patriarcal. Somos uma sociedade forjada na escravidão. Não à toa a Casa-grande é a síntese do poder no Brasil. Portanto, a pirâmide toda parece balançar quando o masculino e o feminino se desgarram de sua ancoragem supostamente natural e não apenas quando os trabalhadores se organizam e os movimentos antirracistas se afirmam. O imaginário da Casa-grande, dominante na elite branca, sempre foi retrátil: contrai-se feito sanfona quando se esgarçam direitos e liberdades, na esteira das lutas sociais, mas permanece armado sobre a base que lhe dá tração, mantendo-se pronto a estender-se a qualquer momento, encerrando sob a noite política os episódicos experimentos democráticos.
II. Coronelismo digital, enxada virtual e o curral dos devotos eletrônicos: a engenharia reversa do bolsonarismo
Os resultados do primeiro turno das eleições de 2022 mostram que Bolsonaro se ajustou à política brasileira, enraizou-se nas lógicas tradicionais e integrou-se, organicamente, à dinâmica do conservadorismo nacional. Quem prefere ler essa constatação com indulgente otimismo, vê nesse fenômeno o sinal positivo da domesticação de um populista autoritário, fadado a “normalizar-se”, isto é, forçado pelos imperativos da realidade a respeitar as quatro linhas do jogo constitucional. Nessa perspectiva benfazeja, a despeito de “bravatas” e grosserias, Bolsonaro seria apenas mais um ator da democracia, cuja legitimidade mereceria ser reconhecida. Esta conclusão me parece tão absurda, intelectualmente, quanto abjeta, moral e politicamente. De meu ponto de vista, quando um líder fascista acopla sua máquina de guerra às estruturas orgânicas tradicionais do conservadorismo político brasileiro, o que se prenuncia é o ocaso de nossa frágil, precária, contraditória e limitada experiência democrática. Para explicar minha tese, preciso expor meus argumentos sobre o funcionamento de ambas, a máquina de guerra fascista e a lógica convencional da política conservadora brasileira. Começo pelo segundo tópico.
II.1. A brutalidade visceral da normalidade política conservadora
Na medida em que a chamada “descompressão” avançava, na segunda metade dos anos 1970, delineando no horizonte a promessa de um retorno à democracia, a tradição dos estudos empíricos sobre voto, eleições e sociedade começou a ser retomada no Brasil. Surgiram aos poucos as pesquisas sobre clientelismo, não mais no âmbito do coronelismo em um país rural, mas em favelas e bairros populares, no rescaldo de uma urbanização célere e brutal. A redemocratização trouxe consigo o refinamento de dados e percepções: na academia, a política de clientela, resistindo a preconceitos elitistas, foi conceitualmente incorporada ao vasto repertório da política democrática. Resignamo-nos ao fato de que não só de ideias e programas vive a disputa política, sua dinâmica turbulenta e conflitiva envolve também negociações pragmáticas: a bica d’água pode representar muito para a comunidade e, portanto, trocar o voto por um benefício coletivo talvez não seja alienação ideológica, mas estratégia de sobrevivência. O ganho privado do mediador local (pago pelo candidato que classifica o gasto sob a rubrica dos custos de operação) talvez não merecesse, afinal, avaliação moralista, mas um lugar na análise sobre a cadeia de interesses que se interconectam e retroalimentam. O mercado eleitoral mobilizaria uma espécie de nanoeconomia e a bica d’água, a rua asfaltada e a grana no bolso do broker não passariam da versão popular, em pequena escala, do acordo que move a política, entre representação, economia e dominação de classe. A importância desse tipo negocial de vínculo foi se tornando maior na mesma medida em que os juízos complacentes e sua avaliação como mecanismo político natural em eleições democráticas foram se mostrando mais discutíveis e talvez sintomáticos do processo de despolitização e institucionalização das ciências sociais, contrapartida do flerte de seus profissionais com o mercado.
O fenômeno transcendeu a bica d’água, o asfaltamento e melhorias tópicas, benefícios significativos, uma vez que deputados passaram a controlar clínicas e centros de atendimento social, apropriando-se de políticas públicas, privatizando o Estado e mercantilizando a política eleitoral. Tais elos eram distintos dos anéis que ligavam a burocracia estatal à burguesia, de que nos falava Fernando Henrique Cardoso, nos anos 1970, identificando estruturas corporativistas no modo como a ditadura organizara a cooptação das elites e operava sua política econômica. Depois da transição, a desideologização – antes imposta pela repressão e na sequência promovida pela própria dinâmica da democracia liberal, reproduzindo tradições arcaicas que remontavam à primeira República com inovações e muitas mediações que as complexificavam – em vez de indiciar apenas a afirmação do pragmatismo nas decisões de voto, preservadas ilhas de opinião, veio acompanhada da criação de máquinas cada vez mais portentosas e temíveis, orientadas não propriamente para interferir no mercado de votos, mas para submetê-lo à oligopolização. Tratava-se de máquinas azeitadas por recursos públicos e privados, entre os quais a força de constrangimentos armados, dos quais as milícias fluminenses oferecem testemunho ostensivo e hiperbólico.
Eis o campo fértil em que prosperaram máfias diversas: dos transportes, da coleta de lixo, dos serviços de saúde, das empreiteiras de pequeno porte, da grilagem de terras públicas, das chantagens em fiscalizações, das renúncias fiscais, multas e anistias, das licitações dirigidas por conluios entre empresários e gestores públicos, dos pagamentos seletivos da dívida pública mediante contribuições para caixinhas eleitorais, da distribuição de cargos municipais, na ausência de servidores públicos devidamente concursados – indispensáveis ao funcionamento de um Estado republicano, comprometido com o bem público. Como se deduz, políticas imediatistas, voluntaristas, falta de planejamento e de investimentos de longo prazo não derivam apenas da falta de visão de políticos e gestores, mas dessa infraestrutura que subordina os executivos, sobretudo municipais, a uma lógica de tomada de decisão reativa e defensiva, equilibrando-se entre parâmetros constitucionais e chantagens venais em certos Tribunais de Contas e algumas Câmaras Municipais. Os recursos públicos, desviados para ações de interesse coletivo (ou simplesmente distribuídos, privadamente) patrocinadas por políticos locais, são drenados para a formação de blocos de apoio eleitoral. O mecanismo, ora aplicado no escandaloso orçamento secreto do Congresso Nacional, há décadas vinha sendo ensaiado em escalas modestas em estados e municípios, quando os Tribunais de Contas eram manietados pela indicação política de seus membros, anulando sua independência e os incluindo no pacto de espoliação. Eis aí os anéis da nova democracia brasileira, que emergiu dos anos 1980, sem Justiça de transição, mudando regras mas conservando práticas, procedimentos, mecanismos, valores e visões de mundo: clientelismo político degradado, aliado à economia de baixo teor republicano, buscando a privatização do Estado, acoplado a um mundo popular superexplorado e submetido, se necessário pelas armas (legais e ilegais), às contingências da sobrevivência.
À voracidade predatória dessa fatia do empresariado atuante nos municípios de pequeno e médio portes – e não só –, mais ou menos vinculado à grande burguesia e ao capital financeiro, inexoravelmente presente na fluidificação dos negócios de todas as magnitudes e latitudes, juntou-se o empreendedorismo diretamente criminal, em que se irmanaram bicheiros, traficantes de armas e drogas, ex-membros da repressão na ditadura e policiais corrompidos – atuando em núcleos autonomizados como scuderies, esquadrões da morte, segurança privada ilegal e informal, depois milícias. As milícias são a expressão extrema desse pacto, porque sujam as mãos de sangue, mas apenas traduzem sem mediações, com maior nitidez, os valores e as práticas com que se identificam os demais parceiros do conluio: a força se autolegitima e é esteio do poder, reconhecido pelas instituições. O exercício da força prescinde de regras e intervenções externas, alheias aos limites ditados pelo pacto. Se algum prefeito ou vereador ousar romper a omertà será enquadrado pela ameaça de impeachment ou por emboscadas mais rústicas. As armas e os artifícios normalizados variam de acordo com a necessidade e a conveniência. No município, como nas lutas sociais no meio rural, “polícias privadas” substituem intervenções das Forças Armadas. Os coronéis locais, com aviões e seguros de saúde que lhes garantem atendimento cinco estrelas em São Paulo, prescindem de exegeses enviesadas do artigo 142, nem precisam invadir o STF. O crime político lá é cotidiano e faz parte das dinâmicas rotinizadas em que o bolsonarismo se enraizou, organicamente. O conservadorismo boquirroto do Brasil profundo (e não apenas) é o bolsonarismo, agora em versão 3.0, com capacidade de comunicação e mobilização de massa. O conservadorismo – edulcorado por palavras gentis e benignas como tradição e rotina – à era sanguinário; a diferença é que agora se prepara para o assalto ao poder total.
De fato, como se vê, o bolsonarismo não se ajustou à realidade política capilarizada, ele sempre foi isso, nunca foi senão a superestrutura “natural” – sem mediações cosméticas – da modernização selvagem do capitalismo brasileiro. Se o bolsonarismo empolgou os operadores desse pacto degradado de poder local foi porque seus protagonistas eram bolsonaristas avant la lettre, antes de Bolsonaro inscrever seus valores comuns na política nacional. Nem sempre é assim a realidade do campo, nem sempre é essa a política do interior, nem sempre funcionam assim as cidades pequenas e médias, não tome a Baixada fluminense por modelo, dirão os críticos de minha análise. Claro que não. Mas o que descrevi é a história que Bolsonaro encarna, representa, atualiza e reproduz. Esse é o Brasil de Bolsonaro. Certamente, há outras conexões, outros atores e outras formas de participação. Trato delas, a seguir.
II.2. A história ao alcance da mão, o fetiche do protagonismo digital e o garimpo libidinal no inferno da culpa
Veja como se dá a infiltração afetivo-cognitiva e a difusão contagiante do que poderia ser chamado imaginário retrátil do bolsonarismo, que se expande e retrai conforme as circunstâncias, amalgamando figuras dissonantes em sua nebulosa ideológica inconsistente, e parasitando fragmentos culturais dispersos. Homens e mulheres, jovens e idosos, em todas as partes do Brasil, manipulam celulares e acessam o aplicativo WhatsApp, entre outros. Observe que a manualidade das operações se confunde com protagonismo e a comunicação de fake news, sussurrada ao pé do ouvido, nos áudios, ou escrita “só pra você”, envolve cada pessoa nas malhas do segredo e proporciona a experiência valiosa do pertencimento a um grupo exclusivo. Você é o escolhido, a escolhida, como não acreditar? A crença é um hábito mental, que se transfere do intelecto às mãos, aos gestos, às práticas, e que percorre o mesmo caminho em sentido contrário, o que é ainda mais fascinante: também vai dos gestos à consciência. Como dizia Pascal: “ajoelha-te e acreditarás”. Hoje, não é preciso ajoelhar, basta abrir o WhatsApp e descobrir que o compartilhamento com você da (suposta) informação lhe dará a sensação de exclusividade – exclusividade o/a fará sentir-se escolhido(a) – e soará como segredo. Ter acesso ao segredo, àquilo que poucos sabem, pressupõe o pertencimento a um clube seleto (exclusivo), uma espécie de família extensa, envolvendo identificação (que implica reconhecimento, adesão, constância, fidelidade, confiança) e estimulando a reiteração do movimento: você repassará a mensagem e/ou abrirá de novo, mais tarde, o WhatsApp. Você fará isso, ligando, conectando, abrindo, fechando, escrevendo, redirecionando, repassando mensagens. Você é parceiro, cúmplice, os outros confiam em você e você pagará essa confiança com lealdade. Nada disso se vincula a questões epistemológicas, que se refiram a métodos de verificação. A verdade aqui corresponde a acolhimento, valorização, reconhecimento. Se você é alçado à posição de sujeito (imaginariamente), há verdade aí, porque, sentindo-se potente (protagonista), você se liberta das subordinações que o humilham e oprimem. Ora, como você leu na Bíblia que “a verdade liberta”, você deduz que a comunicação virtual contém a verdade, porque o(a) faz sentir-se livre.
O que aconteceu em 2 de outubro de 2022 e nos dias imediatamente anteriores era previsível e reproduz, supõe-se que em escala ampliada, o que houve em 2018: uma descarga torrencial de fake news e mensagens geradoras de adesão eleitoral a Bolsonaro e seus aliados. A tática é conhecida e tem sido aplicada em diferentes países pelos movimentos neofascistas. Requer financiamento vultoso e uma estrutura de comunicação de alcance gigantesco. A carga venenosa funciona como arma de destruição em massa porque os efeitos se espalham velozmente, sem que haja tempo para respostas dos adversários, e provocam danos em um raio vastíssimo. No entanto, note que o abalo só é efetivo porque havia solo fértil, previamente adubado. A mensagem encontra estrutura de receptividade solidamente montada, fidelizada, conferindo plausibilidade aos conteúdos transmitidos. Eleitores e eleitoras se engajam na medida em que não se sentem meros receptores passivos mas, sim, imbuídos de uma missão: repassar a mensagem, transmitir “a palavra”, contaminar outros eleitores, gerar um tsunami pandêmico e votar.
Por outro lado, para que tudo funcione é preciso que haja o longo e paciente cultivo do terreno da comunicação, o que inclui desde a formação de grupos à proliferação de canais liderados por influenciadores bolsonaristas, testando e consolidando múltiplas dicções, repisando temas-chave com vocabulário comum. O imaginário tradicional conservador é reavivado e atualizado com focos variáveis, conforme as conjunturas. É indispensável que as mensagens do front, emitidas na véspera da batalha, sejam amparadas por estruturas de plausibilidade que lhes confiram verossimilhança e as façam circular em redes já enlaçadas por lealdade e confiança.
Em contraponto ao pertencimento e à identificação, afetos opostos e negativos vão sendo aquecidos em fogo lento para que, uma vez lançada a maldição sobre o inimigo, a crítica se transforme em repulsa e ódio. A intensidade anima o engajamento e fortalece a hostilidade aos competidores.
A estética, a gramática e a apologia do ódio e do aniquilamento ganharam espaço e tornaram possível a montagem da máquina de guerra comunicacional bolsonarista, que é também política libidinal, porque se endereça à demanda por restauração da ordem ontológica. Esses ingredientes estéticos e afetivos, sem cuja maturação anterior o bolsonarismo não teria encontrado tração na sociedade, ajudam a compreender a captura das energias babélicas de 2013 (que eram plurais e contraditórias na origem) pelo neofascismo, o golpe parlamentar de 2016, os movimentos da guerra híbrida que aproximaram militares e a ultradireita transnacional, a Lava Jato como operação midiático-jurídico-política, destinada a desaparelhar setores do capital nacional e a excluir Lula das eleições de 2018, e finalmente o triunfo do bolsonarismo.
Conforme procurei demonstrar em meu livro Dentro da noite feroz: o fascismo no Brasil (Boitempo, 2020), a passagem da compaixão à indiferença e daí ao ódio, como afetos dominantes em distintos momentos estruturais de nossa história, conta como se deu o trânsito sinuoso e convulsivo da hierarquia autoritária católica, engatada ao capitalismo nascente – em cujo âmbito prevaleciam o favor, o patrimonialismo, o compadrio e a escravidão –, ao neoliberalismo ultra-individualista globalizado sob hegemonia do capital financeiro. No mesmo livro, trabalhei as relações do bolsonarismo com a morte, que constituem objeto importante do qual não tratarei aqui, porque nos levaria muito longe. Essencial e urgente, no momento, é tentar entender a postura alucinatória implicada no remédio tóxico (gerador de traumas que voltarão no futuro a assombrar a sociedade brasileira) que o bolsonarismo oferece aos brasileiros para curá-los da culpa, a culpa tremenda que sentem não só pelos desejos inconfessáveis – já amplamente tematizados, acima –, mas por conviverem com o escândalo normalizado. O escândalo das desigualdades abissais, da violência racista, das violações de mulheres, da devastação ambiental meticulosamente executada. A culpa profunda leva à prostração, à apatia (a depressão se alastra), e quão mais impotente o sujeito se sente, mais culpado por negar-se a ver as abjeções e reconhecê-las como tais, ante seu testemunho inerte. O discurso liberal da meritocracia não basta, é hipócrita demais, contrasta demais com a empiria observável no dia a dia. O individualismo convencional brasileiro tampouco funciona, porque é permeável a ideias e afetos coletivistas: fraternidade, solidariedade, corresponsabilidade.
Restou a Bolsonaro o garimpo libidinal que extrai ouro do nariz dos mortos e suscita prazer. Vejamos: o imaginário alucinatório do capitalismo neoliberal que Bolsonaro encampa e aprofunda precisa levar o culto à indiferença (a ode ao “foda-se”) às últimas consequências. Precisa assentar em bases firmes seu projeto e, portanto, necessita de mais do que o mero apaziguamento que a indiferença proporciona. É nesse ponto que o messias da revolução destrutiva propõe a solução óbvia, o ovo de Colombo: sugere a metamorfose da voz interior que causa culpa – o senso autocrítico de moralidade – em acusação pública contra aqueles que tenderiam a suscitar empatia e seriam alvos da compaixão. Bolsonaro interpela as vítimas e convoca os culpados a exorcizar até a última gota seu senso de responsabilidade e empatia, passando ao ato. Eis em suma o sentido de sua performance essencial: convoca sua militância a acusar as vítimas – vitimismo –, os pobres, ultrajados e explorados – coitadismo –, as mulheres violadas – mimimi. Bolsonaro decreta, assim, a alforria a quem ainda se deixava prender ao sentimento de corresponsabilidade. Sentimento, aliás, do qual a culpa representa uma versão psiquicamente mal elaborada, autopunitiva, cujo efeito acaba sendo paradoxal: a dissolução do amor e da empatia no ácido da ira e da vingança.
Enquanto as esquerdas vacilavam, com seu punitivismo estúpido e demagógico, em reconhecer que responsabilidade é uma virtude e um dever, dos quais a culpa constitui um espelho negativo – espelho que adoece e inibe seu portador, e expele o chamado à ação –, enquanto isso, Bolsonaro se apropriava dessa problemática central para a organização da sociabilidade e dos afetos, soltando as amarras da matilha de cães selvagens. A matilha feroz é o espírito humano, instalado no corpo impotente, interpelado pela fome, a injustiça, o desejo de sentir-se livre e a vontade de poder. O militante modelar está livre para odiar, humilhar e aniquilar os que refletem sua própria impotência. Impotência que ele amargava pelo viés neurótico da culpa. Culpa que agora o eleitor bolsonarista pode purgar, culpando a vítima pela violência, o miserável pela miséria. A elaboração saudável teria de integrar a culpa, convertendo-a em senso de responsabilidade e disposição para agir politicamente em direção à solidariedade.
Há chances consideráveis de que Lula vença o segundo turno. Ou as trevas sepultarão qualquer futuro minimamente decente e desejável para nosso país. Lula vencendo, terão início as imensas tarefas de reconstrução. Espero que uma delas inclua o abandono do punitivismo e a valorização das lutas emancipadoras que o neofascismo tem alvejado com fúria e que os progressistas tantas vezes desdenham como identitárias, por não compreender seu alcance histórico e civilizador.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.