Estaria o Banco Central jogando videogame?
BC mira na inflação, mas sangra ainda mais o exército de desempregados, aprofundando a alta dos preços. Tendência recessiva agrava tensões sociais – mas seus diretores, desconectados da economia real, brincam com a vida de milhões
Publicado 10/11/2021 às 13:51 - Atualizado 10/11/2021 às 13:52

A recente elevação da taxa básica de juros (SELIC) pelo Conselho de Política Econômica (COPOM) gerou tamanho burburinho entre os leões de chácara da riqueza financeira, neles incluídos fundos de investimento, de pensão e todos aqueles que superam o amargo do café matutino verificando as cotações da bolsa de valores. Qualquer farialimer mais esperto logo sacaria a premissa irmã das aventuras de John Maynard Keynes ao descortinar o fenômeno monetário: melhor um na mão do que dois voando! (aos apreciadores dos eternos Mamonas Assassinas, lá encontramos uma definição mais pitoresca, porém impublicável).
Keynes desferiu golpe aterrador sobre os asseclas da teoria do dinheiro-coisa que acreditavam ser o especioso papel timbrado, e cotidianamente habitante do reino digital, uma mercadoria como outra qualquer. A conclusão do velho Maynard é simples: as pessoas querem dinheiro, pois este ente especial é capaz de enervar as estribeiras do mais sereno apostador, certamente praticante de ioga, antes do início do pregão, e acalmá-lo no minuto seguinte, quando se depara com sinais verdes na conta bancária. Atrevido, Keynes não apenas supôs a relação visceral do dinheiro com as emoções humanas, como anotou a sentença que perturba os economistas que esmeram-se na utilização de suas calculadoras para escapar da indeterminação absoluta da incerteza. A preferência pelo dinheiro, ou como preferia Maynard, pela liquidez, não decorre do ato de facilitar trocas entre diferentes mercadorias, mas pela característica do dinheiro em transformar-se em qualquer coisa, inclusive em mais dinheiro. Conclusão inevitável: esse troço que chamamos capitalismo funciona pela e para a produção de dinheiro, enquanto forma-síntese da riqueza, quer criada pelo trabalho humano, quer trocada em meio ao rodeio de charutos e drinques entre os detentores das relações de crédito.
Todas as relações mercantis, produtivas e financeiras têm em seu princípio e fim a presença do crédito pelo fato de que representam apertos de mão quantificados. Um lado empresta, o outro pega emprestado, liquidando imediatamente, ou não, a promessa desferida com o ar desconfiado de quem assiste o tomador da grana rosar as bochechas, deixando ao emprestador a insossa sensação da vingança, bem aparamentada pela cobertura dos juros cobrados ao longo do tempo, até que o dinheiro seja devolvido. Esse é o negócio mais antigo da humanidade e, no tempo presente, é encarnado por gigantescas organizações responsáveis pela gestão do dinheiro de todos aqueles que confiam mais nos sistemas criptografados do que nos fundos do próprio colchão.
O sistema bancário desempenha papel tão singular nas relações político-sociais que enceram por pintar com verniz a parede que separa as relações de crédito entre famílias e empresas, daquelas que o mantém, quase que reprisando uma alcova mal assombrada com os Bancos Centrais. Para simplificar a tecnicidade da questão, vejamos como se desenrola a trama, meio Romeu e Julieta: Os bancos preservam contas especiais junto aos bancos centrais, onde estão abrigadas as reservas bancarias, um tipo especial de dinheiro somente negociado dentro sistema bancário. Os dias correm normalmente: depósitos, empréstimos, cobranças de taxas, pilhagem nos juros dos cartões de crédito, etc., e ao final do dia, cada banco é responsável por “zerar” a conta entre aquilo que captou via depósitos, venda de títulos e influxos de caixa de suas operações de crédito, e aquilo que emprestou, pagou e etc.
Quando a conta não fecha, nada de pânico. O oligopolizado sistema bancário brasileiro entra no jogo da cooperação e um banco empresta para o outro, cobrando uma pequena taxa de desconto a ser compensada no dia seguinte, os chamados depósitos interbancários. Quando a situação fica feia e os demais bancos não prestam solidariedade ao vizinho, o Estado entra arrumando a bagunça, comprando títulos e injetando dinheiro.
Agora, o que acontece quando o Banco Central resolve brincar com a taxa de juros, reajustando-a em 1,5 p.p em apenas dois meses? Fogo na aldeia! Imediatamente, os bancos refreiam a liquidez disponível para emprestar, elevando os custos de refinanciamento para empresas e famílias. A administração das reservas bancárias pelo Banco Central torna-se uma tarefa um tanto quanto incomoda, vestindo o chapéu de bobo: compra títulos mais caros, prometendo vendê-los mais barato futuramente. A pergunta que fica é: porque o Banco Central, bem assessorado pelos sábios dos mercados financeiros, se submete a tal situação?
Como se jogasse videogame, o BC, aproveitando-se dos gráficos de alta resolução, se vê num dramático cenário de roleta russa. Por azar, a pistola, mal calibrada, não acerta o alvo, executando o fidalgo que passa ao longe dos olhos alvissareiros dos diretores do Banco Central. Mira-se a meta da inflação, bicho que cresce a cada barbeiragem na administração da desvalorização cambial, dos desajustes da crise energética e de insumos básicos. Nada adianta, enquanto o fidalgo desemprego sangra, enunciando o retorno da fome e da miséria no país.
Voltando ao reino do economês. A estratégia da equipe econômica de Bolsonaro presta homenagem ao seu reinado de incoerências: afunda o país para uma tendência recessiva que agrava as tensões sociais, enquanto oferece o brinde mal confeccionado do Auxilio Brasil como esmero desserviço aos antigos receptores do Bolsa-Família. Enquanto isso, Guedes empurra com a barriga o teto fiscal, prometendo sanear a dívida pública – diga-se acrescida pela elevação dos juros – com suas reformas estruturais impraticáveis que até então serviram para encher as botas do Papai Noel. Certamente, o bom velhinho enche seu pacote de presentes com duas noticiais: 1) o rentismo voltou ao seu habitat natural, a renda fixa; 2) apertem os cintos, o operário vem aí!
Contudo, o cenário descrito cumpre a reza, interrompendo a missa ao conclamar os adivinhos, vestidos de borla e capelo que com orgulho exigem o diploma de “sinhô” sabichão quando o assunto é a trajetória das curvas de juros. Para os que não são íntimos do linguajar, resumo esse conceito da maneira mais corriqueira: o dinheiro ao longo do tempo, conforme transcorre o prazo entre o empréstimo e seu pagamento. Como pilhas que superam as alturas, umas das outras, o montante de juros devido em um período se acumula para o próximo, como uma bola de neve. Em determinado momento, a capacidade de empilhar, ou de rolar a bola de neve, desacelera até que a cumulatividade do processo transforme a curva ascendente em uma reta com suaves inclinações para cima, acenando para o longo prazo.
A formação das tais curvas nada mais são que as expectativas das pessoas de que determinado o preço de determinado ativo financeiro vai cair, subir, ou rodar em círculos. O comportamento recente das curvas de juros dos títulos indexados à taxa básica de juros, à inflação e às cambalhotas cambiais é no mínimo curioso. Todas tiveram seus patamares movidos para cima, sinalizando confiança de que o Banco Central elevaria a SELIC. Dito, ou melhor, recomendado e assim foi feito. O que se esquecem os especialistas do COPOM e seus assessores mandatários, os representantes do Boletim Focus, é que a autoridade monetária deve intervir ao longo da curva de juros, influenciado “na ponta”, isto é, vender títulos públicos para frear a sanha rentista. Preocupados com a inflação, os corifeus da moeda brasileira fizeram o contrário, pressionando o botão do juros na confiança que por mágica a inflação cedesse.
Esse é apenas um dos aspectos do abacaxi que se tornou a administração econômica de Bolsonaro, recheada de bravatas e tropicadas. Dedico as duas questões que considero essenciais no momento brasileiro.
Em primeiro lugar, o cenário internacional semeia uma reconstrução econômica integrada, deixando a disputa entre China e EUA para as sortes da próxima década. O Brasil persiste isolado e retorna a sua posição de guichê especulativo do capital internacional. Se não fosse suficiente, as cabeçadas entre a administração cambial e o parquinho rentista montado no coração da Faria Lima, os economistas ainda lançam a pérola, certamente, órfã de ostra: utilizar as reservas bancárias para sanear a dívida pública. Sem entrar no mérito contábil, é o mesmo que tapar o sol com peneira, sob a pena de pressionar a política monetária ao ajuste inviável entre operações ofensivas no controle da taxa de câmbio e o manejo das reservas bancárias, deixando a independência institucional do Banco Central ainda mais refém da dependência dos rumores do mercado financeiro.
Daí, embalamos a seguinte problemática: a dívida pública. Os refreios tentados pelo teto de gastos, tão logo apresentaram goteiras, pois não apenas reprisou-se o exercício fiscal de rolar as despesas financeiras com juros, como revelou-se inumano, e contrário as disposições constitucionais sobre a justiça social ao empreender-se a contenção real das despesas correntes. Aprendi com uma das maiores especialistas em finanças públicas do Brasil, a professora Fernanda Serralha, um ditado tão correto que até hoje me enerva a cuca: “dívida não se paga, se rola”. Ao cidadão comum essa frase pode parecer esquisita, pois é nebulosa a distinção entre direito público e privado. Nenhum Estado no mundo paga sua dívida, justamente porque ela representa, em primeira instância, o mecanismo de financiamento da acumulação de capital, ou em língua de gente: o circuito condutor entre investimentos e emprego; e tecnicamente, em instância burocrática, o Estado deve para si mesmo, pois os ativos e passivos detidos pelas entidades estatais se encerram por autofinanciar-se, não pelo confisco do trabalho alheio, mas como forma de manutenção dos serviços públicos oferecidos a população, pedra fundante de nosso contrato social. O teto de gastos, ameaçado pela avalanche dos precatórios, virou alvo de remendo legislativo, como quem empilha baldes, evitando goteiras cuja saciedade é impossível. O motivo é tão explícito que as revisões da PEC festejada pela turma do “arrocha que vai” não representa meramente a furagem do teto, mas a demonstração de sua inviabilidade.
O governo Bolsonaro não pode ser responsabilizado, em todo, pela crise econômica, e sim por cortar a corda que estava puxando a economia para o patamar insosso em que se encontrava. O Brasil cresce, passando de banda por uma parede cada vez mais estreita: os solavancos no crescimento refrescam os vapores tóxicos da crise social e quando o crescimento se tornou recessão prolongada, o caldeirão social estourou, refazendo ao inverso o paralelismo histórico, remontando a constatação de Sergio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil: o país é uma sucessão de milagres. Sempre espera-se que o destino traga boas novas a boa terra. Os ciclos da cana, do ouro, do café, da industrialização, do debelar da inflação e da dívida externa são bons exemplos. A crise social novamente esperava pela salvação. Infelizmente, erramos de Messias.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.


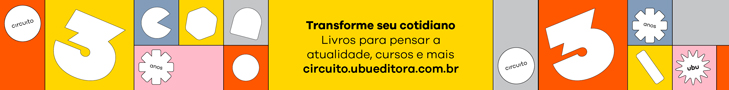
Um comentario para "Estaria o Banco Central jogando videogame?"