As tragédias e a frágil “Defesa Civil”
Desde que criada, nos anos 40, instituição mantém estrutura militarizada, com ações reativas e assistencialistas. Evitar outras tragédias requer outra lógica: combater o déficit de infraestruturas públicas em áreas de risco e apostar em prevenção
Publicado 23/02/2022 às 20:10 - Atualizado 23/02/2022 às 20:11

No Brasil, os desastres são um problema crônico que as políticas adotadas no âmbito do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) não têm conseguido reduzir. Há uma supervalorização dos discursos que associam os desastres consequentes de fenômenos hidrometeorológicos (como inundações e deslizamentos desencadeados por eventos de chuvas fortes e tempestades) a uma causa natural. Não à toa, são comumente chamados de “desastres naturais”, ocultando aquilo que, na raiz, é resultado de uma construção social baseada em decisões políticas. Afinal, mesmo a ciência é política. E todo desastre é produto de determinações sociais.
Nesse sentido, outros debates que são importantes para se pensar os desastres [que aqui chamarei de] socionaturais são relegados. Não porque esses debates não existam, embora sejam mais tímidos do que deveriam. Contudo, trazê-los à superfície revelaria contradições as quais evitamos confrontar. Seja a contradição entre valor de uso e valor de troca – representada pelo avanço da urbanização sobre as planícies dos rios e morros acima como uma consequência da reprodução ampliada do capital rentista e especulativo nas cidades, que trata a terra como mercadoria. Seja a contradição entre capital e natureza – que tensiona os limites do planeta pela exploração intensiva de recursos e pela sua relação metabólica destrutiva, provocando, como resultado, mudanças climáticas e seus efeitos de intensificação e recorrência dos perigos naturais. Seja a contradição entre classe trabalhadora e Estado – tendo em vista que toda a superestrutura política e jurídica se ergue sob os interesses da classe dominante; no caso, os grandes capitalistas que lucram com cenários de devastação. Em situações de calamidade (embora não só), confiamos nossa vida a um Estado que reitera o modus operandi [e se coloca como agente] do capital, cuja relação desencadeia o próprio cenário de desastre. Como numa eterna espiral de produção de desastre e de gestão da crise gerada pelo desastre.
Quando afirma-se que os desastres são naturais, evita-se um questionamento mais amplo sobre o processo sócio-histórico no bojo do qual se desenrolam as dinâmicas socioespaciais de urbanização. Em contrapartida, prioriza-se atendimentos pontuais em emergências e calamidades, extremamente focados nas respostas e assistencialismo pós-desastre, prioritariamente conduzidos pelo Estado. Pois, afinal, se espera-se que as causas dos desastres sejam naturais, não haveria como evitá-los. “A culpa é das chuvas”, dirão eles.
Soma-se a essa problemática a ausência de políticas públicas de habitação (ou mesmo a tentativa de se colocar em prática uma reforma urbana), saneamento, infraestrutura, entre outras, que assola as cidades brasileiras, tornando, assim, as populações em situação de vulnerabilidade socioeconômica e civil vulneráveis, também, ao risco ambiental. Claro, toda uma cidade e sua população são devastadas em um cenário de desastre, como podemos observar no mais recente caso de Petrópolis. Mas há aqueles que são ainda mais afetados, como os empobrecidos da classe trabalhadora, o povo preto e indígena, as mulheres, as pessoas com deficiência (PCD). Não por uma questão de fragilidade, mas pela reiteração de um sistema que já os oprime de diversas formas.
Embora os processos mais estruturais de desigualdade e injustiça social estejam presentes na persistência e disseminação dos desastres pelo país, muitos pesquisadores – como a professora Norma Valêncio, neste artigo aqui – supõem que a forma como essas crises vêm sendo interpretadas institucionalmente também contribuem para este problema. As práticas do meio técnico-operacional institucional são orientadas por discursos mecanicistas, que tratam a gestão de riscos, majoritariamente, a partir de índices quantitativos de risco baseados principalmente nas características construtivas das habitações – como sua infraestrutura e localização. Não levando em conta as condições socioeconômicas que determinam cada tipo de residência e de localidade da construção, tendo em vista que as áreas ambientalmente seguras são mais caras devido à especulação imobiliária. Muitas vezes, as ações em defesa civil ficam restritas à identificação dos pontos de risco e realocação precária de famílias empobrecidas, provocando inúmeros outros processos de vulnerabilização, como a perda de coesão social e dos vínculos socioafetivos causados pela desterritorialização.
Ao mesmo tempo, o meio técnico-operacional se orienta por discursos tecnocráticos, que colocam o Estado como agente central no controle e na gestão do risco e do desastre. Importante enfatizar que essa agenda tecnocrática é também aplicada por órgãos multilaterais, como a ONU e as diretrizes do seu escritório temático para a redução de risco a desastres, a UNISDR (Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de Desastres). A comunidade residente em áreas de risco, além de não ser convocada a participar ativamente do processo de preparação para esse tipo de situação, em muitos casos, é apontada como parcialmente responsável pelas ocorrências.
Valêncio afirma, ainda, que, no Brasil, 90% dos desastres socionaturais oficialmente reconhecidos são atrelados às chuvas intensas ou estiagens (inundações/enxurradas e secas, respectivamente). Contudo, como dito aqui, tais acontecimentos ocorrem menos em função desses eventos hidrometeorológicos em si do que dos “insistentes déficits de infraestrutura para controlar seus efeitos”.
A própria origem da defesa civil no Brasil aponta para o caráter reativo da gestão de risco a desastres. Segundo Juliana Barbosa da Silva, em sua tese de doutorado, a instituição de defesa civil, em nível federal, começou a ser pensada formalmente em 1942, na ocasião do afundamento de embarcações militares pelo submarino Alemão U507. Inspirada no serviço britânico Civil Defense Service, a instituição brasileira foi chamada à época de Serviço de Defesa Passiva Antiaérea, cujo viés de origem militarizada persiste até os dias de hoje. Com o avanço da Segunda Guerra, as iniciativas foram suspensas e retomadas anos depois, quando da criação da Lei 3.742, de 1960, que discorria sobre estratégias de reparação dos danos causados por fenômenos naturais. De acordo com o Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres (CEPED/UFSC), a retomada do debate sobre a defesa civil emergiu no bojo das secas que assolaram a região nordeste do Brasil no período. Foi aí que se deu o início da associação entre defesa civil e desastres causados por fenômenos naturais. Com isso, foram criadas, também em 1960, iniciativas institucionais que abrigasse a emergente preocupação com a relação entre fenômenos climáticos e desastres ambientais, como a criação do Plano Diretor de Defesa Civil do Estado da Guanabara (antigo estado do Rio de Janeiro), a primeira Defesa Civil em nível estadual; a instituição do Fundo Especial para Calamidades Públicas (FUNCAP); e a criação do Grupo Especial para Assuntos de Calamidades Públicas.
O surgimento de políticas de Defesa Civil atuantes se deu, portanto, sob uma lógica militarizada, reativa e assistencialista de resposta a desastres. Com o decreto nacional de nº 97.274, de 1988, os discursos institucionais na letra da lei começaram a ser direcionados para as políticas de prevenção. No entanto, na prática, muito pouco é feito no Brasil para avançarmos nessa esfera de gestão dos riscos – prevenção, mitigação, preparação e recuperação. Resultado disso é que, de 1988 para cá, os desastres socionaturais ainda são recorrentes e a magnitude das perdas (materiais e imateriais) permanece gigantesca. Nos encontramos em um círculo vicioso reativo. Para além disso, essa recuperação pós-desastre que tem como o objetivo o retorno à situação de normalidade, como preconizado pelas diretrizes internacionais e nacionais de gestão de riscos, não questiona a que tipo de normalidade estamos falando. A normalidade de um medo permanente e iminente?
Quantos mais precisarão morrer para que esses eventos e suas consequências sejam levados a sério? Para que os holofotes não se voltem a essas situações apenas uma vez por ano, quando pipocam pelo Brasil desastres desencadeados em períodos chuvosos?
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras


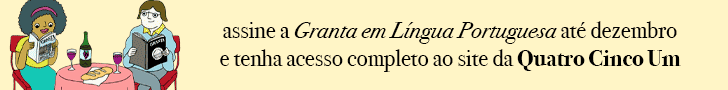
Um comentario para "As tragédias e a frágil “Defesa Civil”"