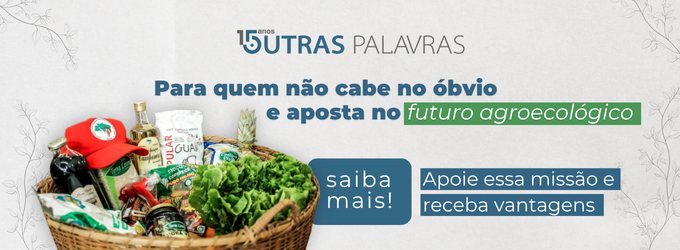A dialética de cabeça para baixo?
Boitempo Editorial lança obra basilar para o desenvolvimento do marxismo: Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Texto revela a influência da classe trabalhadora na evolução do pensamento crítico. Leia a apresentação do livro. Sorteamos dois exemplares
Publicado 11/07/2025 às 18:44 - Atualizado 11/07/2025 às 18:45
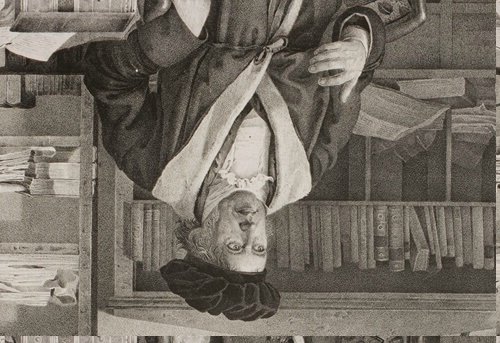
Quem apoia o jornalismo de Outras Palavras garante 20% de desconto no site da Boitempo Editorial. Faça parte da rede Outros Quinhentos em nosso Apoia.se e acesse as recompensas!
O materialismo histórico e o marxismo como conhecemos hoje muito lutou – e ainda luta – para ganhar espaço, tanto no terreno da luta prática, quanto no campo teórico e filosófico.
Confrontar o idealismo e seu ressurgimento nos círculos hegelianos (e neo-hegelianos) da classe dominante alemã exigiu da dupla Marx e Engels anos de práxis e pesquisa.
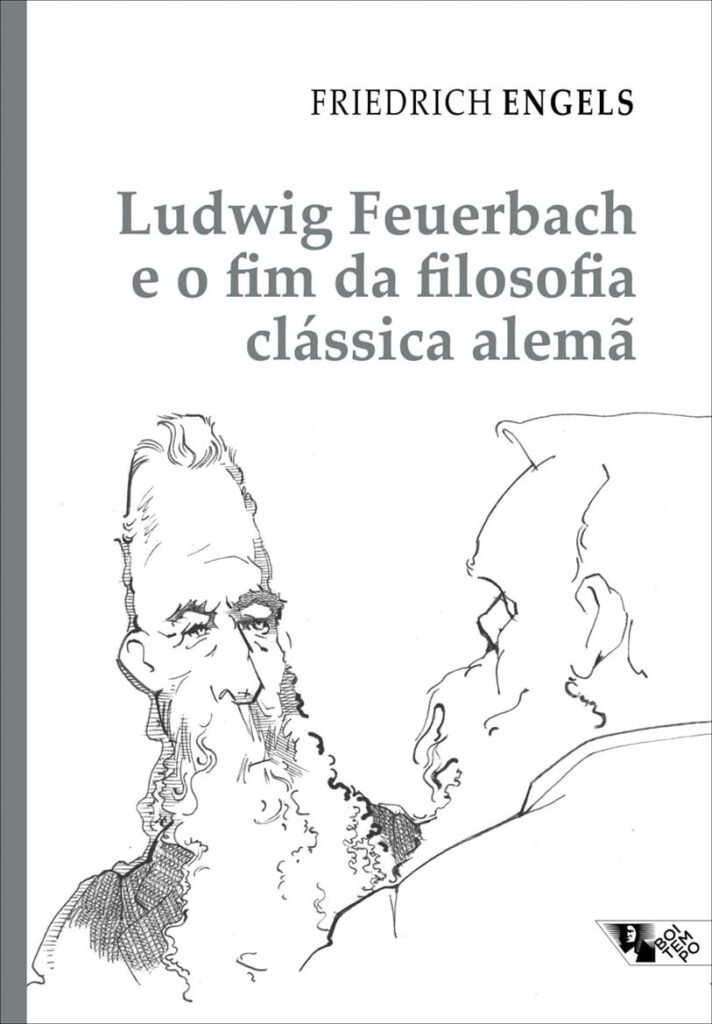
A coleção Marx-Engels, da Boitempo Editorial chega ao seu 33º volume com uma obra basilar para a compreensão do materialismo histórico e dialético: Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã.
Para Engels, o autor, a obra é o somatório ou o encerramento da crítica pós-hegeliana que ele e Marx haviam iniciado 40 anos antes, no clássico A Ideologia Alemã – trabalho publicado apenas em 1932, postumamente ao falecimento dos dois teóricos.
Em Ludwig Feuerbach, Friedrich Engels examina a transição entre a filosofia clássica alemã – representada por Hegel e Feuerbach – e o pensamento marxista, oferecendo uma análise crítica que se tornou referência para estudos sobre a matéria.
Outras Palavras e Boitempo Editorial irão sortear dois exemplares de Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, de Friedrich Engels, entre quem apoia nosso jornalismo de profundidade e de perspectiva pós capitalista. O sorteio estará aberto para inscrições até a segunda-feira do dia 21/7, às 14h. Os membros da rede Outros Quinhentos receberão o formulário de participação via e-mail no boletim enviado para quem contribui. Cadastre-se em nosso Apoia.se para ter acesso!
A edição, traduzida por Nélio Schneider, inclui dois apêndices enriquecedores: Sobre a história do cristianismo primitivo – texto inédito em português que aborda as raízes do cristianismo sob a ótica do materialismo – e as célebres Teses sobre Feuerbach, em tradução já consolidada. Juntos, esses escritos ampliam o debate sobre religião, ideologia e emancipação social.
Com prefácios que contextualizam a importância da obra, o volume é ferramenta indispensável para quem busca entender as bases teóricas do marxismo e sua relação com as correntes filosóficas que o antecederam.
Leia, logo abaixo, a apresentação do livro, escrita por Eduardo Chagas, professor efetivo do curso de filosofia e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Ceará (UFC).
APRESENTAÇÃO
Eduardo Chagas [1]
O presente volume traz duas obras dos anos finais da vida de Friedrich Engels (1883-1895), “Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã” e “Sobre a história do cristianismo primitivo”, além de uma versão das “Teses sobre Feuerbach” editada pelo autor. Os escritos tratam da necessidade da superação do hegelianismo, da prestação de contas com o pensamento de Feuerbach – enfatizando sua relevância para o materialismo, para a formação do materialismo histórico e, por conseguinte, o papel desempenhado por ele na fundação do próprio marxismo –, bem como da luta contra a religião cristã oficial institucionalizada – que prega a felicidade no além, conformando os homens para suportarem os sofrimentos deste mundo –, sem deixar, no entanto, de tomar a religião também como forma de reação à dominação, a exemplo do cristianismo primitivo – voltado para o bem comum das primeiras comunidades cristãs na vida terrena, no aquém, e não no além.
Entre abril e maio de 1886, a revista Die Neue Zeit, órgão teórico dos sociais-democratas alemães (Eduard Bernstein, Karl Kautsky), publicou, nos volumes 4 e 5, o texto “Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã” [2]. Uma versão revisada e estendida da obra saiu em Stuttgart, em 1888. Esse trabalho do Engels maduro é resultado de uma resenha crítica, encomendada a ele pela revista Die Neue Zeit, da tese de doutorado do dinamarquês Carl Nicolaj Starcke sobre Ludwig Feuerbach [3], publicada em livro em 1885. Feuerbach exerceu grande influência na formação intelectual de Marx e do próprio Engels, bem como na crítica de ambos à filosofia hegeliana. Em seu texto, Engels faz uma análise materialista da história da filosofia, ou, em outras palavras, um acerto de contas do materialismo histórico com a filosofia que vem após a morte de Hegel, isto é, um balanço de toda a filosofia alemã de sua época e das consequências do desenvolvimento capitalista na conformação do pensamento filosófico do país após o fracasso das Revoluções de 1848.
Essa obra engelsiana está dividida em quatro partes. A primeira (I), trata da crítica do materialismo histórico ao idealismo clássico, principalmente às contradições existentes no idealismo de Hegel; a segunda (II), da oposição entre materialismo e idealismo, da defesa do materialismo histórico marxista contra o materialismo vulgar mecanicista anglo-francês do século XVIII e do materialismo alemão do século XIX de Feuerbach, bem como da crítica ao positivismo, às metafísicas positivistas do final do século XIX, como o agnosticismo inglês (crítica à tentativa de reabilitação de Hume) e o neokantismo alemão (crítica à reabilitação de Kant); a terceira (III), da crítica marxista ao idealismo de Feuerbach, presente em sua crítica da religião e em sua ética; e, por fim, a quarta parte (IV) procede à defesa do marxismo e do movimento dos trabalhadores, de sua consciência de classe e da ação emancipadora, enfim, da “realização prática” da filosofia, que seria, para Engels, o verdadeiro ponto de saída, não só da filosofia clássica alemã, que se encontrava alheia às demandas postas pelo final do século XIX, mas também da sociedade burguesa em sua totalidade.
A parte I da obra “Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã” é dedicada à recepção crítica da filosofia de Hegel e de suas contradições, ao reconhecimento do caráter progressista de sua dialética e à intrepretação dinâmica das relações entre o real efetivo e o racional. O marxismo tem o real efetivo (wirklich), a realidade efetiva (Wirklichkeit), que é a realidade com suas partes concatenadas, articuladas, num todo, não como mera cópia de um mundo ideal, como em Platão, nem como coisa-em-si incognoscível, como em Kant, mas como um instância material, que tem uma “lógica” interna, uma “inteligibilidade” imanente, que pode ser apreendida, demonstrada e transformada. Essa compreensão vem, particularmente, de Hegel. Isso está resssaltado, como o próprio Engels demonstra, na famosa frase do Prefácio às Linhas fundamentais da filosofia do direito, em que Hegel afirma: “Tudo o que é real é racional e tudo o que é racional é real” (“Alles was wirklich ist, ist vernünftig, und alles was vernünftig ist, ist wirklich”) [4]. Muitos interpretaram, e ainda atualmente consideram, essa frase de Hegel como validação de todo elemento existente (alles Bestehenden), como o real imediato, ou como apologia à religião, à injustiça, à censura, ao Estado policial etc. Mas o próprio Engels esclarece que, “para Hegel, contudo, de modo nenhum tudo o que está aí é, sem mais nem menos, real” (“Bei Hegel aber ist keineswegs alles, was besteht, ohne weiteres auch wirklich”) [5]. A realidade efetiva, o efetivo, é também o necessário (notwendig), ou seja, ela tem o que é necessário para ser o que ela é: “‘A realidade se revela, em seu desenvolvimento, como a necessidade’” (“‘die Wirklichkeit erweist sich in ihrer Entfaltung als die Notwendigkeit’”) [6]. Se é efetiva, uma realidade, mesmo que se apresente a nós como “perversa”, tem o necessário para ser o que é, é provida de necessidade, e possui uma “justificação”, um “sentido”, em si mesma. Mas a afirmação da racionalidade do real proposta por Hegel porta, em sua dialética (Dialektik), uma contradição (Widerspruch), pois tudo o que é real perece com o tempo, com o desenvolvimento histórico e se torna, como Engels nota, irreal (unwirklich), irracional (unvernünftig), sem razão de ser, e não necessário.
A filosofia de Hegel é, para Engels, toda contraditória. Aparentemente, ela é antidogmática, avessa a verdades absolutas, pois defende, como na Fenomenologia do espírito, que a verdade (Wahrheit) não é definitiva, mas resultado do processo do próprio conhecer, do desenvolvimento histórico do saber, que se eleva de estágios simples a estágios complexos, sem jamais alcançar verdades absolutas, eternas. Também na Ciência da Lógica Hegel parece não querer encontrar verdades absolutas, mas sim mostrar o processo de determinação, de desenvolvimento, da ideia absoluta, que, no seu início, é ideia abstrata, que se exterioriza, se torna natureza e regressa a si própria no espírito, para se tornar novamente absoluta no espírito representativo-religioso, no espírito contemplativo-estético e, por fim, no espírito especulativo-filosófico, ou seja, na própria filosofia hegeliana. Não só no plano do conhecimento filosófico, mas também no plano da política, da ação prática, não se vê nas Linhas fundamentais da filosofia do direito um Estado ideal para a humanidade ou uma sociedade perfeita como um ponto definitivo, um desfecho pleno, um fim da história, mas etapas, estados transitórios que se desdobram do inferior ao superior. Essa filosofia dialética de Hegel parece ser aberta, sem verdades definitivas, pois ela “aponta a transitoriedade de tudo e em tudo, e nada subsiste diante dela, exceto o processo ininterrupto do devir e do perecer, do ascender sem cessar do mais baixo até o mais alto” [7]. Assim, Engels acusa Hegel tanto de conservador, por não estabelecer vínculos com o lado de fora de seu sistema, por não tratar do presente, da particularidade histórica, mas somente de etapas que são conservadas, legitimadas e superadas no plano abstrato da razão, no interior do seu sistema filosófico, quanto de dogmático, por conta da exigência de seu sistema filosófico de ordenar e sistematizar as etapas, finalizando-as como verdades necessárias e absolutas.
A filosofia dialética de Hegel é sistêmica, isto é, um todo orgânico, vivo, articulado. E, por ser sistêmica, ela é, na análise de Engels, efêmera, transitória (vergänglich). Isso decorre justamente da necessidade do espírito humano de querer ser, ao contrário, permanente (unvergänglich), excluindo, para tanto, a todo momento, todas as contradições. Mas, se todas as contradições fossem suprimidas, as verdades absolutas do sistema, que são contraditórias, seriam também eliminadas e, com isso, se eliminaria o próprio sistema. Engels vai mais longe, ao anunciar corajosamente que, com Hegel, se encerra a filosofia. Diz ele: “por um lado, porque ele sintetiza todo o seu desenvolvimento em seu sistema da maneira mais grandiosa; por outro lado, porque ele nos mostra, ainda que inconscientemente, a saída desse labirinto dos sistemas para o conhecimento objetivo real do mundo” [8]. Não se trata aqui de forma nenhuma, como se poderia pensar, da defesa de Engels do fim (Ende) literal da filosofia, mas de uma saída, de uma passagem, tanto da filosofia clássica alemã, quanto de uma época para outra. Para Engels, o fim ou saída (der Ausgang) é necessário para se pensar e enfrentar a racionalidade e as contradições do mundo burguês que ficaram do lado de fora (aus) da filosofia de Hegel e das reflexões da esquerda hegeliana.
Apesar de ter criticado duramente a filosofia hegeliana, Engels não deixa de reconhecer a grandeza e o valor de Hegel. Diz ele que Hegel “como foi não só um gênio criativo mas também um homem dotado de erudição enciclopédica, marcou época em todos os campos em que atuou” [9]. O sistema de Hegel, considera Engels, é maior e mais rico de pensamento do que qualquer sistema filosófico anterior. Sua Fenomenologia do espírito apresenta diversos estágios pelos quais a consciência do homem evoluiu na história. Hegel desenvolveu um grande sistema lógico, que envolve a Lógica, a Filosofia da Natureza e a Filosofia do Espírito, sendo que esta se desdobra em filosofia da história, filosofia do direito, filosofia da religião, história da filosofia e estética. Essas partes são “construções” que se mantêm unidas em um todo, “construções” do edifício de seu pensamento, no qual encontramos ainda presentes diversos e preciosos “tesouros” que devem ser suprassumidos, quer dizer, negados, conservados e elevados ou incorporados ao conhecimento sistematizado do mundo, atualmente posto em outro patamar.
Outras Palavras e Boitempo Editorial irão sortear dois exemplares de Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, de Friedrich Engels, entre quem apoia nosso jornalismo de profundidade e de perspectiva pós capitalista. O sorteio estará aberto para inscrições até a segunda-feira do dia 21/7, às 14h. Os membros da rede Outros Quinhentos receberão o formulário de participação via e-mail no boletim enviado para quem contribui. Cadastre-se em nosso Apoia.se para ter acesso!
Na parte II da obra, Engels não só critica, mas também elogia a filosofia de Feuerbach, as contribuições de seu materialismo para o processo de dissolução do sistema especulativo hegeliano, indicado na parte I, e para a formação do materialismo histórico marxista. Logo de início, Engels levanta o problema central: “A grande questão fundamental de toda filosofia, especialmente da mais recente, é a da relação entre pensar e ser” [10]. E interroga: “o que é o primordial, o espírito ou a natureza? – essa pergunta (…) foi Deus que criou o mundo, ou o mundo existe desde a eternidade?” [11]. “Dependendo da resposta dada a essa pergunta, os filósofos se dividiram em dois grandes grupos. Aqueles que afirmaram a primordialidade do espírito em relação à natureza e, em consequência, assumiram, em última análise, alguma espécie de criação do mundo (…) constituíram o grupo do idealismo. Os outros, os que encaravam a natureza como o primordial, pertencem às diversas escolas do materialismo” [12]. Essas questões têm raízes bem antigas, pois remetem aos homens que, desde tempos remotos, acreditavam que o pensamento não pertencia ao corpo, mas somente à alma, que habitaria provisoriamente o corpo, mas, após a morte, dele se separaria e continuaria a viver eternamente. É dessa situação que surge a representação da imortalidade da alma, que, naquela época, e ainda hoje, significa não consolo, mas desgraça, uma situação contra a qual o homem nada pode fazer. E, para se livrar dessa limitação natural, o homem criou também a representação da imortalidade pessoal [13].
Esse tema levantado por Engels, da relação entre alma (Seele) e corpo (Körper), espírito (Geist) e natureza (Natur), pensar (Denken) e ser (Sein) tem significados diferentes para o idealismo (Idealismus) (de Descartes a Hegel) e para o materialismo (Materialismus) (de Hobbes a Feuerbach). Idealismo e materialismo são, na verdade, antagônicos: o idealismo afirma a predominância do espírito e o materialismo enfatiza a primazia da natureza [14]. Há também entre os filósofos idealistas, como Hegel, por exemplo, uma identidade na diferença entre pensar e ser: se é (ser), é pensável (pensar), e se é pensável, é. E, em Hegel, o pensar e o produto do pensar, a ideia, são originais, de forma que a natureza é mera “exteriorização” da ideia do pensar, simples resultado do desenvolvimento do pensar, e, assim sendo, é uma instância derivada, secundária. Já para o materialismo, o ser é e existe independentemente do pensar, de forma que a natureza é, como em Feuerbach, originária, nem criada por Deus nem produzida pelo pensar humano. Para Feuerbach, diz Engels: “A natureza existe independentemente de toda filosofia; ela é a base sobre a qual crescemos nós, os humanos, que também somos produtos dela; nada existe além da natureza e dos humanos, e os seres superiores criados pela nossa fantasia religiosa não passam de espelhamento fantasioso do nosso ser” [15]. “A matéria não é produto do espírito, mas o próprio espírito é o produto supremo da matéria. Isso naturalmente é materialismo puro” [16]. Feuerbach rejeitou o idealismo absoluto de Hegel, desfez a contradição entre ser e pensar, quebrou o sistema hegeliano e, com isso, colocou, sem dúvida, o materialismo novamente no centro de sua filosofia.
A relevância de Feuerbach está relacionada, para Engels, ao fato de ele ter ressaltado a primazia da natureza em relação ao espírito, ter restaurado o materialismo e, com isso, ter evitado a mistura que os hegelianos de esquerda fizeram do materialismo francês com o hegelianismo. No entanto, a crítica de Engels a Feuerbach mira o aspecto de este não ter desenvolvido plenamente as potencialidades de suas descobertas, mantendo no seu materialismo o idealismo de Hegel, e, por isso, ter sido incapaz de superar cabalmente o hegelianismo, retomando o materialismo francês mecânico e anti-histórico do século XVIII, sem articulação com os progressos técnicos, com as novas ciências da natureza e com a história do século XIX, não podendo, portanto, apreender o mundo como um processo histórico, em contínua formação. O próprio Feuerbach confessa isto expressamente: “Olhando para trás, concordo inteiramente com os materialistas, mas não olhando para frente” [17]. O desenvolvimento intelectual de Feuerbach é descrito por Engels como o caminho de um hegeliano não ortodoxo em direção ao materialismo, mas que, em algum momento, rompeu com esse caminho, ou seja, recuou diante da tarefa de superar o idealismo de Hegel. Em síntese, Feuerbach mantém o idealismo no interior de seu materialismo, isto é, não supera a filosofia hegeliana. Assim, dessa visão crítica de Engels, deduz-se que Feuerbach não é para ele o fim (Ausgangen) integral da filosofia clássica alemã, mas ainda o elo intermediário, o elemento de transição, entre o idealismo e o materialismo.
Uma vez exposta, nas partes I e II, a crítica do materialismo marxista ao idealismo de Hegel, ao materialismo vulgar do século XVIII e ao materialismo de Feuerbach, a parte III adensa a crítica específica de Engels ao idealismo ainda presente no materialismo de Feuerbach. Engels considera a filosofia de Feuerbach, na verdade, uma mistura de materialismo e idealismo. Ele aponta a presença explícita do idealismo na filosofia da religião (Religionsphilosophie) e na ética (Ethik) de Feuerbach. Embora seja um crítico das religiões pagãs e da regilão cristã, Feuerbach não quer, de acordo com Engels, aboli-las, mas efetivá-las. Para Feuerbach, a essência, o fundamento, da religião (Religion) é o sentimento (Gefühl), o coração (Herz); ela significa, originalmente, religare, daí que estabeleça a relação de sentimento, conexão sensível entre o homem e a natureza, como nas religiões pagãs, ou o elo entre os homens, na relação sensível entre o eu e o tu, como na religião cristã.
Tanto nas religiões pagãs, quanto na religião cristã, não se revela, como Feuerbach defende, o sensível, a relação sensível do homem com a natureza ou com outros homens, mas manifestações do idealismo. Nas religiões pagãs, a natureza é deus; ela é endeusada, divinizada. Mas, a natureza tomada como deus não é a natureza objetiva empiricamente observável, mas a natureza tomada abstratamente, isto é, a natureza abstraída da própria natureza, e o homem tem aqui uma relação não com a natureza concreta, mas com a natureza em geral. O idealismo também se verifica na crítica à religião cristã. Ao defender que o fundamento da religião cristã é a antropologia, e que o Deus cristão é o homem divinizado, isto é, o homem abstraído de sua corporeidade, de sua materialidade, Feuerbach revela o seu idealismo: o Deus cristão não é o homem sensível, corpóreo, mas apenas “produto de um demorado processo de abstração (…), o reflexo fantasioso, o espelhamento do ser humano (…), o ser humano abstrato e, portanto, ele próprio é, por sua vez, uma imagem ideal” [18]. Esse idealismo, escondido no interior do materialismo feuerbachiano, mostra, segundo Engels, o inverso do que é propagado por Feuerbach acerca da religião, a saber: o que fundamenta a religião não é a sensibilidade (Sinnlichkeit), mas o pensamento (Gedanke); não se trata do homem sensível, mas do homem desprendido de sua sensibilidade; e, por fim, não há aqui relações concretas entre os homens, mas intercâmbios entre homens abstratos.
Tal como na sua filosofia da religião, na ética de Feuerbach permanece o seu idealismo, pois ele fala de homem, de natureza, de intercâmbio entre homem e natureza e entre homens, mas apenas na abstração. Diz Engels: “Ele não nos sabe dizer nada determinado nem sobre a natureza real nem sobre o ser humano real” [19]. Ele fala do homem sensível, mas abstraído do mundo efetivo em que ele vive e é condicionado historicamente. Feuerbach também não investiga, segundo Engels, as condições materiais e o papel histórico do bem (Gut) e do mal (Böse). Feuerbach defende que o fundamento da ética é a satisfação do “impulso para a felicidade” (Glückseligkeitstrieb), que é inato ao ser humano. E aponta duas regras fundamentais dessa sua ética: primeiro, para satisfazermos nosso impulso para a felicidade, devemos ver as consequências das nossas ações, e, segundo, para satisfazermos nosso impulso para a felicidade, devemos fazer valer a igualdade de direito dos outros para realizarem também seus impulsos para a felicidade. “Feuerbach toma essa exigência como absoluta, como válida para todos os tempos e todas as circunstâncias” [20]. Engels observa que, para realizar o impulso para a felicidade, o homem deve ocupar o mundo efetivo e ter os meios materiais e espirituais para a satisfação de suas necessidaes, como moradia, alimentação, educação, saúde etc. A ética de Feuerbach pressupõe abstratamente, como observa Engels, que esses meios de satisfação já estão dados a todos os homens. Mas, na Antiguidade, entre escravos e senhores; na Idade Média, entre servos e senhores, e na Modernidade, entre trabalhadores e capitalistas, estava garantida a igualdade de direito para a realização do impulso de felicidade de todos? No idealismo de Feuerbach, a igualdade de direito está reconhecida. Na verdade, Feuerbach não consegue encontrar o caminho que parte dessa abstrata igualdade de direito de felicidade, do reino das abstrações, em direção à realidade efetiva, ao reino concreto da igualdade. Esse passo, defende Engels, Feuerbach não deu, mas Marx e ele, Engels, sim.
Na quarta e última parte, Engels reconhece o trabalhador como força impulsionadora da história e apresenta o marxismo, a dialética materialista marxista, como resultado da dissolução da esquerda hegeliana (Strauss, Bruno Bauer, Stirner, Ruge, Feuerbach, entre outros). Ele toma agora o marxismo, e não Feuerbach, como ponto de saída da filosofia clássica alemã, porque este, apesar de ter exercido um papel significativo, não liquidou criticamente Hegel e o idealismo alemão. A ruptura com o idealismo alemão, com a filosofia hegeliana e, com isso, o regresso ao materialismo, direciona o marxismo à apropriação do mundo real – da natureza e da história – tal como ele se apresenta, sem tomar como mediações ideias fixas idealisticamente preconcebidas. O marxismo visa à apreensão dos fatos em seus nexos reais, e não em nexos fantásticos, dados por ideias abstratas. Isso não quer dizer que tenha deixado Hegel de lado, pois se aliou ao seu lado progressista, isto é, ao seu método dialético. No entanto, tal método dialético, do modo como foi concebido por Hegel, era para o marxismo inutilizável, pois foi reduzido ao autodesenvolvimento abstrato do conceito absoluto, ou da ideia absoluta. Esta, no seu começo, a partir de suas contradições entre o ser (Sein) e o nada (Nichts), se exterioriza e se torna natureza; depois, nega a natureza e repõe a si mesma na forma de espírito, que, agora na consciência, se eleva e, em seguida, se exterioriza na história, na família, na sociedade civil e no Estado. Esse autodesenvolvimento do conceito se dá apenas abstratamente, só no nível do conceito, sem passar pelo real efetivo. Para livrar-se desses “ornatos idealistas”, dessa camada abstrata da dialética hegeliana, a fim de resgatar o seu caráter progressista, o marxismo deve “conceber os conceitos (…) em termos materialistas como retratos das coisas reais, em vez de conceber as coisas reais como retratos desse ou daquele estágio do conceito absoluto” [21]. Essa consideração do marxismo é necessária e suficiente para repor a dialética materialista, isto é, para recolocar a dialética, que estava “posta de cabeça para baixo”, novamente sob os pés.
A inversão, não partir dos conceitos abstratos, e sim das coisas reais, leva à superação da dialética idealista de Hegel e da velha metafísica, e abre espaço para o marxismo pensar o que ficou de fora da filosofia clássica alemã, a saber, o mundo da sociedade burguesa do século XIX. Esse mundo, marcado pelas novas especialidades, a fisiologia, a embriologia, a geologia, e pelas descobertas decisivas da célula, da transformação da energia e da evolução das espécies, desenvolvida por Darwin, exige uma nova concepção de natureza que a aproxime do processo de desenvolvimento histórico. Isso gerou uma profunda modificação nesses saberes, que, ultrapassando o estágio de mera “ciência coletora”, voltada para o estudo dos objetos como coisas prontas, puderam se tornar “ciência ordenadora”, dedicada ao estudo da “origem e do desenvolvimento dessas coisas e do nexo que vincula esses processos naturais em uma grande totalidade” [22]. O que vale para a natureza, para as ciências da natureza, que puseram fim à filosofia abstrata da natureza, vale também para a história da sociedade, que, sob a influência da concepção de história de Marx, pôs fim também à filosofia abstrata da história e passou por profundas mudanças, apesar das diferenças entre os agentes: na história, homens dotados de consciência agem em busca de determinadas finalidades sob o impulso da reflexão ou da paixão; na natureza, fatores cegos e desprovidos de consciência atuam uns sobre os outros em interação recíproca. Enfim, o último Engels acredita no desenvolvimento das ciências da natureza para a expansão da produção material; tem o marxismo, o materialismo histórico marxista, como saída da filosofia clássica alemã, que não mais responde teoricamente ao mundo efetivo da sociedade burguesa moderna; e vê os trabalhadores, que são incompatíveis com a ordem burguesa de produção, isto é, que, “de modo nenhum se reconciliaram com a empresa capitalista mecanizada” [23], como a força motriz, a “potência impulsionadora consciente” da história, ou seja, como a única classe capaz de implementar a “mudança (…) no modo de produção” burguês, a saída dessa sociedade rumo a uma nova forma de sociabilidade fundada na igualdade, na liberdade e na justiça reais entre todos os homens. Sobre isso, declara Engels, concluindo o seu texto:
A classe trabalhadora foi a única que preservou intacto o senso teórico alemão. Não há como extirpá-lo dali; ela não tem escrúpulos quanto à carreira, o resultado lucrativo, a proteção misericordiosa vinda de cima; pelo contrário, quanto mais inescrupuloso e imparcial for o procedimento da ciência, tanto mais ela estará em consonância com os interesses e as aspirações dos trabalhadores. A nova tendência, que identificou na história do desenvolvimento do trabalho a chave para a compreensão de toda a história da sociedade, voltou-se desde o início preferencialmente para a classe trabalhadora e teve aí a receptividade que ela não buscou nem esperou ter da ciência oficial. O movimento dos trabalhadores alemães é o herdeiro da filosofia clássica alemã. [24]
NOTAS
[1] Pós-doutor em filosofia pela Universität Münster (Alemanha) (2018-2019) e doutor em filosofia pela Universität von Kassel (Alemanha) (2002). É professor efetivo do curso de filosofia e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Ceará (UFC). Atualmente, é pesquisador bolsista de produtividade do CNPQ e membro da Internationale Gesellschaft der Feuerbach-Forscher (Sociedade Internacional Feuerbach).
[2] As obras do Engels maduro, como o Anti-Dühring (1878), a Dialética da Natureza (1886) e Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã (1886) são também fundantes do marxismo – esta última foi, inclusive, lida com muito entusiasmo por Vladímir Lênin e por György Lukács, que dela trataram, respectivamente, em O que fazer? e História e consciência de classe.
[3] Ver Carl Nicolaj Starcke, Ludwig Feuerbach (Stuttgart, Ferdinand Enke, 1885).
[4] Ver também a Enciclopédia das Ciências Filosóficas (Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften) (1830), § 6, em que Hegel retoma essa questão.
[5] Neste volume, p. 34.
[6] Idem.
[7] Ibidem, p. 36-7.
[8] Ibidem, p. 40.
[9] Ibidem, p. 39.
[10] Ibidem, p. 45.
[11] Ibidem, p. 46.
[12] Idem.
[13] Sobre a imortalidade, ver Eduardo Ferreira Chagas, “A natureza como negação da imortalidade da alma em Feuerbach”, em Natureza e Liberdade em Feuerbach e Marx (Campinas, Phi, 2016), p. 28-38.
[14] Acerca da primazia e da autonomia da natureza, ver Eduardo Ferreira Chagas, “A defesa de Feuerbach da primazia da natureza ante o espírito”, em Natureza e Liberdade em Feuerbach e Marx, cit., p. 79-84.
[15] Ver, neste volume, p. 43.
[16] Ibidem, p. 50.
[17] Idem.
[18] Ibidem, p. 60.
[19] Ibidem, p. 65.
[20] Ibidem, p. 63.
[21] Ibidem, p. 69.
[22] Ibidem, p. 71.
[23] Ibidem, p. 76.
[24] Ibidem, p. 87.
Em parceria com a Boitempo Editorial, o Outras Palavras irá sortear dois exemplares de Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, de Friedrich Engels, entre quem apoia nosso jornalismo de profundidade e de perspectiva pós capitalista. O sorteio estará aberto para inscrições até a segunda-feira do dia 21/7, às 14h. Os membros da rede Outros Quinhentos receberão o formulário de participação via e-mail no boletim enviado para quem contribui. Cadastre-se em nosso Apoia.se para ter acesso!
Outras Palavras disponibiliza sorteios, descontos e gratuidades para os leitores que contribuem todos os meses com a continuidade de seu projeto de jornalismo de profundidade e pós-capitalismo. Outros Quinhentos é a plataforma que reúne a redação e os leitores para o envio das contrapartidas, divulgadas todas as semanas. Participe!
NÃO SABE O QUE É O OUTROS QUINHENTOS?
• Desde 2013, Outras Palavras é o primeiro site brasileiro sustentado essencialmente por seus leitores. O nome do nosso programa de financiamento coletivo é Outros Quinhentos. Hoje, ele está sediado aqui: apoia.se/outraspalavras/
• O Outros Quinhentos funciona assim: disponibilizamos espaço em nosso site para parceiros que compartilham conosco aquilo que produzem – esses produtos e serviços são oferecidos, logo em seguida, para nossos apoiadores. São sorteios, descontos e gratuidades em livros, cursos, revistas, espetáculos culturais e cestas agroecológicas! Convidamos você a fazer parte dessa rede.
• Se interessou? Clica aqui!
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras