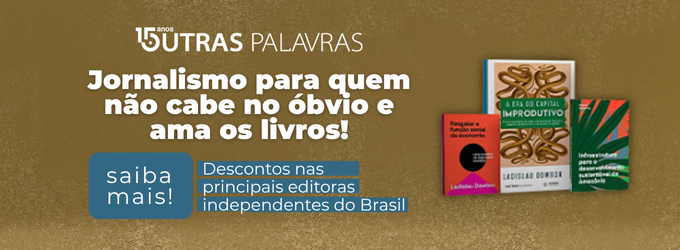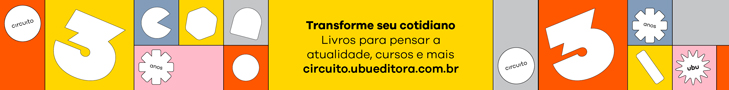Quando a escola pública vira dados e negócios
Business Intelligence – BI. Sob nome hermético, governo de SP implementa tecnologia que trata a Educação como ativo financeiro. Sobrecarrega professores, ignora a complexidade do ensino e pune o “baixo desempenho”. Essa “mais-valia” pode ir parar nas mãos do privado…
Publicado 04/09/2025 às 18:11 - Atualizado 04/09/2025 às 18:15
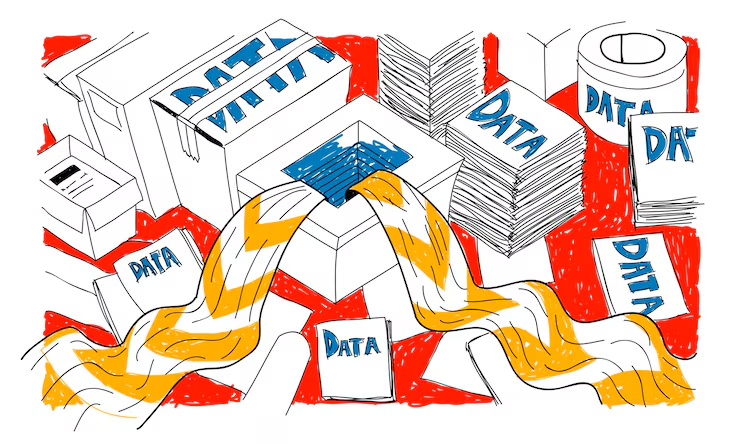
A história da Business Intelligence (BI) é resultado de uma ciência colaborativa voltada ao controle de informação. Seus princípios fundamentais foram moldados por décadas por uma série de técnicos, acadêmicos e profissionais que responderam às crescentes necessidades do mercado por uma gestão empresarial com controle de informação. Esta história está intrinsecamente ligada aos avanços na computação e a uma mudança na forma como as organizações empresariais passaram a encarar e usar os seus dados, como um ativo financeiro. Portanto, não estamos falando apenas de “organização” e “otimização” de informações. Uma empresa pode administrar os seus dados, mas como estes são ativos financeiros, eles dinamizam os processos matematizados constituindo os próprios princípios de funcionamento de uma ferramenta BI.
Há uma natureza científica nos princípios da Business Intelligence, pois se trata de um corpo de conhecimento estruturado e metodológico. Os tais “princípios” são fundamentos conceituais e arquitetônicos da tecnologia que visa buscar rigor, confiabilidade e replicabilidade aos processos de transformação de dados em percepções e ideias. Essas ideias são como uma receita testada e aprovada, que reúne conhecimentos de várias áreas, como computação, matemática, administração, comunicação, para funcionar na prática. Elas são tecnologias sérias porque seguem um método organizado, que permite dados testados e melhorados constantemente com base naquilo que é apontando no processo de sua alimentação. No cerne desta estrutura encontra-se o princípio da “fonte única da verdade”, que na ciência da informação não permite a ambiguidade e a contradição, porque opera por meio da consolidação e limpeza de dados num repositório central. Este conceito está enraizado na teoria de bases de dados, para gerar “precisão” e “consistência” desses elementos. Por este princípio, julga-se ter análises sem a inconsistência de dados subjacentes ou considerados como inapropriados.
Para uma boa compreensão, vamos dar um exemplo simples: imagine que uma empresa é como uma grande casa que precisa ser organizada. Em vez de guardar as coisas aleatoriamente ou de acordo com quem as usou por último, entende-se que o ideal é organizá-las por assuntos importantes que nunca mudam, como “roupas”, “utensílios de cozinha” ou “ferramentas”. É isso que significa orientar os dados pelos assuntos centrais do negócio, como clientes, produtos e vendas. Essa organização facilita enxergar a casa por completo e tomar decisões, para apresentar o que falta, onde investir, onde cada objeto está etc.
Aqui, vamos discernir sobre estes princípios em relação às escolas públicas.
Para entender essa máquina devemos ter em mente que o fundamental é a geração de valor quando os dados brutos (números soltos, listas etc.) são processados e transformados em conhecimento. A BI busca transformar pontos isolados em uma análise completa. Dados são tornados informações que permitem as tomadas de decisão. Além disso, o desenho de tal máquina tem que permitir acesso visual e objetivo, e estes elementos normalmente aparecem na forma de formulários e tabelas, o que permite resultados em gráficos.
Os princípios da BI constituem um sistema operacional, informacional, que se apresenta como um rigor científico associada à prática empresarial. A sua eficácia reside na aplicação combinada e coerente destes preceitos, que em conjunto, segundo os seus admiradores, transformam a incerteza em clareza, e os dados em decisão. A cientificidade do BI não está na aplicação disciplinada de um método que torna a tomada de decisão mais informada e como gostam de dizer os gestores, “estratégica”. Portanto, a implementação da Super BI pela SEDUC-SP, nas escolas públicas, serve fundamentalmente como tecnologia de gestão empresarial. Ela não funciona como uma ferramenta pensada para aprimorar a educação em sua essência. Quando o governo do estado diz que esta ferramenta foi “adaptada” para fins de gestão escolar, não estão mentido. Essa tecnologia foi acomodada às escolas. As escolas são apenas o terreno de sua aplicabilidade.
Breve histórico da tecnologia em questão
Um possível marco conceitual inicial ocorreu em 1958, quando o pesquisador da IBM, Hans Peter Luhn cunhou o termo “Business Intelligence”, ou ao menos o popularizou, pois há controvérsias sobre isso (Marques, 2024). Luhn propôs um sistema automático para disseminar informações por todos os níveis de uma empresa, com o objetivo claro de transformar dados em ação orientada para objetivos específicos. Nas décadas seguintes, entre 1960 e 1970, os alicerces dos Sistemas de Apoio à Decisão (DSS) representaram um salto conceitual ao posicionar o computador não apenas como uma máquina de processar transações, mas como uma ferramenta importante para apoiar a tomada de decisões gerenciais, o que estabelece a ideia de que a tecnologia está anexada às decisões de maneira que o princípio de valor e confiabilidade se conectasse a esta prática “híbrida”, movimento de gente e produtos em larga escala (Power, s.p.).
Historicamente, um impulso que permitiu a amplificação da BI aparece com a ideia de Data Warehouse nas décadas de 1980 e 1990, com os desenvolvedores de processos Bill Inmon e Ralph Kimball que, embora tenham abordagens diferenciadas, ambos concordam que a data warehouse deve integrar dados heterogêneos provenientes de múltiplas fontes e manter a consistência dessas informações para análise. São eles que instalam os princípios de limpeza, harmonização e padronização de dados (Yessad, Labiod, 2016). Dentre as transações do dia a dia, dados precisam ser extraídos, limpos, integrados e armazenados num repositório separado, exclusivamente desenhado como suporte à decisão, como já explicamos. Esta ideia de separar o ambiente operacional do ambiente analítico tornou-se o cerne daquilo que se chama a arquitetura de BI.
O analista Howard Dresner da Gartner resgatou e popularizou o termo “Business Intelligence” nos anos 1980. Este termo passou a ser usado como conceito primordial para descrever todos os processos, métodos e tecnologias que visam apoiar a decisão empresarial por meio de sistemas baseados em fatos (Faria, 2024). No meio empresarial, no âmbito de mercado, pensando apenas em lucro (e não necessariamente em “cultura empresarial”, já que esta, como todo agrupamento social, é repleta de imperfeições e imprecisões), a dita tecnologia foi aceita como tal e passou a estar unida aos processos mercadológicos de maneira legítima e referendada.
Explicando a frase “dados como ativos financeiros”
Entende-se que os princípios do Business Intelligence (BI) resultam em ativos financeiros é uma analogia que vai ao cerne do que se chama “valor estratégico” do BI nas corporações, empresas. Essa afirmação está baseada em uma lógica econômica. Em primeiro lugar, é importante entender que um ativo financeiro é um recurso com valor econômico e que se espera a geração de benefícios futuros. Tradicionalmente, pensamos em fábricas, equipamentos ou investimentos. No entanto, no que atualmente é chamado de “economia do conhecimento”, os dados tratados e organizados, ou seja, a matéria-prima do BI, são entendidos como ativo, do tipo “intangível”. Mas, isso pode ser contestado. Como dissemos acima, os princípios do BI transformam dados brutos (que inicialmente são um custo para a empresa) em algo valioso. Imagine que você apresenta informações tecnicamente sólidas, já que passaram por uma “limpeza” daquilo que não diz respeito aos comandos esperados previamente. O resultado disso se apresenta “confiável”, precisamente porque se mostra como o cerne daquilo que se queria saber inicialmente.
Os resultados concretos que se materializam em ganhos financeiros diretos são apresentados por meio de vários caminhos. A mais direta é a otimização de operações e a redução de custos. Um sistema de BI pensado por uma empresa e que segue o princípio da “orientação de assunto” permite identificar “ineficiências” em cadeias de insumos; desperdício de recursos; ou processos de trabalho desnecessários. Por exemplo, ao analisar padrões de consumo de energia ou de uso de matérias-primas, uma empresa pode implementar mudanças que resultam em economias de gastos. Cada fração percentual da dita “eficiência” é lucro retido que se traduz diretamente no fluxo de caixa.
A BI também pode ser estratégica para aumento de receita, quando analisa os dados dos clientes, tendo o conhecimento sobre comportamento, tendências, preferências, irritações, descontentamentos. No mundo produtivo, por meio da “economia da informação”, o consumidor é parceiro, coprodutor (mesmo sem saber disso) das ideias que serão repostas na forma de dados, depois, informações, para depois gerar o ciclo de conhecimentos que permitem o aumento da receita. Isto também permite a criação de campanhas de marketing direcionadas, o desenvolvimento de produtos que respondem a necessidades apontadas ao mercado e a descoberta de novas oportunidades de negócio. Temos aqui uma máquina capaz de prever demandas, por meio da análise de séries temporais. Portanto, o tal princípio ativo não é “intangível” porque mexe com o fluxo de informações geradas pelos próprios clientes por meio de uma máquina repleta de parafusos e sistemas operacionais. O benefício econômico é tangível, dinheiro, e o princípio ativo financeiro são as pessoas.
Enfim, dizer que os princípios do BI resultam em ativos financeiros não é uma metáfora, mas uma realidade econômica.
O uso de BI pelo estado de São Paulo nas escolas públicas: o que os atuais governantes alegam
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP) justifica a implementação do Super BI em nossa rede escolar pública com um discurso centrado na modernização da gestão educacional e na melhoria concreta dos resultados de aprendizagem. Em suas divulgações e comunicados, a secretaria enfatiza que a ferramenta não é um produto genérico de mercado, mas sim uma solução desenvolvida sob medida para atender às complexidades específicas da educação pública paulista, seja por meio de suas equipes internas especializadas ou mediante a contratação de empresas de tecnologia com conhecimento (expertise, como dizem) no setor.
O cerne do argumento da SEDUC reside na promessa de transformar a enorme quantidade de dados gerados diariamente nas escolas, como frequência, notas, conteúdo ministrado e ocorrências disciplinares, em resultados acionáveis e de fácil compreensão. A secretaria defende que, ao integrar-se diretamente à Plataforma Escola Total, o Super BI permite uma visualização clara do que acontece em cada unidade escolar, tornando-se um instrumento para o que denominam de “gestão baseada em evidências”.
No discurso oficial, a ferramenta é apresentada como um mecanismo de “empoderamento” para diretores, coordenadores e supervisores de ensino. Para os gestores locais, é vendida como uma aliada no combate à evasão escolar, ao emitir alertas sobre alunos com infrequência, e no apoio à recuperação de aprendizagem, ao identificar turmas ou disciplinas com baixo rendimento. Para a gestão central, é caracterizada como essencial para um planejamento de macroanálise, permitindo a alocação de recursos.
Em suma, o discurso em torno do Super BI da SEDUC-SP constrói uma narrativa de inovação, transparência e eficiência, posicionando a tecnologia como peça-chave para uma “educação pública mais qualificada”.
As críticas gerais, resumidas, que a BI recebe por seu uso nas escolas públicas
A implementação do Super BI na rede pública de ensino tem sido alvo de críticas fortes e sensíveis por parte de educadores, pesquisadores, gestores escolares, familiares que vivenciam o seu dia a dia operacional. Essas críticas destacam como sua aplicação prática esbarra em realidades educacionais diversas e tem sido usada para ampliar as desigualdades existentes que já demarcam, historicamente, diferentes facetas do ensino público paulista.
Uma das principais críticas está centrada na sobrecarga de trabalho que a ferramenta gera. Para que os dados sejam alimentados com a precisão e a velocidade que o sistema exige, professores e coordenadores precisam dedicar tempo significativo a registros e lançamentos, em grande parte das vezes em detrimento do planejamento de aulas, do atendimento individualizado aos alunos, da observação atenta aos variados problemas de todas as ordens: sentimentais, emocionais, ligadas ao desamparo econômico, familiar etc. Essa burocratização do trabalho pedagógico transforma o ato de educar em um processo de preenchimento de planilhas, esvaziando o tempo destinado à interação humana, que é a base mais significativa da aprendizagem.
Outro ponto crítico frequentemente levantado é o risco de reducionismo de todos os tipos de conhecimentos. Não apenas os intelectuais, mas os políticos, de educação emocional, tácita e gestual. Ao transformar processos educacionais em indicadores quantitativos (como notas, frequência, taxa de aprovação, tempo de leitura, de uso da máquina), o sistema tende a simplificar realidades imprescindíveis do que seja uma educação aberta e humana. Um aluno é reduzido a um alerta no sistema (“aluno com 15% de risco de evasão”, por exemplo), ignorando seu contexto socioeconômico, territorial, suas dificuldades emocionais ou seus talentos, que não são mensuráveis por métricas pré-editadas e padronizadas. Essa visão não é apenas fragmentada, no sentido de que não contextualiza a humanidade que aprende em grupo, e não somente de forma individualizada. Ela conduz à mecânica de valoração de índices que resultam em intervenções genéricas que não resolvem problemas de fundo.
Há também preocupações quanto ao uso punitivista dos dados. Da parte dos altos chefes da SEDUC, ela deve servir como ferramenta de apoio da administração de cada uma das escolas. Mas o que vemos, cada vez mais nas mídias e pelos apelos dos movimentos sociais e familiares, é que painéis de gestão estão sendo utilizados para pressionar escolas, diretores e professores a cumprirem metas de desempenho sem que lhes sejam dadas as condições materiais, humanas, psicológicas para tal coisa. Escolas em contextos vulneráveis, que já partem do princípio da desvantagem social, são frequentemente penalizadas por indicadores ruins. Não precisa ser discípulo de Pierre Bourdieu para saber que esse procedimento amplifica um ciclo de cobrança sem suporte adequado, deixando ainda pior o clima socioemocional das escolas. Isso tudo tem gerado um ambiente de estresse e competição. Não é por coincidência que vemos, cada vez mais, cenas de explosão de violências de estudantes para com seus pares, estudantes para com docentes, funcionários e gestores pedindo licenças médicas. Tudo isso são dados não computados pela tal ferramenta BI.
Há falta de contextualização dos dados inclusive relacionado ao ensino dos conteúdos. O sistema pode identificar que uma escola tem baixo desempenho em matemática, mas não explica o porquê. Ele indica que tarefas não são feitas, por exemplo. Sem análises qualitativas que complementem os números, as ações resultantes geram visões distorcidas. Podemos dizer que se pode indicar o investimento de mais simulados em matemática, em vez de apontar o excesso de licenças dos professores ou um possível contexto de fome dos alunos.
Por fim, critica-se a ilusão da neutralidade tecnológica. O Super BI é apresentado como uma ferramenta objetiva, mas seus algoritmos e estruturas de análise carregam visões de mundo e prioridades de quem os desenhou. Quando métricas de eficiência se sobrepõem a valores pedagógicos, a educação pode passar a servir mais aos critérios do sistema do que às reais necessidades da cultura escolar. A atenção fixada na ferramenta reforça lógicas disfuncionais, burocráticas e excludentes.
Reiterando o que foi escrito acima, a Super BI representa uma mente geradora de dados que intrinsecamente é pensada para a limpeza do que se considera uma “lógica disfuncional”. Ela representa uma mente reprodutora de dados pré-estabelecidos para um “fundamento de verdade” que, no caso, é matemático, pensando a aplicação desta tecnologia como um princípio de ativo financeiro.
Portanto, do ponto de vista tecnológico, ela funciona perfeitamente para o que foi criada: transformar dados em informações pré-determinadas para fins de ativos. Como tecnologia operatória, para os fins que foi programada, a BI é uma máquina com concretude. Funciona bem. A questão é como foi pensada para fins e resultados, a complexidade humana, a vivência, a experiência, são coisas sem importância. A questão fundamental é que estudantes violentos, nervosos, com fome; professores com problemas de saúde, diretores sob ameaça, são os elementos que devem ser “limpados” dentro de um sistema baseado em fatos estabelecidos pelos critérios previamente programados.
Por que não se trata de educação? O que o BI faz no espaço escolar
A implementação do Super BI na rede pública de São Paulo, quando observada por meio das lentes dos ganhos econômicos, mostra um modelo em que o conhecimento se torna uma moeda de valor estratégico e financeiro. Podemos dizer que no plano da escola, supervisores, diretores, docentes e alunos desempenham um papel duplo: atuam simultaneamente como provedores de dados e consumidores indiretos das soluções integradas na plataforma implementada. O termo otimização é para uso do governo do estado e de parceiros econômicos, que aproveitam desse ciclo contínuo para “otimizar” recursos e gerar novas fontes de valor.
Educadores e alunos tornam-se, assim, produtores (in)voluntários de dados que alimentam diariamente o sistema. Cada registro de frequência, cada nota lançada, cada indicador de rendimento ou mesmo sinal de evasão são convertidos em matéria-prima bruta. Quando processada pelo Super BI, essa matéria-prima transforma-se em percepções sobre eficiência, produtividade e necessidades específicas que são apontamentos disponibilizados a partir de critérios antecipados. Esse fluxo permanente de informação permite à SEDUC identificar padrões: quais turmas exigem mais incrementos, quais regiões carecem de intervenções urgentes e de quais tipos, quais metodologias oferecem o melhor retorno sobre o investimento. Sob uma perspectiva de sistema público, pensando o ponto de vista econômico, esses dados poderiam ser entendidos economicamente; esta eficiência de dados poderia se traduzir na redução de desperdícios, gerando economias diretas para o estado. Mas a condição de funcionamento do sistema está toda direcionada ao mundo privado; portanto, quem está ganhando com as tais “reduções de desperdícios”, caso haja isso mesmo?
A Plataforma Escola Total, ao hospedar o Super BI e integrar múltiplas empresas que comercializam materiais didáticos e instrucionais, cria um mercado profundamente orientado por estes mesmos dados e entregues aos parceiros. A SEDUC passa a poder negociar com fornecedores com base em evidências concretas, como quais conteúdos digitais ou livros efetivamente serão vendidos e por quais custos. As compras públicas são direcionadas para conduções com desempenho nos dados do sistema, mas os modelos de assinatura ou licenciamento, os conteúdos ofertados por esses produtos didáticos, acompanham essa mesma “eficiência”? Está evidente, pela grita geral, que não. Os materiais são pobres intelectualmente, não são estimuladores, não são bonitos. Portanto, as percepções geradas pelos sistemas abastecem o oferecimento de produto de má qualidade, enquanto os dados são coletados como commodities? É o sistema público que está ganhando com isso?
Além disso, o acúmulo de dados educacionais em larga escala é um ativo potencialmente negociável. Empresas de tecnologia educacional, investigadores e institutos de políticas públicas manifestam interesse em acessar esses conjuntos de dados para desenvolver produtos, estudos ou modelos preditivos. O governo do estado pode, assim, licenciar o acesso a esses conjuntos de dados ou estabelecer agremiações público-privadas alavancando percepções exclusivas geradas pelo próprio sistema, lançando-as ao mercado. Cabe saber se os gestores públicos não são eles mesmos os sujeitos que vendem, direta ou indiretamente, os tais produtos didáticos.
Para supervisores e diretores de escola, esta lógica se assemelha à gestão de unidades de negócio. Eles são incentivados a cumprir metas de redução de evasão, melhoria de notas e eficiência no uso de recursos, espelhando práticas do setor privado. Mais uma vez, esses indicadores de rentabilidade e produtividade não estão programados para dimensões subjetivas, relacionais e humanas do processo de ensino e aprendizagem; porque são mais um artefato existente na história da ciência e técnica que evita esses aspectos, que são considerados impurezas em relação à pureza dos dados observados e analisados. Não surpreende que esta máquina tenha este caráter opressor, dada a realidade autoritária, inconstitucional, ilegal como ela foi fixada e está sendo mantida.
A Super BI ativa um ciclo econômico completo: os dados educacionais são capturados gratuitamente por meio do trabalho de educadores e do comportamento dos alunos; são transformados em inteligência para orientar a alocação de recursos e políticas privadas; criam oportunidades de monetização via parcerias, licenciamento de dados ou comercialização direta e indireta no seio da própria educação pública. Este modelo, ainda que potencialmente eficiente do ponto de vista informacional, levanta questões éticas profundas sobre a transformação da educação pública numa commodity. Porque os estudantes e professores se tornam, sem consentimento racional (porque os governantes vão advogar que as famílias dão o consentimento do uso de dados pela assinatura de algum contrato) ou benefício direto a eles mesmos, os geradores primários de um valor que é, na sequência, redistribuído pelo estado e seus parceiros econômicos.
A utilização dos dados do Super BI pela SEDUC para orientar políticas como leilões de escolas, terceirizações e implementação de escolas cívico-militares reflete uma aplicação desta inteligência de dados. O que vemos está no domínio da engenharia social de nível corporativo. Os dados sobre desempenho acadêmico, evasão escolar, infraestrutura e contexto socioeconômico das escolas permitem identificar as unidades com “baixo desempenho” ou “alto custo de operação”. Esses indicadores podem ser usados para justificar intervenções como a terceirização da gestão ou mesmo a conversão para o modelo cívico-militar, argumentando que tais medidas são “necessárias” com base em “evidências”.
No caso de leilões de escolas ou parcerias público-privadas, os dados do Super BI podem atrair investidores ao apresentar métricas claras sobre custos, desempenho e potencial de “retorno” social ou simbólico; definir critérios de concessão com base em eficiência financeira a despeito de problemas pedagógicos; monitorar contratos usando indicadores de produtividade e redução de gastos. Assim, a Super BI pode funcionar como uma ferramenta de racionalização técnica para decisões políticas já pré-determinadas, mascarando opções ideológicas sob um véu de objetividade numérica.
Vale ainda falar um pouco sobre as escolas cívico-militares, que entram neste complexo de justificação técnica baseada em dados. A BI fornece um aparato estatístico e analítico que, instrumentalizado, passa a legitimar as decisões políticas mais uma vez sob o manto da eficiência administrativa. A SEDUC identifica escolas com indicadores de baixo desempenho acadêmico, alta evasão ou ocorrências disciplinares, categorizando-as como “problemáticas” ou “de risco”. Estes dados são então mobilizados para justificar intervenções via modelo cívico-militar, argumentando que tais escolas requerem uma “gestão de ordem e disciplina” supostamente respaldada por evidências numéricas.
O modelo cívico-militar é promovido como mais “eficiente” em termos de gestão de recursos e redução de conflitos, e a BI pode fornecer as métricas para sustentar esta alegação. Ao comparar indicadores como custo por aluno, taxa de rotatividade de professores ou índices de clima escolar. Da mesma forma que o sistema apaga imprecisões, pode sugerir que o modelo militar resulta em estabilidade, ainda que o processo altamente disciplinador não entre na conta como antipedagógico, mas entre na conta como estabilizador do sistema, dentro da equação. Ainda que se possa analisar uma ampla série histórica, que necessita de tempo, logicamente, a BI prioriza indicadores de curto prazo, como redução de faltas e aumento de notas em provas padronizadas, que se alinham ao discurso de “disciplina e resultados”, cabíveis no modelo cívico-militar. Escolas sob este regime podem mostrar resultados “otimizados” por estes indicadores superficiais, quando se tomam os casos de sucesso estatístico em detrimento da participação estudantil em mobilizações sociais, o enfoque do controle apagando os processos de emancipação social e política etc. Podemos enumerar todas as “belas qualidades” da casta militar que cabem muito bem aos desejos de uma parcela da sociedade que aprova o governo do estado. Gente que visualiza a superfície da aparência, referenda os números desta máquina, e desdenha da política perversa que pode estar metida em toda e qualquer luta estética, inovadora, tecnológica.
Finalmente, ao apresentar a implementação de escolas cívico-militares como decisão “baseada em dados”, o governo substitui debates democráticos sobre projetos educacionais por justificativas técnicas que se apresentam e ganham espaço cada vez maior, como legítimas, e vamos seguindo vendo este tipo de coisa acontecendo no seio da escola pública que vê a sua comunidade sendo a coprodutora de valores dados a grupos econômicos muito distantes de suas necessidades.
A economia de dados sobre a escola pública age como a Matrix que suga a energia dos membros da comunidade da escola para ter ganhos financeiros. A escola é coprodutora de informações valiosas para estes grupos mercadológicos; a retirada de dados dos membros da escola é predatória, é uma espécie de mais-valia inovadora já prevista pela Organização Mundial do Comércio (OMC) décadas atrás quando apontava a educação pública como um veio vultoso de constituição de capital.
Portanto, de maneira estrita, não estamos mais falando de “educação”, porque a Super BI implementada nas escolas públicas de São Paulo é uma tecnologia de geração de informações com lógica empresarial, para ganhos imediatos. Alunos, professores, diretores são as fontes de dados brutos. A escola é terreno de aplicação, tal como um laboratório para uma gestão tecnocrática de cunho corporativo, para a monetização de informações e a justificativa legitimada de intervenções externas, terceirizações, leilões, modelos cívico-militares.
Não existe educação por essa tecnologia pensada por ela mesma. Devemos reclamar com força por uma educação pública, democrática, enquanto existir esse tipo de máquina e esta governança no estado de São Paulo.
Este texto é parte integrante da Campanha +História, organizada pela Associação Nacional de História, por sua seção de São Paulo (ANPUH-SP), em defsa da história, dos profissionais de história, docente e pesquisador, em defesa da escola pública paulista.
Referências:
FARIAS, Bruno Wanderley. Uso estratégico de dados na Internacionalização da Educação Superior: Elaboração de requisitos informacionais para construção de Business Intelligence. Dissertação (Mestrado Profissional). Universidade Federal de Santa Catarina, 2024.
MARQUES, Eliane Cunha. Solução de Business Intelligence para Análise Crítica e Monitoramento de Riscos de Tecnologia da Informação: Estudo de Caso da Rede Ebserh. Orientador Ricardo Matos Chaim. Brasília, 2024.
YESSAD, Lamia; LABIOD, Aissa. Comparative Study of Data Warehouses Modeling Approaches: Inmon, Kimball and Data Vault. In: 2016 International Conference on System Reliability and Science (ICSRS). 2016, Algiers, Algeria. Anais. IEEE, 2016.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras