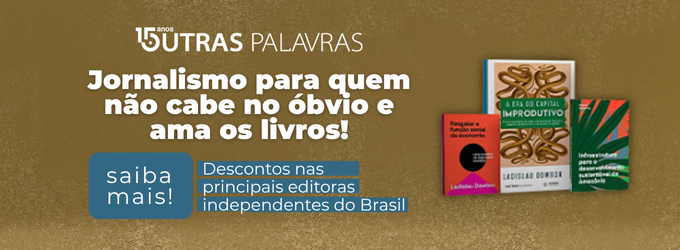Do Lattes ao like: Quando a academia caça cliques
A divulgação científica nas redes sociais surge como forma possível de ampliar contatos, construir redes e criar oportunidades de trabalho. Mas há um risco: seria o surgimento do professor-coach? Até que ponto a qualidade do debate sobrevive à vitrine do vale tudo por emprego?
Publicado 10/10/2025 às 17:33 - Atualizado 10/10/2025 às 17:34
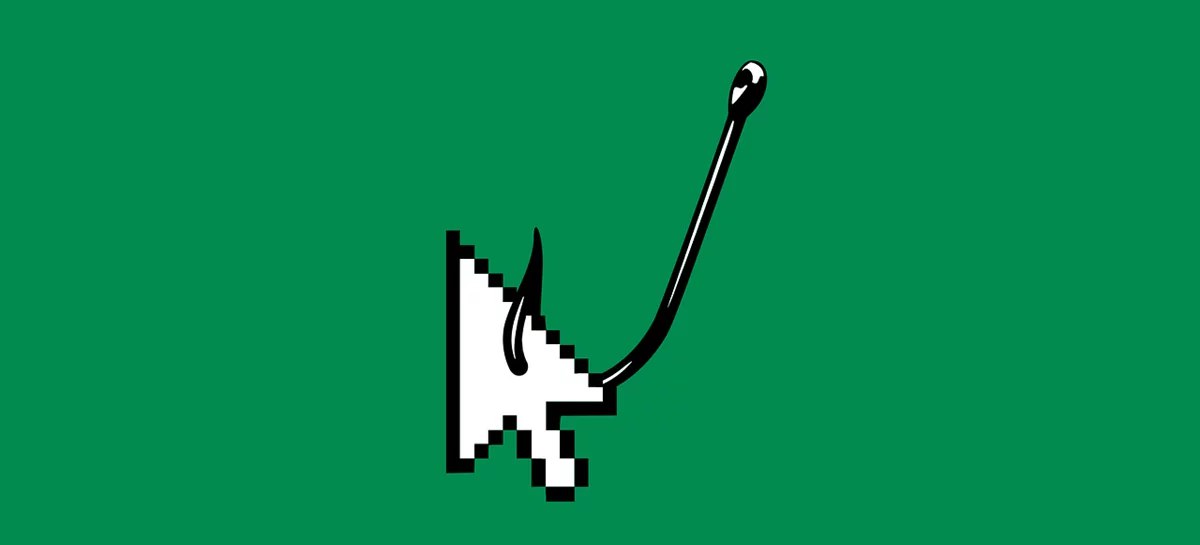
Nos últimos meses, sobretudo pela colaboração que mantive com um site de educação, tenho mobilizado minhas redes sociais com os textos publicados nesse portal. Esse processo, que servia, a meu ver, como forma de registro dessas publicações – que não circulariam, por sua vez, nos centros em que me encontro intelectualmente – possibilitou, também, mobilizar minhas redes para um movimento que há muito venho percebendo no meu ciclo acadêmico: a divulgação teórico-científica.
A divulgação científica nas redes sociais nunca foi o meu objetivo, principalmente considerando o trabalho que esse processo enseja. Após o término dessa colaboração, algumas reflexões surgiram sobre essa transformação das redes sociais em vitrines de si mesmo. Não me entendam mal: acredito que a divulgação científica é importante, mas, quando ela se torna um dos únicos meios de inserção intelectual e, principalmente, profissional, há um problema. Por que, cada vez mais, pesquisadores têm recorrido às redes sociais como forma de divulgação dos seus trabalhos?
Uma das respostas possíveis, e que me parece igualmente simples, precisa ser melhor elaborada. Para uma geração de novos pesquisadores, na qual me incluo, a vida acadêmica foi propagandeada como uma forma possível de ascensão social, de dedicação à pesquisa e à produção intelectual, além de ser um meio de dar continuidade à busca por respostas a “problemas” que, querendo ou não, movem a investigação.
Esse processo, acompanhado de maiores investimentos em educação, ciência e tecnologia, contribuiu para a expansão dos cursos de pós-graduação, com maior acesso de grupos sociais antes excluídos das universidades, bem como para o aumento do contingente de pesquisadores (mestres e doutores) no país. A título de comparação, em 2010, o Brasil formou 39.539 mestres e 11.309 doutores, passando para 60.030 mestres e 20.073 doutores em 2020. Mesmo com a queda de investimentos e a desaceleração do processo de crescimento, observa-se que o número de titulações quase dobrou no país [1].
Esse fenômeno, motivado, sobretudo, pela expansão do ensino superior, pelas ações afirmativas e pelas políticas de permanência, além de outros fatores, contribuiu de forma significativa para o aumento no número de titulações. Especificamente no âmbito das ciências sociais, observa-se a pesquisa publicada pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), intitulada Onde estão os cientistas sociais? Conhecendo a profissão e o mercado de trabalho [2], divulgada em 2024. A pesquisa demonstra, principalmente, um crescimento do número de mestres e doutores em ciências sociais (Sociologia, Antropologia e Ciência Política). Esse processo, nos últimos 20 anos, aponta para uma tendência de maior titulação entre os indivíduos que possuem ensino superior.
Esse crescimento, ao contrário do que se esperava e da promessa que minha geração recebeu, não foi acompanhado por um aumento das oportunidades de trabalho e de inserção profissional (dentro ou fora das universidades). É fato que o Concurso Nacional Unificado (CNU) serviu como meio para absorver parte desse contingente, mas uma parcela significativa desses mestres e doutores permanece sem possibilidades de emprego.
A pesquisa da ANPOCS mostra, por exemplo, que, entre os cientistas sociais, 24,35% possuem baixa expectativa de encontrar um emprego compatível com sua área de formação. As notas atribuídas em uma escala de 1 a 7 chamam ainda mais a atenção quando se observa que apenas 6,38% acreditam que conseguirão emprego na área. O que fazer, então? Considerando o tempo médio de formação — quatro anos de graduação, dois anos de mestrado e quatro anos de doutorado — são dez anos em que nos dedicamos à pesquisa e à formação acadêmica. Para onde iremos?
As redes sociais surgem como formas possíveis de ampliar contatos, construir redes de divulgação e criar oportunidades que, querendo ou não, permitem a esses indivíduos encontrar alternativas de sobrevivência. Seja por meio da oferta de cursos, consultorias, orientações, palestras, entre outros, trata-se de um espaço em que o pesquisador pode efetivamente continuar “na área”, ainda que de forma instável e precária, com baixa remuneração e sujeita a constantes flutuações.
No entanto, as redes sociais se vinculam a um fenômeno que não lhes é exclusivo, mas que atravessa toda a sociedade: a transformação dos indivíduos em empresas de si mesmos. Embora não seja o objetivo deste texto realizar longas discussões teóricas, importa destacar que a nova racionalidade neoliberal, ao introduzir a perspectiva da “empresa de si mesmo”, cria um fenômeno no qual as atitudes sociais passam a ser orientadas por valores mercadológicos. Conforme Dardot e Laval (2016, p. 331)[3]:
“Isso significa que cada indivíduo deve aprender a ser um sujeito ‘ativo’ e ‘autônomo’ na e pela ação que ele deve operar sobre si mesmo. Dessa forma, ele aprenderá por si mesmo a desenvolver ‘estratégias de vida’ para aumentar seu capital humano e valorizá-lo da melhor maneira. ‘A criação e o desenvolvimento de si mesmo’ são uma ‘atitude social’ que deve ser adquirida, um ‘modo de agir’ que deve ser desenvolvido para enfrentar a tripla necessidade do posicionamento da identidade, do desenvolvimento de seu próprio capital humano e da gestão de um portfólio de atividades”.
Do ponto de vista desse movimento de autopromoção ou autodivulgação que se expande pelas redes sociais, pode-se destacar uma transformação do caráter eminentemente pedagógico da divulgação científica para um processo de vitrinização your self. Troca-se o debate intelectual, em sua dimensão crítica, por uma enxurrada de informações, produções e postagens que, em suma, buscam promover o pesquisador. Quase como um “coach acadêmico”, esses indivíduos passam a inundar as redes com publicações que não necessariamente visam à divulgação científica, mas, sobretudo, à autopromoção e à consolidação da imagem do pesquisador enquanto indivíduo.
Certamente isso é um problema, e meu objetivo, com este texto, não é dizer o contrário. O movimento da “empresa de si mesmo”, integrado ao mundo acadêmico, faz com que os pesquisadores deem mais ênfase à promoção pessoal do que à pesquisa propriamente dita, o que, por sua vez, impacta também a qualidade da produção. No entanto, esse processo, que decorre da própria estrutura das redes sociais, atende a uma lógica menos complexa: quanto maior a visibilidade, maiores as oportunidades. Para isso, é necessário movimentar as redes — o que não implica, necessariamente, maior qualidade daquilo que é “divulgado”.
Esse processo se ajusta a uma condição cada vez mais presente de precariedade do trabalho de pesquisa. Não há como negar que as redes sociais têm o potencial de constituir “redes” capazes de conectar esses pesquisadores a “empregadores”, no sentido amplo do termo. Além disso, esses espaços podem ampliar a difusão de sua produção para potenciais interessados, permitindo que constituam capital social e simbólico que lhes confira formas de subsistência. Quando as saídas coletivas se esgotam, as individuais aparecem como a única resposta possível.
O neoliberalismo, enquanto sistema ideológico, ao reduzir as atitudes sociais às dinâmicas mercadológicas, faz com que as saídas possíveis passem, inevitavelmente, por essa mesma lógica. É preciso abandonar condicionantes, assumir uma postura autônoma, buscar, por si só, o sucesso — e aceitar os riscos dessa relação. É empreender a si mesmo, como produtor e produto. É assumir os riscos, precarizar-se a si mesmo, quase como uma espécie de rito de passagem para o sucesso.
O problema que se apresenta, portanto, não comporta uma resolução simples. Afirmar apenas que é necessário ampliar as possibilidades de trabalho para pesquisadores e pesquisadoras, de modo que as redes sociais possam voltar-se, efetivamente, para a divulgação científica, soa demasiado simplista. O projeto neoliberal, sobretudo em relação às ciências humanas, consiste não apenas no desmonte dessas áreas — e na consequente diminuição de postos de trabalho —, mas também na transformação do pesquisador em empreendedor de si mesmo, apresentada como uma forma possível de permanência.
O crescimento do número de “divulgadores científicos” nas redes sociais é um fenômeno que não apenas evidencia a precarização do trabalho de pesquisa, mas também corresponde à nova governamentalidade neoliberal. Dentro dessa lógica, a plataforma Lattes já não garante a inserção profissional do pesquisador.
Notas e referências
[1] ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS (ANPOCS). Onde estão os cientistas sociais? Conhecendo a profissão e o mercado de trabalho. ANPOCS, 2024. Disponível em: <https://anpocs.org.br/2024/11/12/onde-estao-os-cientistas-sociais-conhecendo-a-profissao-e-o-mercado-de-trabalho-2/> Acesso em: 10 set. 2025.
[2] BRASIL. Brasil: Mestres e Doutores – 2024. Observatório de RH para CT&I, 2025. Disponível em: <https://mestresdoutores2024.cgee.org.br/-/2.1-crescimento-titulos> Acesso em: 24 set. 2025.
[3] DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo. São Paulo: Boitempo, 2017.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras