Wikifavelas: Uma antropologia das torcidas no futebol
O esporte articula pertencimento, tradições comunitárias e une diferentes gerações. Mas também tensões cotidianas. Dicionário Marielle Franco investiga as relações entre violência nos estádios, sociabilidade, hierarquias e os aparatos punitivos contra o pobre
Publicado 26/11/2025 às 19:32

Mais do que um repertório simbólico central do imaginário social do Brasil, o futebol constitui um fenômeno histórico e social complexo, cuja centralidade no cotidiano das favelas e periferias tem sido analisada por historiadores, sociólogos e demais formadores de opinião como, por exemplo, DaMatta (1982) e Galeano (1995). O debate sobre futebol e violência, em especial, ganha densidade quando observado a partir das dinâmicas sociais presentes nesses territórios. Ao abordar o futebol em sua dimensão de representação social, é possível perceber como essa prática se consolida historicamente no cotidiano das favelas e periferias, tornando-se um eixo estruturante da sociabilidade local, da formação de identidades coletivas e da circulação de afetos, solidariedades e rivalidades.
O processo de popularização do futebol, até seu reconhecimento como o esporte mais seguido do planeta, não pode ser dissociado da participação ativa das camadas populares, que transformaram ruas, becos e campos improvisados em espaços de convivência e produção cultural. Nessas áreas, o futebol articula pertencimento, mantém vivas tradições comunitárias e serve como uma linguagem comum capaz de unir diferentes gerações, ao mesmo tempo em que expressa tensões presentes na vida cotidiana.
Ao situar o futebol dentro desse tecido social, compreende-se que ele funciona como um fenômeno cultural que atravessa política, educação e economia, mas cuja relação com a violência exige atenção específica. A violência que incide sobre as favelas e periferias, marcada por desigualdades históricas, pela presença intensa do Estado sob a forma de repressão e pela persistência de conflitos territoriais, influencia diretamente as formas de sociabilidade que se constroem em torno do esporte. Da mesma maneira, a violência associada ao universo futebolístico, seja em práticas de torcidas organizadas, disputas territoriais ou tensões institucionais, reverbera na vida social desses territórios, reforçando estigmas, aprofundando vulnerabilidades e afetando trajetórias individuais e coletivas. Assim, discutir futebol e violência implica reconhecer esse movimento de influências recíprocas, no qual as periferias e favelas não são apenas cenário, mas protagonistas na produção de sentidos, práticas e desafios que estruturam o fenômeno esportivo e suas implicações sociais.
No Rio de Janeiro, temos o Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (BEPE), unidade da PMERJ responsável pela segurança em eventos esportivos, desempenha um papel central no monitoramento e na prevenção da violência no futebol. Segundo o ex-comandante do BEPE, Tenente-Coronel Silvio Luiz, em entrevista concedida a Leonardo Teixeira, as brigas em partidas envolvendo os chamados clubes “grandes” — Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo, que tradicionalmente mobilizam maiores públicos — vinham apresentando redução nos últimos anos. Ele ressalta que eliminar completamente esses episódios é praticamente impossível, mas destaca que houve avanços significativos em comparação ao cenário observado em temporadas anteriores.
Concomitante a isso, observou-se o surgimento de novas dinâmicas e o aumento do número de integrantes de torcidas organizadas vinculadas a clubes de menor investimento — aqueles que não contam com grandes massas de torcedores nem ocupam com frequência os principais espaços da mídia esportiva, como Bonsucesso, Olaria, Duque de Caxias, América, Bangu e Americano, entre outros. Partidas que historicamente eram percebidas como tranquilas e pouco propensas a conflitos passaram a registrar episódios de violência, enquanto novas rivalidades emergiam e se consolidavam no cenário do futebol carioca.
De maneira geral, os últimos anos têm refletido um aumento da violência no futebol em todo o país. São diversos os casos de brigas, feridos e até mesmo mortos em decorrência de confrontos entre torcedores rivais nesse tipo de evento. A noção de “segurança” evocada na resposta à violência nos estádios exige problematização crítica: não se trata apenas de restabelecer a calma física do espaço para que famílias e pessoas que não querem compactuar com a violência retornem às arquibancadas, mas de entender quais ameaças são priorizadas, para quem se produz proteção e a que custo social e legal essa proteção é implementada.
Estudos como o “Esporte, Dados e Direito”, relatório do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CeSec), demonstram que a segurança nos estádios tem sido progressivamente refratada por uma agenda de controle, na qual o foco desloca-se da prevenção comunitária de conflitos e das políticas sociais para dispositivos tecnológicos e práticas punitivas que visam gerir multidões e perfis de risco. Esse movimento operacionaliza uma concepção de segurança centrada na visibilidade e na previsibilidade de comportamentos, o que, na prática, torna corpos e trajetórias, sobretudo de jovens periféricos e de torcedores provenientes de favelas, objetos de vigilância e de classificação — fenômeno que pretendemos tratar no decorrer deste texto.
REPRESENTAÇÃO SOCIAL DAS TORCIDAS ORGANIZADAS
As torcidas organizadas brasileiras têm, em sua maioria, origem no final dos anos 1960 e ao longo da década de 1980 (Pimenta, 2000), sobretudo no caso dos clubes de maior investimento do país. Com o passar do tempo, suas diretrizes, práticas e formas de atuação foram se transformando. Em seus primeiros anos, essas torcidas se constituíam principalmente como coletivos juvenis voltados para a festa: grupos que se mobilizavam para apoiar, animar e celebrar o clube de coração.
Sob uma perspectiva sociológica, contudo, é possível compreender que sua organização também expressa processos de afirmação identitária profundamente vinculados à socialização e às experiências educativas — formais ou informais. A formação dessas identidades envolve a necessidade de pertencimento a grupos, dimensão que atravessa a cultura brasileira e nossos modos de educar, reforçando a ideia de que integrar-se a coletividades é parte constitutiva da construção de si. Muitas vezes, essa busca por identidade e pertencimento não encontra respaldo no âmbito familiar e passa a ser suprida pelas torcidas organizadas, onde jovens que compartilham valores, experiências e modos de vida semelhantes encontram um espaço de reconhecimento mútuo. Nesse ambiente, sentem-se mais livres para expressar quem são, elaborar suas tensões e construir sociabilidades que lhes conferem sentido, proteção simbólica e afirmação coletiva.
Sendo o gênero uma construção social, o universo do futebol se configura como um dos principais palcos de produção e reafirmação da identidade masculina, onde normas, performances e expectativas de masculinidade são continuamente encenadas e negociadas. Diante disso, é sabido que o futebol historicamente se consolidou como um espaço de afirmação da masculinidade, muitas vezes associado à força física e à virilidade. Na nossa cultura, de modo geral, gênero é um elemento definidor de inteligibilidade; “não se pode dizer que os corpos tenham uma existência significável anterior à marca do seu gênero” (Butler, 2003, p. 27).
Buscando aprofundar essa questão, Dagmar Meyer (2003) aponta algumas implicações importantes ao se utilizar o conceito nessa perspectiva. Uma dessas perspectivas destaca que as formas de viver masculinidades e feminilidades só podem ser compreendidas a partir de seus contextos históricos e sociais específicos, o que implica reconhecer a existência de múltiplas maneiras de experimentar e expressar feminilidades e masculinidades. Em função dessa pluralidade, o conceito ganha ainda mais força quando pensada sua articulação com outros marcadores sociais, como sexualidade, classe, raça ou etnia, reconhecendo que os papéis de gênero também se expressam de formas distintas no universo do futebol, refletindo dinâmicas mais amplas da vida social. Por fim, a autora também aponta as relações entre os “sujeitos de gênero”, considerando que as construções de masculinidades estão relacionadas a (re)produção de feminilidades. Nesse caso, não é possível isolar um suposto mundo dos homens de um suposto mundo das mulheres, assim como não somos capazes de enxergar, atualmente, um meio futebolístico dominado apenas por um deles, ainda que com determinada predominância. Para Butler (2003, p.18),
[…] as instituições sociais, os símbolos, as normas, os conhecimentos, as leis, as doutrinas e as políticas de uma sociedade são constituídas e atravessadas por representações e pressupostos de feminino e de masculino ao mesmo tempo que estão centralmente implicadas com sua produção, manutenção ou ressignificação.
Ao presenciar o dia a dia e a rotina futebolística nas ruas e nas arquibancadas, é possível observar um movimento crescente no que dita a desconstrução da exclusividade masculina no esporte, também refletido em outras modalidades esportivas, reforçando que “mesmo que existam regras, que se tracem planos e sejam criadas estratégias e técnicas, haverá aqueles e aquelas que rompem as regras e transgridem os arranjos. A imprevisibilidade é inerente ao percurso” (Louro, 2004, p. 16). Contudo, embora essa tendência de inclusão feminina tenha avançado em esportes caracterizados por alta competitividade e agressividade, ainda há indícios de que a violência relacionada às torcidas organizadas permanece predominantemente masculina. Nesse cenário, são reforçados traços culturais frequentemente associados aos homens, como a agressividade e a defesa da honra, valores profundamente arraigados na socialização desses indivíduos. Ao direcionar o olhar para a relação específica entre masculinidade e competição, Cecchetto (2004) aponta que estudos etnográficos revelam sociedades nas quais a identidade masculina é frequentemente associada a uma disposição considerada intrínseca — algo a ser adquirido por esforço, mérito ou superação — e cuja legitimação passa por rituais, provas ou dinâmicas competitivas.
Segundo levantamento realizado pela FGV/CPDOC, o perfil dos torcedores organizados nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo é majoritariamente masculino (91% no RJ e 86% em SP), solteiro (77% e 72%), com até 40 anos (93% e 94%), ensino médio completo (58% e 62%) e residente nas capitais (64% e 67%). Pimenta (2000) apresenta o torcedor organizado a partir de um conceito de novo sujeito social. Para tal, caracteriza o sujeito como alguém mobilizado pelo prazer e pela excitação associados à prática de atos violentos. Essa visão de “honra”, que parece justificar confrontos, transcende os limites das arquibancadas, alcançando as áreas ao redor dos estádios, bares e ruas próximas. Dessa forma, a violência não se restringe ao interior das partidas, mas se desdobra por outros espaços urbanos, ampliando seu impacto para além do evento esportivo. Nesse sentido, “a mola propulsora dessas dimensões sociais, combinadas com uma infinidade de fatores históricos, econômicos e socioculturais, ganha efeito pela produção do esvaziamento político do sujeito social” (Pimenta, 2000, p. 126).
Segundo Barros, Junior e Netto (2009), esses torcedores são majoritariamente jovens oriundos de favelas e periferias, que muitas vezes não contam com a presença cotidiana da figura paterna em razão de diferentes fatores — entre eles, a necessidade de longas jornadas de trabalho para assegurar o sustento familiar. Nesse contexto, o grupo de torcida passa a assumir, em certa medida, funções de substituição simbólica, adquirindo características semelhantes às de uma estrutura familiar. Em seu estudo, Pimenta (2000) apresenta também a entrada de jovens em torcida organizadas após serem “atraídos pela vestimenta, força e coesão do grupo, relações verticalizadas, estilo de vida, prazer da violência”, ou seja, qualquer simbologia que remetesse à padronização, ao pertencimento ou aos modelos de sociedade de consumo instaurados no Brasil.
É importante salientar que a violência encontrada nas torcidas não deve de forma alguma ser deslocada da violência presente na sociedade como um todo, desde o seu processo civilizatório, sabendo que, afinal, uma se trata do reflexo da outra. Dowdney (2005), ao investigar as motivações que levam jovens a se envolverem com grupos violentos, afirma que esse processo está profundamente relacionado ao desejo de pertencimento — a necessidade de integrar um grupo ou gangue. Para o autor, tal inserção conecta-se diretamente às aptidões e habilidades desses jovens, que não apenas são reconhecidas nesses ambientes, como também potencializadas.
De forma mais minuciosa, não se pode afirmar categoricamente que indivíduos se tornam violentos por integrarem torcidas organizadas, ou que se associam a essas torcidas devido à predisposição à violência. O ponto essencial é reconhecer, diante dos expostos estudados e de observações pessoais que temos realizado, que o enfrentamento com torcidas rivais confere ao indivíduo um sentido de pertencimento, além de garantir prestígio e reconhecimento entre os demais membros, entendendo que há também uma relação hierárquica onde se confere respeito e admiração entre novatos e antigos.
A experiência de ser preso após um ato de violência, por exemplo, é muitas vezes interpretada como um ato de bravura, ousadia e dedicação à torcida, o que eleva o status e a reputação desses indivíduos dentro do grupo — ao menos entre aqueles que aderem às regras implícitas dessas organizações. Essa lógica está diretamente associada a uma concepção de violência naturalizada que atravessa e estrutura as relações internas desses coletivos. Da Matta (1982) apresenta uma justificativa curiosa para descrever a violência, o que ajuda a compreender melhor a afirmação anterior: a violência é mais do que intrínseca à sociedade brasileira, é fato social, inerente à sociedade humana. Seu propósito é compreender os modos específicos de expressão dessa realidade da violência na sociedade brasileira. Dado o exposto, compreende-se que, mesmo em uma situação de vulnerabilidade e prejuízo da própria imagem, a experiência do cárcere pode ser ressignificada, no interior de grupos intensamente envolvidos em episódios de violência, como parte de uma lógica própria. Inconscientemente, essa percepção se articula a uma perspectiva que rompe com uma visão linear e historicizada da vida social, conduzindo à busca de causas ou origens que justifiquem qualquer ato de violência — e, por consequência, a própria experiência de encarceramento. Esse tipo de comportamento é frequentemente valorizado, sendo tratado como uma conquista simbólica que contribui para a legitimação da violência no contexto das torcidas.
Além disso, o fato de passar por situações como a prisão pode fortalecer os laços de sociabilidade entre os membros, consolidando um senso de comunidade. Para Pimenta (2000, p. 125),
O “torcedor”, no modelo “organizado”, não é mais um mero espectador do “jogo”. No grupo ele é parte do espetáculo, ele é o espetáculo. No grupo ele expressa sua masculinidade, seus sentimentos de solidariedade, de companheirismo e de pertencimento em um grupo que o acolhe.
No entanto, as tentativas do Estado, representado pela ação policial, de conter esses “excessos” evidenciam outras dimensões da desordem social presente nas práticas desses grupos de torcedores.
O BERÇO DAS TORCIDAS ORGANIZADAS NO BRASIL
O Rio de Janeiro foi o berço das primeiras torcidas organizadas, com o surgimento da Torcida Jovem do Flamengo em 1967, seguida pela Torcida Jovem do Botafogo em 1969, Força Jovem do Vasco e Torcida Young Flu em 1970, e, por fim, Raça Rubro-Negra em 1977. Esse movimento de criação se espalhou rapidamente pelo país, provocando, entre as décadas de 1970 e 1980, um aumento expressivo no número de torcidas organizadas. Desde o início, a rivalidade se mostrou um elemento estruturante: à formação de uma torcida organizada de determinado clube, seguia-se quase imediatamente o surgimento de uma equivalente do time adversário, alimentando disputas já presentes no cenário futebolístico.
O interessante nesse ponto é que as primeiras torcidas organizadas que tinham o interesse irrestrito de apoiar os times, como a Charanga Rubro-Negra — conhecida como a primeira torcida do Brasil —, foram fundadas anos antes; neste caso, em 1942. Logo em seguida, em 1944, tivemos a fundação da primeira torcida organizada do Vasco da Gama, a Torcida Organizada do Vasco, mais conhecida como TOV. Com o passar dos anos essas torcidas foram perdendo suas forças e o hábito das torcidas “jovens” foi começando a dominar o cenário das arquibancadas. Uma combinação de fatores atravessava esse processo: o entusiasmo juvenil para apoiar o time, a disposição — e a energia — para enfrentar qualquer situação, inclusive a violência, e, sobretudo, a busca por pertencimento a um coletivo. A título de referência sobre este fato, Bernardo B. B. de Hollanda (2016) descreve a partir do exemplo de algumas torcidas da época, algumas torcidas cariocas:
Assimilando parte da efervescência da época, torcidas como o Jovem-Flu, o Poder Jovem do Flamengo e o Poder Jovem do Botafogo nasciam sob o signo da rebeldia e da contestação juvenil. Se as Charangas e as Torcidas Organizadas se restringiam ao princípio de “apoio incondicional” ao time, suas dissidências, as “Torcidas Jovens, criticavam os dirigentes, questionavam o desempenho das equipes e punham em xeque a atuação do antigo chefe de torcida do mesmo time. Com isto, invertiam a concepção inicial de torcida organizada até então, vaiando, fazendo passeatas e protestos.
O simples ato de apoiar o clube e animar as arquibancadas deixou de ser o único propósito das novas torcidas organizadas. Elas não se satisfaziam apenas com isso; buscavam mais, almejavam ser reconhecidas como as mais poderosas, respeitadas e temidas. Um exemplo evidente da busca por imponência por parte dessas torcidas está na escolha de seus nomes, que frequentemente remetem a temas ligados à gramática da guerra e do poder. É comum encontrar torcidas com denominações como “Fúria”, “Ira”, “Força”, “Império”, “Guerrilha”, “Terror”, “Guerreiros”, “Imbatíveis”, “Falange”, “Máfia”, “Inferno”, entre outras. O que une todos esses nomes é a evocação de força, respeito e grandiosidade — elementos que, de forma direta ou simbólica, dialogam com a violência. Assim, desde a escolha de suas denominações, frequentemente carregadas de alusões a confrontos ou potência física, já se evidencia essa lógica, por meio da qual muitas torcidas buscam conquistar a admiração e o destaque que desejam.
Além da estrutura administrativa, as torcidas passaram a contar com divisões estratégicas focadas em enfrentar os grupos adversários nos embates. Dessa forma, no interior de cada torcida foram surgindo subdivisões — como Pelotões, Famílias, Núcleos e outros segmentos — responsáveis por diferentes funções, incluindo a proteção de materiais, como faixas e instrumentos musicais. Esse processo acabou produzindo uma estrutura interna cada vez mais hierarquizada, aproximando a organização das torcidas de uma lógica de militarização.
Mesmo nas décadas de 1970 e 1980, já havia registros da ocorrência de brigas entre torcedores, embora, naquela época, esses confrontos se limitassem a lutas corporais, sem a utilização de armas brancas ou de fogo. Foi nesse período que o problema começou a ganhar forma, mas as autoridades responsáveis deixaram de adotar medidas efetivas para contê-lo desde o início. Essa inação permitiu que a situação se agravasse e se expandisse ao longo do tempo. Com o passar dos anos, os conflitos se tornaram mais frequentes, e a agressividade dos envolvidos aumentou significativamente. Se no princípio os embates ocorriam apenas com o uso das mãos, posteriormente passaram a incluir objetos como barras de ferro, pedaços de madeira, pedras, facas e, em alguns casos, até armas de fogo.
Os anos 1990 ficaram marcados como o período em que a violência entre torcidas organizadas se intensificou. Foi nessa época que os torcedores começaram a recorrer a paus e pedras como armas durante os confrontos. Como resultado, houve um aumento considerável no número de vítimas fatais ou pessoas que sofreram sequelas físicas permanentes. Um acontecimento que simbolizou o início dessa era violenta foi o assassinato de Cleofas Sóstentes da Silva, um dos fundadores da Torcida Mancha Verde (torcida organizada do Palmeiras), em 1988. Apesar de as investigações policiais não terem identificado os responsáveis, integrantes da torcida acreditam que o crime foi motivado por uma represália de uma torcida rival após um confronto anterior. Esse assassinato representou um verdadeiro divisor de águas. Até então, vigorava entre as torcidas uma espécie de “código de conduta” que interditava o uso de armas. Após o ocorrido, contudo, abriu-se um precedente perigoso, e a utilização de instrumentos letais em confrontos passou a se tornar cada vez mais recorrente. Até hoje, o caso permanece sem solução, e nenhum envolvido foi identificado.
O PAPEL DO POLICIAMENTO EM ESTÁDIOS — E A RESISTÊNCIA DAS RUAS
O histórico de despreparo e abordagem repressiva das forças policiais em nossa sociedade é amplamente conhecido; no futebol essa realidade não é diferente. Casos de intervenções inadequadas por parte da polícia ocorrem com frequência e evidenciam que, com um treinamento mais adequado, seria possível reduzir significativamente os episódios de violência — não apenas aqueles relacionados ao esporte, mas também os que marcam o cotidiano mais amplo das dinâmicas urbanas. No contexto aqui apresentado, enquanto de um lado existem torcedores organizados que buscam o confronto entre si, do outro, há a atuação de um contingente policial mal preparado, que frequentemente agrava a situação diante da responsabilidade de solucioná-la.
Eventos esportivos reúnem multidões, o que exige que os profissionais de segurança pública sejam devidamente capacitados para lidar com essas situações. Contudo, o que se observa na prática, são policiais equipados com sprays de pimenta, bombas de gás e balas de borracha, utilizando essas ferramentas de forma desordenada e, em muitos casos, atingindo inocentes que não têm ligação com os eventos potencialmente violentos ocorridos. O policiamento deveria adotar uma postura preventiva, mas, no Brasil, é predominantemente reativo e repressivo, o que não só deixa de solucionar os conflitos, como também os intensifica.
Há inúmeros relatos de uso desproporcional da força policial, resultando em tragédias que poderiam ter sido evitadas com melhor preparo. Um exemplo marcante ocorreu em 2017, durante um clássico entre Vasco e Flamengo, quando, nos arredores do Estádio de São Januário, um tumulto entre torcedores vascaínos terminou com um disparo fatal de um policial militar, que atingiu um torcedor no abdômen, levando-o a óbito. É notório que fatos como esse evidenciam a urgência de um treinamento mais eficaz e uma capacitação adequada para os agentes de segurança que atuam neste campo, sendo mais do que perceptível que a repressão, como tem sido aplicada, não contribui para resolver o problema da violência no futebol, pelo contrário, o torna um ambiente ainda mais violento.
Especificamente no estado do Rio de Janeiro, o aumento da violência nos estádios, desde os anos 1990, levou à criação de uma força policial especializada para lidar com essas situações, resultando no surgimento do, até então, Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (GEPE), em 1991. Inicialmente denominado Grupo de Vigilância em Estádios, foi idealizado durante a gestão do coronel Cerqueira como Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O grupamento surgiu ainda com o objetivo de compreender o fenômeno das torcidas organizadas por meio de estudos e treinamentos voltados aos policiais que o integravam.
Durante o mandato de Leonel Brizola (PDT) à frente do governo do Rio de Janeiro, a Polícia Militar adotou um modelo de policiamento baseado na proximidade com a comunidade e na defesa dos Direitos Humanos. Nesse contexto, foram criados centros comunitários e grupamentos específicos, como os voltados para o turismo e para os estádios. Inicialmente, a segurança nos jogos era responsabilidade do batalhão local, que destacava parte de seu efetivo para o estádio, sem treinamento especializado para a função. Após a implementação do GEPE, sua atuação se restringia ao Complexo Desportivo do Maracanã, mas logo foi ampliada para eventos esportivos, culturais e artísticos em todo o estado do Rio de Janeiro.
Em junho de 1995, durante o governo de Marcello Alencar (PSDB), o GEPE foi extinto por decisão da Secretaria Estadual de Segurança Pública, segundo arquivos internos do Grupamento cedido a este estudo em vias exclusivas. Contudo, foi recriado em 20 de janeiro de 1999, durante o governo de Anthony Garotinho (PDT), em resposta às demandas da população e da imprensa, diretamente ligadas ao novo aumento dos índices de violência e números de mortes na cidade do Rio de Janeiro. A refundação ocorreu no contexto de um amistoso entre Flamengo e Fluminense, marcando a reabertura da geral do Maracanã após quatro anos. A formalização do ato, entretanto, só foi oficializada em 3 de fevereiro de 1999. Já em 31 de julho de 2018, durante o governo de Luiz Fernando Pezão (PMDB), o GEPE foi transformado em Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) pela resolução SESEG nº 1.213, publicada no Diário Oficial. Essa transição ocorreu sem aumento de efetivo ou custos, sendo resultado de um processo de aprimoramento contínuo desenvolvido ao longo dos anos sob diferentes comandos.
Diversas medidas ineficazes foram adotadas pelas autoridades na tentativa de combater a violência no futebol. Entre elas estão a proibição de bandeiras com mastros, a suspensão de torcidas organizadas, a imposição de torcida única em clássicos e a perda de mando de campo. Embora essas práticas visem reduzir os conflitos, elas geralmente não atingem os torcedores que de fato causam os problemas, penalizando de forma ampla clubes e torcedores que apenas desejam aproveitar o evento esportivo. Hoje os clubes de maior investimento contam com uma moderna aparelhagem de monitoramento e reconhecimento facial para entrada nos estádios, táticas implementadas com a justificativa de auxiliar os órgãos responsáveis a manterem a segurança nesses espaços, coibindo situações de brigas. Contudo, nos clubes de menor investimento, seguimos com ingressos de papel e um baixo efetivo para coibir possíveis situações de violência em qualquer magnitude.
Essa assimetria na infraestrutura de segurança produz consequências que vão além da mera discrepância administrativa entre clubes. Ela aprofunda desigualdades já existentes no modo como diferentes torcidas são tratadas pelo poder público e pelas próprias instituições esportivas, sobretudo porque os estádios com menos recursos geralmente atendem públicos mais populares, onde a presença de torcedores das periferias e favelas é mais expressiva. A implementação de tecnologias avançadas em uns e a precariedade estrutural em outros criam regimes distintos de vigilância e responsabilização, nos quais determinados grupos são mais suscetíveis a abordagens seletivas e erros de identificação. Além disso, ao transformar o monitoramento em pré-requisito para o acesso ao espetáculo, corre-se o risco de deslocar o foco da prevenção dialógica e comunitária de conflitos para uma lógica de controle que intensifica o distanciamento entre instituições e torcedores, e que tende a reforçar estigmas históricos sobre quem representa perigo.
A introdução de dispositivos de vigilância como circuitos fechados de TV integrados a sistemas de reconhecimento facial, catracas biométricas e bases de dados conjuntas entre clubes, empresas privadas e órgãos de segurança pública intensifica questões técnicas e normativas que merecem escrutínio. O CESeC e pesquisas etnográficas recentes mostram que o reconhecimento facial não é neutro tecnologicamente nem socialmente: algoritmos podem reproduzir vieses, apresentar taxas de erro diferenciadas segundo raça e idade, e operar sem consentimento claro ou garantias adequadas de minimização de dados. Além disso, a imposição legal de certas tecnologias — mediada por normas recentes relacionadas ao setor esportivo e por protocolos de órgãos reguladores, cria obrigações operacionais que poucas vezes vêm acompanhadas de estudos de impacto de privacidade, de cláusulas robustas de governança de dados ou de mecanismos independentes de auditoria. Assim, as tecnologias que prometem “segurança” frequentemente implicam transferência de responsabilidade para soluções técnicas, deslocando do debate público as alternativas não tecnológicas de prevenção e reparação.
As consequências desse arranjo são múltiplas e demandam respostas que articulem direitos, responsabilidade estatal e participação comunitária. Relatos e investigações apontam riscos concretos: usos indevidos de imagens (incluindo crianças), retenção prolongada de dados, compartilhamento com atores não transparentes e criminalização simbólica de torcedores de periferia, efeitos que aprofundam estigmas já existentes e fragilizam a confiança nas instituições.
Por outro lado, estudos comparativos e análises críticas recomendam que qualquer estratégia de segurança seja acompanhada de avaliações de impacto de direitos humanos, regras claras sobre minimização e retenção de dados, transparência dos algoritmos e canais efetivos de recurso para pessoas identificadas erroneamente, bem como da priorização de políticas públicas que atuem sobre as causas estruturais da violência, como desigualdade, exclusão e violência institucional. Nesse sentido, as recomendações consolidadas por organizações acadêmicas e de direitos digitais sublinham que a segurança legítima em eventos esportivos deve conciliar proteção física com garantias jurídicas e democráticas, evitando que a busca por controle tecnológico venha a produzir novas formas de vulnerabilidade para as populações periféricas.
Para além dos estádios, entretanto, o futebol constitui um campo fundamental de sociabilidade, especialmente nas favelas, onde sua prática ultrapassa a dimensão esportiva e assume valores comunitários, culturais e afetivos que nenhuma tecnologia de vigilância é capaz de captar. É nas quadras das favelas, nos campinhos de terra, nos becos improvisados com “golzinho” e nas escolinhas comunitárias que o futebol opera como mediador de convivência, como dispositivo de encontro e como linguagem social compartilhada. Ali, ele estrutura rotinas, cria referências de pertencimento, fortalece redes de solidariedade e oferece horizontes de possibilidade para crianças e jovens que enxergam no jogo não apenas lazer, mas um espaço de reconhecimento e circulação simbólica. Essa sociabilidade, forjada fora das grandes arenas e distante do elitismo que se impõem aos estádios, revela que o futebol continua sendo, sobretudo nas favelas, uma prática que organiza a vida coletiva, produz vínculos e reinventa formas de existência que resistem às tentativas de reduzir o esporte a um problema de segurança pública.
Um evento que marca a representatividade do futebol em território de favelas é a Taça das Favelas, um torneio organizado pela CUFA e produzido pela InFavela, empresa pertencente à Favela Holding. É o maior campeonato de futebol entre favelas do mundo, com apoio da TV Globo e outros grandes patrocinadores. No Rio, mais de 240 favelas estão vinculadas ao projeto. Apesar do cunho esportivo, a Taça das Favelas não se limita apenas ao futebol, mas se configura como um importante fator de integração social para os jovens das periferias, uma vez que oferece, antes do início dos jogos, workshops sociais para jogadores e técnicos, com temáticas como cuidados com a alimentação e educação financeira.
O FENÔMENO DAS TORCIDAS ORGANIZADAS EM CLUBES DE MENOR INVESTIMENTO
Um fato que chama atenção, especificamente no Rio de Janeiro, é a migração de torcedores organizados de times grandes para as torcidas de clubes de menor investimento. Alguns motivos passam a ser compreendidos, como a questão do bairro e das amizades. Um grupo de amigos de infância que gostam de futebol e residem em Bonsucesso, por exemplo, se reúne para assistir aos jogos desse clube de bairro que por vezes disputa divisões inferiores com ingressos bem mais baratos. Nesse caminho se cria uma torcida ou se integra uma torcida já existente.
Se, entre os clubes de maior investimento, as torcidas organizadas envolvidas em episódios de violência remontam às décadas de 1970 e 1980, no caso das equipes de menor investimento suas fundações são bem mais recentes. A mais antiga é a Torcida Jovem do Olaria, criada em 1998. Na sequência, surgem: a Torcida Super Bangu (2002), a Garra Jovem do São Cristóvão (2006), a Torcida Organizada Garra Alvinegra do Americano (2006), a Infernizada Tricolor do Duque de Caxias (2007), a Super Galo do Campo Grande (2008), a Torcida Rubro-Anil do Bonsucesso (2009), a Torcida Jovem Goyta (2009) e a Torcida Jovem do Madureira (2010).
Cabe destacar ainda a Torcida Inferno Rubro, do América, fundada em 1971 — portanto, contemporânea das grandes torcidas dos clubes de maior apelo popular, já que à época o América disputava as primeiras divisões e rivalizava com os principais clubes do estado. Contudo, atualmente, essa torcida segue a lógica das demais vinculadas a clubes de menor investimento e é composta majoritariamente por jovens oriundos de torcidas organizadas de times de maior expressão.
Diante dos estudos apresentados, é possível notar que a dimensão financeira desempenha um papel importante na migração de torcedores para clubes de menor investimento. Nas grandes torcidas, o caminho até posições de diretoria costuma ser mais longo e competitivo, ao contrário do que ocorre nas torcidas menores, onde o reduzido número de integrantes facilita a ascensão interna. Jovens mais violentos, que conquistam espaço inicialmente pela força física, muitas vezes encontram barreiras para ocupar cargos de maior prestígio nas torcidas tradicionais, já preenchidos por membros experientes e com longa trajetória no movimento. Nas torcidas pequenas, ao contrário, esses jovens tornam-se praticamente fundadores, o que lhes garante acesso privilegiado ao caixa, aos materiais e aos ingressos distribuídos pelas diretorias.
Contudo, observa-se que o fator mais decisivo para o crescimento das torcidas de menor investimento é a violência praticada “por prazer”. Trata-se do hábito de brigar independentemente do local, movido pela adrenalina e pela repetição da prática. Esse impulso, associado ao menor efetivo policial nos jogos de clubes periféricos, transforma esses espaços em uma nova arena de confrontos. Muitas dessas torcidas, que por vezes sequer entram nos estádios, deslocam-se até as partidas com o objetivo explícito de provocar tumultos. Nessa lógica, a motivação central deixa de ser o futebol: o que se torna prioritário é a prática da violência em si, pela excitação que ela produz, qualquer que seja o cenário. Alguns casos são simbólicos nesse tema, como o do torcedor do Olaria que perdeu a mão direita ao acender uma bomba caseira que seria arremessada em direção aos torcedores rivais durante a briga. O ocorrido foi no ano de 2015, onde as tensões atingiram seu ápice principalmente pela rivalidade ali imposta que já havia se desdobrado em confusões nos anos anteriores.
O REFLEXO DA SOCIEDADE COMO UM TODO
A compreensão do cenário esportivo demanda uma perspectiva ampliada que considere a complexidade das dinâmicas sociais que o atravessam e moldam seus contornos. A violência, embora multifacetada em suas origens, é reconhecida como um fenômeno profundamente enraizado nas relações sociais, resultado de processos históricos, culturais e institucionais que se entrelaçam no cotidiano. Por isso, qualquer análise que busque explicar sua incidência no esporte precisa ultrapassar os limites físicos dos estádios e das competições, alcançando camadas mais profundas da vida social. Ao ampliar esse campo de investigação, torna-se evidente que valores, normas e padrões de socialização influenciam diretamente a forma como indivíduos e coletividades lidam com conflitos, expressam tensões e constroem sentidos em torno da prática esportiva, o que reforça a necessidade de interpretar o fenômeno de maneira articulada e não isolada.
Quando direcionamos esse olhar para a relação específica entre violência e eventos esportivos, sobretudo no contexto do futebol, emerge uma constatação relevante: ainda são escassos, no Brasil, os estudos que se dedicam a compreender de modo sistemático quem são os torcedores envolvidos em episódios de confronto, quais trajetórias sociais os atravessam e como determinadas condições de vida favorecem ou inibem comportamentos violentos. Essa lacuna contrasta com o acúmulo de pesquisas internacionais, como descreve Bernardo B. B. de Hollanda (2021) em seus estudos sobre os hooligans na Inglaterra, evidenciam como a violência ligada ao futebol não ocorre de maneira espontânea, mas se conecta de forma profunda às maneiras como diferentes grupos sociais se inserem na sociedade, às desigualdades que estruturam suas experiências e aos modos de socialização que moldam sua relação com o esporte. Tais estudos indicam que agressividade, rivalidade e disputa simbólica são atravessadas por elementos culturais e institucionais que variam conforme o contexto, o que torna indispensável considerar essas nuances para compreender o fenômeno em toda a sua complexidade.
Além disso, existem investigações de forma comparativa que discursam como identidades coletivas e rituais de torcida influenciam comportamentos violentos e não-violentos, como Giulianotti, R., Bonney, N., e Hepworth, M. (1994) apontam, o que mostra que as dinâmicas internas das comunidades de torcedores e as relações estabelecidas entre seus membros e as identidades sociais construídas nesses espaços desempenham papel central na produção ou mitigação de episódios de violência. Esses elementos ajudam a explicar por que determinados grupos desenvolvem padrões de comportamento mais propensos ao conflito, enquanto outros manifestam formas de pertencimento baseadas no apoio mútuo, na celebração coletiva e no compartilhamento de valores menos associados à agressividade. Compreender essas interações é fundamental para avançar na análise das tensões que emergem no ambiente esportivo e, sobretudo, para fundamentar políticas públicas e ações educativas que reconheçam a complexidade do tema, propondo caminhos que dialoguem com a realidade das torcidas, as condições sociais que as formam e os significados simbólicos que conferem ao esporte.
Referências
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
CECCHETTO, Fátima Regina. Violência e estilos de masculinidade. Rio de Janeiro: FGV, 2004.
DA MATTA, Roberto. As raízes da violência no Brasil: reflexões de um antropólogo social. In: Violência brasileira. São Paulo: Brasiliense, p. 11-44, 1982.
DOWDNEY, Luke. Nem guerra, nem paz. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2004.
GALEANO, Eduardo. Futebol ao Sol e à Sombra. Trad. Eric Nepomuceno e Maria do Carmo Brito. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2010.
GIULIANOTTI, Richard; BONNEY, Norman; HEPWORTH, Mike. (Eds.). Football, Violence and Social Identity. Routledge. 1994.
HOLLANDA, Bernardo Borges Buarque de. A formação das torcidas organizadas de futebol do Rio de Janeiro: uma leitura de sua dinâmica histórica a partir das fontes impressas do Jornal dos Sports (1940-1980). BRASILIANA – Journal for Brazilian Studies, v. 5, n. 1, p. 383, 2016.
HOLLANDA, Bernardo Borges Buarque de. Os estudos do futebol na Inglaterra: um balanço bibliográfico da produção acadêmica sobre hooliganismo. História da Historiografia: International Journal of Theory and History of Historiography, v. 14, n. 35, 2021.
LOURO, Guacira Lopes. Um corpo estranho: ensaios sobre sexualidade e teoria queer. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.
MEYER, Dagmar E. Estermann. Gênero e educação: teoria e política. In: LOURO, Guacira Lopes; NECKEL, Jane Felipe; GOELLNER, Silvana Vilodre (orgs.). Corpo, gênero e sexualidade: um debate contemporâneo. Petrópolis: Vozes, 2003. p. 9-27.
NETTO, Alfredo; JUNIOR, Constantino; BARROS, Solange. A violência no futebol à luz da teoria eliasiana. Revista Digital, ano 14, n. 132, 2009.
PIMENTA, CAM. Violência entre torcidas organizadas de futebol. São Paulo em Perspectiva, São Paulo: Fundação SEADE, p. 125, 2000.
SOUSA, Raquel; LEITE, Gabriel; LIMA, Thallita; CRUZ, Thaís; NUNES, Pablo. et al. ESPORTE, DADOS E DIREITOS: O USO DE RECONHECIMENTO FACIAL NOS ESTÁDIOS BRASILEIROS. Rio de Janeiro: CESeC, 2024.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.
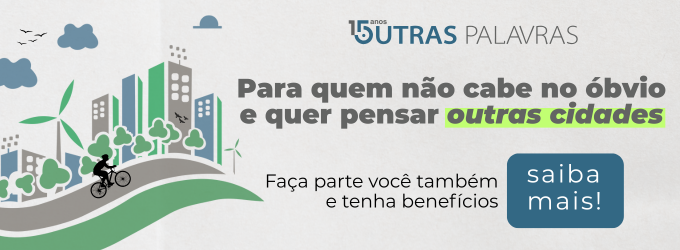
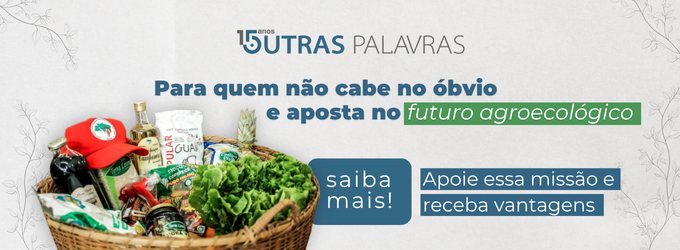
Privilegiado de conhecer esses dois, que conteúdo rico.