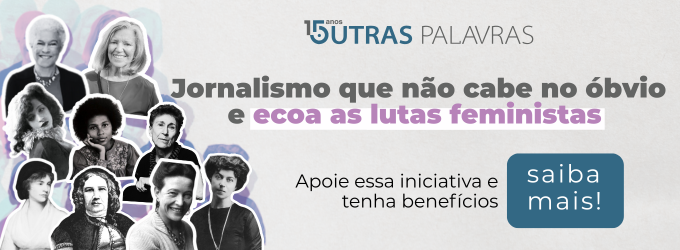Saúde mental na democracia das chacinas
Os serviços de atendimento são precários e muitas vezes violentos. As queixas não são legitimadas. Frequentemente, resultam em diagnósticos superficiais e prescrição de remédios psiquiátricos. Como responder ao sofrimento dos que sobreviveram à barbárie?
Publicado 12/11/2025 às 09:00 - Atualizado 17/12/2025 às 18:28

Título original: Na democracia das chacinas, qual o papel da saúde mental?
“Eu fico parindo a dor do meu filho morto todos os dias, porque é a dor de um ser humano que não volta mais”: essa frase poderia ser proferida por uma das diversas mães da última chacina no Rio de Janeiro, mas aparece no livro “Na mira do fuzil: a saúde mental das mulheres negras e questão” 1. No decorrer dos capítulos desta obra é possível ler diferentes depoimentos que narram a dor e a dilaceração ocasionada pelo estado permanente de guerra, tendo a “Guerra às Drogas” a sua principal justificativa, revelando uma certa autorização social, política e econômica para o extermínio, demonstrando que o vivido no mês passado retrata mais um estado permanente de guerra do que algo pontual.
No dia 28 de outubro de 2025, a megaoperação policial realizada declarava o intuito de combater o tráfico nos Complexos da Penha e do Alemão. Como foi extensamente noticiado, foram 121 mortes, dentre policiais e civis, inclusive com marcas de tortura e decapitação. Além disso, grande parte dos mortos foram encontrados em um terreno – que fica localizado entre as favelas – e expostos pela população em praça pública.
Gostaríamos de abordar uma outra questão desta tragédia: como fica a saúde mental de todos e todas aqueles que sobrevivem a esta barbárie?
Primeiramente, é fundamental destacarmos que vivemos em uma democracia que tem como premissa a eliminação, o descarte e a subjugação de parte da população. A dinâmica da destruição é base de sustentação da reprodução do modo de produção capitalista e tem a racialização como justificativa para modular o perfil do criminoso. Ou seja: o “inimigo” é negro, pobre e favelado. Dessa forma, temos a propagação do medo e de estratégias de controle, inclusive através da operacionalização do cuidado em saúde e saúde mental.
Leia todos os artigos da coluna Saúde É Coletiva, da Abrasco
Se não bastasse a opressão, pobreza e violências diárias vividas pelas comunidades das favelas, que são por si só são determinações sociais e importantes causadores de problemas de saúde mental2, a inexistência de políticas públicas para o cuidado destas populações agrava o quadro. Dados preliminares do “Censo Psicossocial dos usuários dos serviços de saúde mental do estado do Rio de Janeiro” realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde coletou informações de mais de 500 trabalhadores de saúde mental que atuam no Sistema Único de Saúde. No estudo, o tipo de violência mais recorrente nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) é a armada. Dessa maneira, as balas atravessam não apenas literalmente, mas também se fazem presentes como causa de sofrimento dos usuários do sistema. Essas queixas predominam em 7 das 9 regiões de saúde do estado.
Há ainda uma ressalva: o acesso da população negra a estes serviços tem sido demasiadamente precário e insuficiente. Afinal, a maior parte dos serviços de saúde (apesar dos avanços da reforma psiquiátrica) ainda é escasso para as populações vulnerabilizadas. Mesmo quando o acesso acontece, a queixa e sofrimento muitas vezes não são acolhidos considerando a realidade vivida pela pessoa – mas apenas pela lente diagnóstica.
Assim, massacre vira “Transtorno de Estresse Pós-traumático”, medo de sair de casa devido tiroteio vira “Agorafobia” e violências devido ao racismo viram “Transtorno de Ansiedade Generalizado”. Todos, diagnósticos. Para cada diagnostico, uma solução simples, uma prescrição. Com o estado permanente de guerra instalado, é urgente qualificar a escuta e a abordagem das equipes de saúde e o cuidado em saúde mental viabilizado nos serviços. As famílias de vítimas da violência armada ficam no limbo da atenção psicossocial não sendo reconhecidas como perfil de atendimento dos CAPS e quando são acolhidas, tem o seu sofrimento reduzido a queixas e sintomas.
Frantz Fanon, psiquiatra e filosofo que influenciou estudos anticoloniais e a teoria crítica na saúde mental, em seu livro “Medicina e Colonialismo” mostra como as instituições e o trabalho do profissional em saúde podem ser utilizados para reprimir e destituir a humanidade dos colonizados ou dos povos marginalizados. Se por um lado não se legitima a dor ocasionada pela violência como um problema a ser escutado e acolhido, por outro, a redução do dilema a sintomas também exclui da esfera analítica o manejo do entorno racista e violento em que essas comunidades estão inseridas. Estudos apontam, por exemplo, que pessoas negras recebem prescrições de quantidades e dosagens maiores de medicamentos psiquiátricos, mas têm menos probabilidade de receber outros tipos de tratamentos não farmacológicos em comparação com pessoas brancas4.
Trata-se de reconhecermos o lugar da saúde mental como produtora de cuidado e também como estratégia de resistência. Uma Política de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, sustentada pelos princípios da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial tem como premissa os Direitos Humanos, a Desinstitucionalização e o Cuidado em liberdade. Preza por uma abordagem que levanta, problematiza e dialoga com as incidências de outras políticas públicas, e não apenas a saúde.
Dessa maneira, indagamos: Qual noção de direitos humanos direciona o cuidado em saúde mental? Somos operadores da vida ou da destruição? Somos silenciadores de sofrimentos ou acolhedores de pessoas? “Eles combinaram de nos matar, nós combinamos de não morrer”5.
- Passos, R.G. Na mira do fuzil, a saúde mental das mulheres negras em questão. 2023, Editora Hucitec, 1a Edição.
- Damasceno MG, Zanello VML. Saúde Mental e Racismo Contra Negros: Produção Bibliográfica Brasileira dos Últimos Quinze Anos. Psicol cienc prof [Internet]. 2018Jul;38(3):450–64. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1982-37030003262017
- Fanon, F Medicina e Colonialismo. Medicina e colonialismo. Editora Terra Sem Amos: Brasil, 2020.
- French, A et al. Racial and Ethnic Differences in Psychotropic Prescription Receipt Among Pediatric Patients Enrolled in North Carolina Medicaid. Psiquiatry Services. 73(12). 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1176/appi.ps.20210047
- Evaristo, Conceição. A gente combinamos de não morrer. In.: Olhos d’Água. Rio de Janeiro: Pallas, 2015.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.