O fracasso da Estratégia Trump
Seis meses após o tarifaço, surgiram novos circuitos comerciais. Têm como centro o Sul Global, são impulsionados pela China e não se orientam apenas pelos mercados. Brasil tarda a dar-se conta, em parte porque a mídia está em fixação com os EUA – hoje em clara decadência
Publicado 09/10/2025 às 17:57 - Atualizado 10/10/2025 às 08:27
Poucos assuntos provocam hoje tanto frisson na mídia brasileira quanto a expectativa de negociações comerciais entre EUA e Brasil. Por semanas, especulou-se sobre o cenário de um possível encontro Lula-Trump. O fato de os dois presidentes terem falado apenas por telefone gerou claro desapontamento. Mas as manchetes voltaram a transpirar excitação nesta quinta-feira (9/10), quando se anunciou, em Brasília e Washington, um encontro em breve entre o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o chanceler brasileiro, Mauro Vieira.
Poucas atitudes poderiam ser mais colonizadas. Seis meses após Donald Trump decretar um tarifaço contra dezenas de países (e apelidá-lo, com grandiloquência, de Liberation Day) abundam sinais de que foi um ato muito menos relevante do que previa quem o promulgou. Pior: o tiro saiu, em boa medida, pela culatra. Em resposta, começaram a ser tramadas, em distintas partes do mundo, relações comerciais novas, que contornam as restrições de Trump, ou vão ainda adiante, ao contrariarem os interesses econômicos e geopolíticos dos EUA. Nesta tessitura, o Sul Global aparece com destaque e a China é, provavelmente, o motor principal.
A perda, por Washington, de sua antiga centralidade, foi exposta em 9/9 numa matéria da revista Economist. Os EUA já vinham perdendo importância antes de Trump, aponta o texto. Sua participação no comércio internacional caiu de 1/5 das transações totais para 1/8, ao longo deste século – um recuo de 37,5%. O gesto arrogante do presidente precipitou a busca de alternativas antes pouco prováveis. Em 18/9, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, recebeu o primeiro ministro do Canadá, Mark Carney para debater integração das cadeias produtivas dos dois países e investimentos comuns em infraestrutura e inteligência artificial. Ignoraram os EUA, deixando de fora o parceiro que, nos anos 1990, promoveu a zona de livre comércio da América do Norte (Nafta) e chegou a sonhar em estendê-la à América Latina.
Em gesto ainda mais inusitado, os presidentes da China (Xi Jinping) e da Índia (Narendra Modi) reuniram-se em 31/8, concluíram ter “mais consensos que divergências” e abriram uma agenda de negociações futuras. Seria impensável há três anos. Então, Pequim e Délhi, que mantêm rivalidade histórica envolveram-se numa guerra fronteiriça (no Himalaia) que durou poucos dias, mas custou dezenas de vidas. A reaproximação é outro presente indesejado de Trump. Quando o ocupante da Casa Branca impôs à Índia tarifas de 50%, a China – alternativa óbvia – estendeu o tapete vermelho.
A China tem sido, aliás, continua o texto de Economist, tanto o maior beneficiário quanto o país que reage mais proativamente às ações de Trump. Suas exportações aos EUA, naturalmente, despencaram. Representavam 15% das vendas externas do país, já caíram para 10% e deverão minguar para 5% em mais três anos. Está em curso um desacoplamento. Mas, ao contrário do que previa o homem do cabelo laranja, Pequim não sofreu com isso. Suas exportações globais – já de longe as maiores do mundo – deram um novo salto, de 7%, desde o tarifaço. E seu comércio internacional voltou-se para os países do Sul. As trocas com o Sul da Ásia avançaram 9,1%; as com a Rússia agora são o dobro do que foram em 2020; com a África, saltaram 12,4%, também em 6 meses; e com a América Latina (excetuado o México), já são duas vezes maiores que as norte-americanas – apesar da enorme distância geográfica.
Os dois circuitos comerciais divergentes
Em outro texto indispensável para compreender a mudança de ventos, Hua Bin, um analista geopolítico chinês, constrói a teoria dos dois circuitos comerciais divergentes: o que Trump tenta presidir e o que a China articula com foco no Sul Global. O círculo norte-americano é dominado, diz ele, pelas lógicas de mercado e, agora, pela atitude de imperialismo aberto do presidente dos EUA. Washington exige de seus parceiros, para não submetê-los a tarifaços, abertura total às exportações norte-americanas. Obriga-os a adquirir forçosamente produtos vendidos com sobrepreço (é o caso do gás natural liquefeito, que a Europa submeteu-se a comprar). E ainda cobra (do Japão e da Coreia, por exemplo), investimentos em seu território.
Pequim tem atuado em sentido oposto. Ainda em abril, zerou as tarifas de importação que ainda persistiam sobre os produtos dos 53 países africanos. E além de redirecionar, como se viu, tem multiplicado investimentos em infraestrutura e tecnologia. As reservas internacionais de divisas do país, cerca de 3,3 trilhões de dólares, estão sendo retiradas rapidamente dos títulos norte-americanos, onde restam apenas US$ 750 bi. Parte dos recursos – e o enorme superávit comercial chinês – têm sido reciclados para o Sul Global. Nos primeiros seis meses desse ano, reconhece Economist, foram firmados contratos de investimento de 120 bilhões de dólares. Só na África, são US$ 30 bilhões, cinco vezes mais que no ano passado. Além dos projetos de investimento direto, há empréstimos financeiros, em condições muito diferentes das do rentismo. A China empresta aos seus parceiros das Novas Rotas da Seda — Bolívia e Gana por exemplo – a taxas de 4% ao ano. É menos que os 4,28% que o governo dos Estados Unidos paga, quando toma dinheiro emprestado dos próprios bancos norte-americanos – e muito menos que os 15% da Taxa Selic, no Brasil.
Hua Bin chama atenção para condições distintas em outros domínios – o da tecnologia, por exemplo. Em inteligência artificial, ao contrário das big techs americanas, a China está desenvolvendo todos os seus modelos em código aberto, o que significa que podem ser facilmente replicados e adaptados pelos países que o desejarem. Chega a ser aviltante que, diante disso, a mídia brasileira sugira acordos com os Estados Unidos, e o próprio governo pense em conceder, por meio do Redata, vantagens fiscais às corporações norte-americanas que desejem instalar aqui os seus data centers, sem nenhuma transferência de tecnologia.
O Brasil, vale dizer, já comercia muito com a China. As trocas entre os dois países são duas vezes maiores que as que mantemos com os Estados Unidos. O problema é que a pauta atual do comércio está dominada pelo agronegócio e pelas mineradoras. O país exporta basicamente produtos primários: soja e minério de ferro, em especial. Importamos tecnologia, produtos industriais e serviços sofisticados.
Há enorme abertura para uma relação diferente, desde que o Estado e a sociedade brasileira despertem para isso. O Brasil é um país do Sul Global com importância geopolítica destacada e a China sabe disso. Não se trata de pedir favores. Mas de propor um relacionamento diferente. Ele pode implicar, por exemplo, reconstrução industrial brasileira, em parcerias tecnológicas envolvendo soberania digital – livrando o Brasil da captura dos dados pelas big techs norte-americanas –, em projetos para a Amazônia ligados ao desmatamento zero e a atividades econômicas que mantenham a floresta em pé e ofereçam melhores oportunidades à população da região. Até mesmo em acordos na área da Defesa, que permitam superar a dependência em relação aos Estados Unidos neste campo tão sensível.
As oportunidades são muito vastas e precisam ser exploradas com inteligência e criatividade. As eleições de 2026 são um momento especialmente rico para debater as relações econômicas e geopolíticas com o exterior. O pré-requisito é o Brasil abrir mão da condição subalterna. Para isso, é preciso furar o bloqueio da velha mídia, conhecer o cenário além dos mitos e abandonar a ideia de que não há vida além dos Estados Unidos.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras


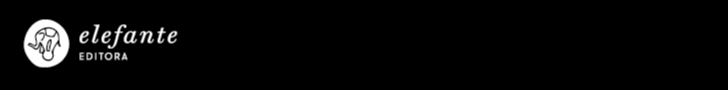
Prezados, tudo isso é muito interessante e poderia ser de grande proveito para os brasileiros se tivéssemos uma elite que realmente tivesse uma visão de futuro para o pais. Que pretendesse desenvolver o país de fato através de um planejamento de longo prazo e multianual.
Ocorre que estas elites empresariais e acadêmicas, na sua esmagadora maioria, foi treinada não a refletir, sopesar e agir. Mas agir objetivando extrair a maior quantidade de lucro possivel no menor espaço-tempo possível.
Não que o Brasil nunca tenha enfrentado isso. Aliás ele foi ocupado pela Europa como um investimento mercantilista de produção massificada de açúcar, utilizado como reserva de valor e já naquele tempo uma importante comodity. Talvez a exploração portuguesa de sua colônia tenha sido a primeira experiência transnacional do mundo.
Todas as características básicas do capitalismo já estão presentes e, afora os povos originários, nunca ouve o cuidado de preservar alguma coisa da colonia, expropriada em todas as dimensões da vida.