IA e Universidade: Modos de (não) usar
Afã de “não ficar para trás” e pressões por desempenho induzem à adoção acrítica da nova tecnologia. Não vale a pena rechaçá-la. Mas é preciso resistir ao risco de que respostas fáceis nos privem do ato complexo, árduo e maravilhoso de pensar
Publicado 03/10/2025 às 20:03 - Atualizado 23/12/2025 às 17:50

Por Tomás Bril Mascarenhas e Javier Burdman, na Revista Anfibia
O ser humano está diante de uma tentação irresistível. A todo momento, basta um comando (prompt), para colocar nas mãos de uma máquina aquilo que parece ser sua essência: a capacidade de pensar. Como acontece diante de todo choque que muda repentinamente o mundo que se conhecia, logo surge um exército de adeptos precoces que, com medo de chegar atrasados à festa, se adaptam de maneira acrítica. Alguns argumentam que com a IA teremos muito mais tempo livre, que seremos muito mais produtivos e que trabalharemos menos horas por dia. Outros dizem que a IA não vai gerar desemprego porque os modelos não substituem as pessoas, mas têm um efeito “aumentativo” (assim se fala hoje) e nos tornam todos muito mais capazes. Os aficcionados pela história sentenciam que, quando surge uma nova tecnologia, aparecem medos desnecessários sobre o futuro da humanidade; e que isso foi o que aconteceu com a internet, a televisão, a máquina de costura, a imprensa e até com a escrita.
E se agora for diferente? Pela primeira vez, a capacidade mais intrinsecamente humana pode ser terceirizada. A internet permitiu a circulação de informação de maneira mais rápida e descentralizada, mas ela precisava ser produzida por humanos. Algo parecido ocorreu, séculos atrás, com a imprensa. A inteligência artificial, em contrapartida, “pensa” por nós. Para dizer a verdade, não está claro se os Large Language Models (LLMs), como o Chat GPT —chatbots de IA generativa que são o foco exclusivo deste artigo—, podem pensar, mas é certo que em muitos casos nos isentam da necessidade de fazê-lo. Isto é um desafio para o desenvolvimento das capacidades que consideramos essenciais para nossa condição humana. Alertar a tempo não deve ser confundido com um ato retrógrado de ludismo. Não se trata de quebrar os servidores do Chat GPT para salvar a civilização, nem de frear a mudança tecnológica. A questão é refletir sobre algumas mudanças que, segundo sugere nossa experiência, este choque está gerando.
As mudanças que produzidas pela IA, e evidentes no espaço universitário, merecem que sejamos cautelosos. Embora seja uma ferramenta extremamente potente para obter resultados em alta velocidade, é duvidoso que ela tenha algo a contribuir para o desenvolvimento de capacidades que consideramos críticas. Assim como a calculadora não nos ajudou a aprender a somar e subtrair, a IA dos LLM não nos ajuda a aprender a escrever, analisar ou raciocinar. No clima de tecno-otimismo que se irradia do Vale do Silício, muitos propõem que nós, docentes, devemos preparar os estudantes para desenvolver novas formas de pensar, adaptadas à nova ferramenta. É uma ideia ingênua: a IA está especificamente desenhada para que nós, humanos, não tenhamos de lidar com as complexidades do pensamento. E esta tecnologia evolui a uma velocidade tal que cada aprendizado sobre como extrair o melhor proveito dela logo fica obsoleto, porque ela requer cada vez menos informação para responder aos nossos pedidos.
Há habilidades que talvez estejamos dispostos a deixar de aperfeiçoar, agora que existe a IA. Mas identificar as capacidades talvez dispensáveis — quiça no futuro não seja preciso saber ortografia — também nos permite refletir sobre os aspectos da formação humana aos quais não devemos renunciar. A educação universitária não só transmite conhecimento, mas também cultiva a capacidade de análise e raciocínio. Convida os estudantes a prepararem a mente para “ir e vir”: entre os conceitos e as observações, entre o conhecimento existente e as ideias próprias, entre distintos olhares. Prepara-os para unir pontos, encontrar padrões e relacionar elementos que parecem desconectados. O professor universitário busca motivar os estudantes no exercício de mapear e sintetizar o mundo. Para isso, é necessário desenvolver a criatividade e a autonomia intelectual, de forma tal que os estudantes possam no futuro autoeducar-se no uso de ferramentas e métodos que hoje ainda não existem.
Deveria estar claro que esta capacidade de ir e vir, própria do pensamento, não é apenas um meio, mas um fim em si mesma. Acaso alguém duvida que a capacidade de gerar uma ideia a partir da articulação de conceitos e observações nos constitui como pessoas, ainda que seja mais fácil chegar a essa ideia por meio de um pedido rápido à IA? É somente quando raciocinamos por nós mesmos que vivenciamos os anseios, as frustrações, os entusiasmos, as decepções e os prazeres envolvidos em construir ideias. Esta experiência não pode ser delegada, porque é inerentemente emotiva e sentida. Aprender a pensar não é apenas aprender a utilizar ferramentas, mas também aprender a conhecer-se, a relacionar-se consigo mesmo e, sobre esta base, a relacionar-se com os outros.
A IA é um atalho para muitas coisas. Mas para treinar o pensamento não há atalhos: a educação universitária é um processo de gestação necessariamente lento. Leva tempo. Quem durante sua passagem pela universidade terceirizar o trabalho de pensar provavelmente deixará passar uma oportunidade difícil de recuperar. A educação tem uma base emocional não eliminável: aprender desafia e frustra, mas também, e justamente por isso, é gratificante. A educação é um processo emocional porque se aprende na relação com outras pessoas.
Por seu próprio desenho, a IA remove as frustrações e desafios próprios do raciocínio e da análise. São tipos de interação que tendem a acontecer no isolamento. Esta remoção pode ser útil em muitos casos, mas é um perigo se, por priorizarmos a eficiência, deixarmos de atravessar a complexidade intelectual, afetiva e social envolvida no pensamento. Uma educação que busca linearmente obter resultados corrói a si mesma. Diante de ferramentas cada vez mais autonomizadas da necessidade de intervenção e controle humanos, essa educação se tornará mais supérflua. A IA não está desenhada para resolver um elo em um processo complexo: está concebida para resolver o processo inteiro.
Quando as crianças já aprenderam a fazer as operações matemáticas elementares na escola, elas são autorizadas a usar a calculadora. A utilidade da ferramenta é clara: o principal desafio de resolver um problema matemático é identificar as operações necessárias para fazê-lo. Delegar a resolução das operações a uma ferramenta preserva esse desafio. Em contrapartida, se uma ferramenta resolve a totalidade do problema, o estudante torna-se completamente ausente. Na realidade, a “ferramenta” já não é tal, porque anula o propósito do exercício: que o estudante aprenda. O mesmo ocorre hoje com a IA em todo tipo de experiências educativas.
Imaginemos dois estudantes que usam IA de maneira distinta. O primeiro é Juan, que está no último ano da licenciatura em Ciência Política. Tem um exame domiciliar da matéria de política comparada em que a professora pede que os estudantes escrevam um ensaio de cinco páginas que responda em que medida a massificação de plataformas como Tik Tok e X contribui para explicar a chegada ao poder de líderes da nova direita na América e Europa. Juan trabalha oito horas por dia e precisa se formar rápido. Chega cansado em casa e à noite abre a versão gratuita do Chat GPT. Cola a instrução do exame sem acrescentar nada e recebe, em menos de um minuto, um ensaio de uma página. Volta a “promptar”: indica ao chat que o ensaio é muito curto, que precisa de um de cinco páginas. Obtém, agora sim, seu ensaio longo. Lê por cima, corta e cola em um documento e o envia por e-mail.
À professora, basta um rápido olhar para detectar que o nível de escrita é muito superior ao que Juan mostrou em seus exames presenciais: os conectivos são perfeitos, há várias orações elegantes, a estrutura do texto é sólida (há uma introdução clara, um desenvolvimento e uma conclusão). O texto é assertivo de um modo que raramente o é um estudante universitário, o que gera a sensação de que quem escreve sabe do que está falando. A professora observa também que muitos dos dados e dos argumentos no ensaio não têm relação com a bibliografia do curso. Há múltiplos dados incorretos e citações de autores que não existem. Outros existem na realidade, mas jamais escreveram o que está citado no ensaio. Com a certeza de que Juan não escreveu o texto, mas sem ferramentas para provar sua suspeita, a professora o reprova com um dois.
A segunda estudante é Bianca, colega de Juan. Por não ter de ganhar a vida, ela se dedica em tempo integral à universidade. Até um ano atrás, lia entre 70 e 90% da bibliografia obrigatória de todas as matérias, mas durante 2025 tornou-se uma usuária sofisticada do Chat GPT. Pediu à família que lhe pagasse uma assinatura da versão Plus, que custa 20 dólares por mês. Argumentou que este LLM era uma ferramenta-chave para seu desenvolvimento profissional. O uso da IA mudou seus hábitos: passou a ler só 30% da bibliografia e a estudar o restante a partir de resumos —imperfeitos, mas satisfatórios— que o chatbot produz em minutos, quando ela carrega as leituras do curso.
Próximo ao final do semestre, Bianca volta para casa com a instrução do exame e põe-se a trabalhar com a IA. Sabe “promptar”, inclusive usa um “engenheiro de prompts” (uma instrução escrita que guia o próprio modelo de IA a gerar ou refinar outros prompts para obter, no fim, melhores resultados). Diante da janela do GPT Plus, diferentemente de Juan, Bianca não pede o ensaio final de uma vez, mas usa vários prompts para enquadrar. Indica ao modelo que recupere os resumos bibliográficos produzidos durante os últimos meses do curso e que produza o ensaio com calma. Que espere antes de escrever. Sabe, por experiência, que a palavra “esperar” em um prompt melhora o desempenho da IA quando é preciso trabalhar com temas complexos.
Como tem a versão premium, Bianca pede ao GPT que lance uma pesquisa aprofundada (deep research) para buscar bibliografia adicional e artigos jornalísticos de países como Hungria e El Salvador, a fim de ilustrar com casos concretos a ascensão das novas direitas na América e Europa. Vinte minutos mais tarde, o GPT devolve uma resposta: umas dez páginas de texto, escritas com um tom de autoridade no assunto, e umas doze referências em notas de rodapé. Os artigos que cita existem, não há alucinações. Bianca indica à IA que espere uma vez mais antes de escrever e que lhe formule o que o LLM chama de “perguntas estratégicas”. Ao interar, ela especifica à máquina que o tom do ensaio deve ser assertivo, mas condizente com a escrita de uma estudante de licenciatura. Uma vez obtido o texto da IA, Bianca finalmente o edita, acrescenta modos de escrever mais pessoais e remove algumas poucas alucinações.
Bianca calcula que dedicou seis horas para resolver o exame, em contraste com os cinco ou seis dias que demorava antes de usar IA. Sente que hoje sua produtividade voa. A IA “a aumenta”. Está orgulhosa por como usa o Chat GPT, de um modo que seus colegas, como Juan, nem sequer imaginam que é possível. Tira um nove. No entanto, diferentemente do que ocorria durante os primeiros anos de sua licenciatura, Bianca terminou a matéria sem ter lido 70% da bibliografia, sem ter feito o esforço de desenhar uma arquitetura lógica para seu ensaio, sem ter gerado um argumento criativo e sem escrever uma única página.
O que reflete este contraste? Primeiro, os níveis de sofisticação no uso da IA. Segundo, e mais importante, que nenhum dos dois estudantes percorre o processo de aprendizagem. A estudante “sofisticada” consegue avançar em sua carreira, mas aprende quase tão pouco quanto o estudante mais “básico”. A questão do contraste é, nesse sentido, que a ideia de “aprender a usar IA” como parte da educação universitária é em muitos casos um slogan de época, vazio de sentido. O suposto bom uso da ferramenta costuma ser apenas uma forma mais refinada de evitar o trabalho essencial ao processo de aprendizagem. Um atalho, por mais longo que seja, continua sendo, sempre, um atalho.
O grande benefício do choque da IA é jogar uma pedra sobre as arrogâncias da universidade: empurra os professores a não dar mais nada como certo sob o conforto de suas togas doutorais. A IA nos obriga a pensar já num futuro universitário que demorava a chegar e nos deixa a pergunta incômoda de quais aspectos da universidade perderam vigência e devemos deixar morrer. Leva-nos a voltar à origem e refletir sobre o essencial do processo educativo.
Mas subir em uma onda de entusiasmo para perguntar à própria IA como mudar a universidade, e assim deixar de pensar o problema com nossos tempos humanos, não nos conduzirá a algo melhor. Na medida em que nós, que fazemos parte do mundo universitário, continuarmos competindo para estar o mais adaptados que se possa à mudança tecnológica, terminaremos sacrificando a educação em favor do treinamento técnico. E não particularmente complexo. Quem se sente inteligente por ter aprendido a “promptar” com astúcia e a entregar um número crescente de seus processos cognitivos a um modelo, logo descobrirá que cada dia pensa um pouco menos. O que a IA não pode fazer é atravessar o processo formativo próprio de quem aprende. “Promptar” não é pensar. Educar é, essencialmente, formar: gerar as capacidades que nos tornam autônomos e capazes de nos entendermos com outros. São as capacidades indelegáveis que dão sentido às nossas atividades e, em definitivo, à própria vida.
O tecnoceticismo não é desejável, porque cai no conservadorismo. Prescrever soluções proibicionistas em sala de aula não parece ser o melhor caminho. Mas tão certo como isso é que o tecno-otimismo nos leva à rendição de nossas capacidades críticas e reflexivas ante a lógica da eficiência e do produtivismo. Embora hoje proliferem os descobridores de virtudes da IA para cada uma das atividades humanas, muitas delas não se adequam a essa lógica. Na pressa por não ficarmos para trás da mudança tecnológica, corremos o risco de nos rendermos a uma ferramenta que, com uso irrestrito, ameaça nos empobrecer intelectualmente. A corrida por nos adaptarmos à novidade nos faz perder de vista que, se não a utilizarmos com espírito crítico, a IA pode nos converter em seres menos pensantes, menos reflexivos e menos autônomos. Em síntese: menos humanos. Nessa busca febril por aumentar a produtividade e fazer gols fáceis, pagamos um preço demasiado alto e cedemos algo muito mais valioso.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras

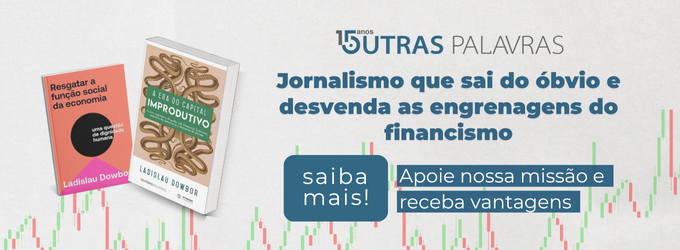

Ótimo texto! Obrigada pela publicação.