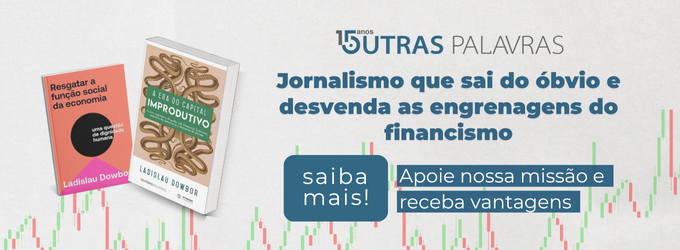Educação: Contra a aceleração, a ressonância
Hipóteses para um diagnóstico dos desafios da formação escolar na crise de competitividade e corrida por satisfação individual. Sociólogo convida a reencontrar o “fio vibrante” nas brechas das métricas de desempenho – e desprivatizar a busca pelo bem viver
Publicado 01/10/2025 às 16:05 - Atualizado 01/10/2025 às 16:07

Recentemente temos conseguido descrever o processo de aceleração que estamos vivenciando nas sociedades contemporâneas, assim como tem se tornado possível descrever os seus efeitos para a educação. Temos conseguido caracterizar um conjunto de crises que, com maior ou menor intensidade, acompanham a experiência de nossos colegas professores e professoras: desde a crise de sentido da formação, passando pela incapacidade da escola em responder aos desafios de crises econômicas ou climáticas até chegar na própria dificuldade de repensar os sentidos antropológicos da escolarização em nosso tempo. Inúmeras perspectivas acadêmicas têm contribuído para que possamos reenquadrar os debates sobre a formação humana na era da aceleração. Afinal, por que seguimos educando as futuras gerações nas escolas?
Este breve texto está interessado em reconhecer o conjunto destes desafios advindos desta condição social contemporânea, descrevendo alguns de seus efeitos e percepções no âmbito da escola. Mas também, ao levantar algumas hipóteses para um diagnóstico, apostaremos no conceito de ressonância – de Hartmut Rosa – como uma alternativa conceitual para a própria teoria educacional produzida neste início de século. Nas palavras do sociólogo alemão, em uma de suas últimas obras, “se a aceleração é o problema, então talvez a ressonância seja a solução” (p. 15). O argumento estará desdobrado em quatro breves seções.
I.
A Modernidade colocou-nos em um modo existencial em que a aceleração e a dinamização compõem a própria organização da vida coletiva e das instituições. Essa lógica da vida coletiva modificou a forma como construímos vínculos com o mundo e com as demais pessoas ao mesmo tempo em que, de modo ambivalente, proporcionou novas dinâmicas para a ciência, para a cultura e para a vida política. Ocorre que, de acordo com Rosa, ingressamos em um regime de aceleração no qual não mais conseguimos perceber as suas finalidades ou seus propósitos. É como se estivéssemos vivendo sob uma “compulsão ao incremento sem objetivo, nem término” (Rosa, 2019, p. 16).
Mesmo diante dos grandes desafios de nossa época, a busca pela aceleração converteu nossa existência ao desafio do “sempre mais”: mais felicidade, mais prosperidade, mais ocupação, mais otimização de recursos, mais resultados. A aceleração da vida social, ao se converter em uma problemática central de nossa época, expõe os limites para o planejamento da formação humana a longo prazo e – talvez de forma mais intensa – tem nos incapacitado a definir o que conta como uma “vida boa”.
II.
A busca pela “vida boa” é um conceito de grande importância no pensamento ocidental, mas também de ampla potencialidade nas comunidades tradicionais. Em outras palavras, o conceito é tão relevante na vida virtuosa dos leitores de Aristóteles, quanto no ‘bien vivir’ das populações andinas. Interrogar pelos sentidos existenciais envolve o diálogo com diferentes saberes, domínios políticos ou contextos comunitários, objetivando redescrever os sentidos que atribuímos ao viver juntos. Todavia, na intensa aceleração que hoje vivenciamos, a boa vida parece estar sendo reduzida ao sentimento individual de bem-estar subjetivo. Ou melhor, privatizamos a definição da vida boa.
Provavelmente, temos boas razões para considerar que a ampliação da aceleração e da competitividade podem incrementar nossas respostas objetivas ao mundo. Monitorar o modo como estamos respondendo a nossa lista de tarefas pendentes – individual e institucional – oferece uma relação com metas para o futuro de razoável importância. Listar as nossas disposições sobre o bem-estar subjetivo é revelador de uma matriz de sentimentos desejáveis. Entretanto, ao individualizarmos (e contabilizarmos os erros e os acertos) a definição de vida boa não estamos fortalecendo nossa relação com o mundo e nossos laços com as pessoas.
III.
A tese desenvolvida por Rosa, a qual retomaremos neste momento, é que o mais importante na vida é “a qualidade da relação com o mundo”, ou ainda, a “qualidade de nossa apropriação do mundo” (p. 20). A resposta necessária para a aceleração social encontra-se na qualidade da relação que estabelecemos com as pessoas, com os lugares, com as coisas, enfim, com o mundo. À medida em que a sociedade não está conseguindo definir o que conta como uma boa vida, o sociólogo alemão convida-nos a reencontrar o “fio vibrante” que oferece sentido as nossas existências, permitindo com que outras formas de realização sejam redescobertas nas brechas das métricas de desempenho.
Os sistemas de ensino ao defenderem a qualidade nas aprendizagens de crianças e jovens não estão se referindo à qualidade da apropriação do mundo. Em contextos de aceleração social, as políticas educativas tornam-se orientadas pela competição interna, pelas métricas de desempenho ou mesmo por grandes máquinas meritocráticas. Professores, escolas e sistemas de ensino silenciam o mundo para escutar as suas planilhas de desempenho: que pouco engajam, não se abrem para os territórios e não reconstroem a confiança necessária para vermos o “fio vibrante” que nos conecta ao mundo. A teoria educacional contemporânea demanda tempo para que possamos redescobrir os eixos de ressonância que nos movem para uma nova pedagogia.
IV.
Enfrentar as desigualdades educacionais e promover novas perspectivas para a justiça são tarefas de nossa geração. Mas isso não se mobiliza com as redes meritocráticas, ainda que sejam sedutoras. A busca pela aprendizagem – entendida como apropriação compartilhada do mundo – requer novas perspectivas, desenhadas entre vínculos socioculturais e disposições individuais. Uma pedagogia para a ressonância pode oferecer contraposição às pedagogias da aceleração, hoje predominantes. Mais uma vez reconhecendo a pertinência da obra de Rosa, “a condução da vida se desenvolve como resultado da busca de oásis de ressonância constitutivos e do desejo complementar de evitar a repetição de experiências desérticas” (p. 32). Não há desenhos prontos, nem formulações infalíveis, mas apostamos que as pedagogias críticas precisam propor alternativas às experiências desérticas que as métricas de desempenho têm nos oferecido!
Referências:
ROSA, Hartmut. Resonancia: una sociologia de la relación com el mundo. Buenos Aires: Katz Editores, 2019.
SILVA, Roberto Rafael Dias da. Disposições curriculares para uma agenda formativa direcionada ao comum: uma renovação pedagógica em curso?. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, v. 53, p. 47-72, 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/366916401_Disposicoes_curriculares_para_uma_agenda_formativa_direcionada_ao_comum_uma_renovacao_pedagogica_em_curso
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.