Crítica da teoria do valor-atenção
Dois autores polemizam com artigo publicado em Outras Palavras. Haverá, além da mais-valia estudada por Marx, outra apropriação, produzida pelas redes sociais? Onde fica o trabalho vivo que cria mercadorias? Os lucros das big techs vêm da produção ou do consumo?
Publicado 10/09/2025 às 19:07
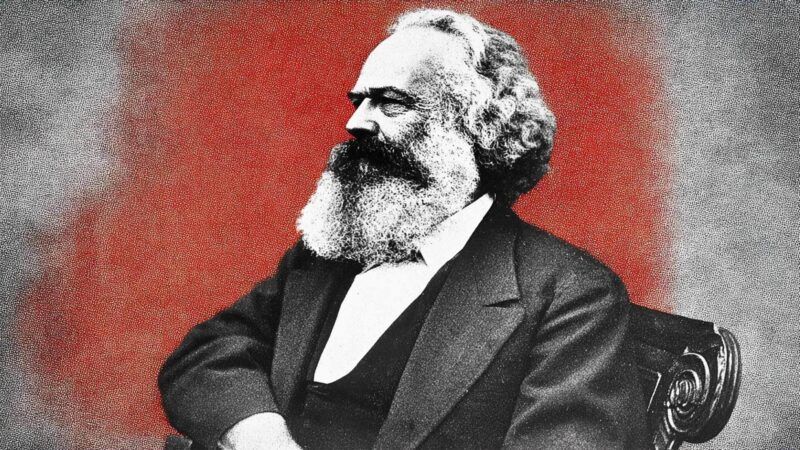
Há uma nova teoria do valor circulando difusamente no campo da economia política. Mas ela tomou forma no teclado manipulado por Marcos Barbosa de Oliveira, professor da USP, por meio do artigo Em Busca de uma Teoria do Valor-Atenção, publicado pelo Outras Palavras.1Eis como ele a apresenta sem receio de que sua bomba se transfore num traque:
“Na Teoria marxista do Valor-Trabalho, o valor de uma mercadoria é, grosso modo, proporcional ao trabalho gasto em sua produção. No domínio das redes sociais, no lugar do trabalho, vigora a atenção. Sendo assim, faz sentido a ideia de uma Teoria marxista do Valor-Atenção”.
É preciso, pois, perguntar se ao longo das últimas seis décadas aqueles que estavam diante de aparelhos de televisão, estavam produzindo mais-valor para os empresários do ramo? Aqueles que assistem aos filmes de Hollywood ou aqueles que leem os jornais de grande circulação estão produzindo mais-valor, contribuindo para a valorização do capital? De uma forma ainda mais geral, dever-se-ia perguntar, portanto, se ao longo dos mais de cinco séculos de capitalismo os consumidores de seus produtos, dos produtos de suas indústrias, produziram mais-valor para os donos dos meios de produção?
Do ponto de vista da crítica à economia política, originada por Karl Marx já em meados do século XIX, a resposta se afigura como negativa. Mas o autor que estimulou a geração deste artigo parece pensar diferente. Na passagem citada, ele diz algo que precisa ser aqui repetido: “Na Teoria marxista do valor-trabalho, o valor de uma mercadoria é, grosso modo, proporcional ao trabalho gasto em sua produção. No domínio das redes sociais, no lugar do trabalho, vigora a atenção”. Ou seja, aqueles que se utilizam Whatsapp, X, Facebook etc. seriam produtores de mais-valor, o qual seria apropriado pelos proprietários desses aplicativos. Vale, pois, perguntar: faz mesmo sentido uma teoria marxista do valor-atenção?
Em determinadas situações perguntar é responder. Veja-se: a captura de atenção não é algo novo, já que toda mercadoria ontem, hoje e amanhã “deseja” intensamente a atenção. Pois, a atenção vem a ser, simplesmente, a contrapartida do valor de uso. Logo, a atenção não é vendida ou comprada. Ela se dirige para os valores de uso das mercadorias, os quais podem vir a satisfazer necessidades que vêm do “estômago ou da fantasia”.
Como se sabe, a mercadoria aparece como a unidade do valor de uso e do valor de troca. Logo, ela se afigura, antes de tudo, como o espaço/tempo de uma “materialidade”; contudo, ela é sobretudo “forma”. Se a forma for confundida com o seu suporte, se o valor é atribuído à materialidade das coisas que ganhou a forma de mercadoria, tem-se o fetichismo.
A forma social “mercadoria” traja batata, sapato, filme, jornais de internet, músicas etc. para que essas coisas produzidas possam ir para o mercado e serem vendidas. No comércio, elas se exibem sem vergonha para os desejos eventuais dos compradores. Como essa atenção pode faltar, a exibição das mercadorias pode ser reforçada pela propaganda. Os gritos do feirante que vende verduras nas ruas não são suas mercadorias; mas os espaços publicitários nos veículos de informação em geral, antigos ou novos, ganham, sim, essa condição. Entretanto, como explicar, então, o valor de troca da mercadorias publicidade?
A teoria do valor-atenção acima anunciada e publicizada não corresponde à teoria do valor elaborada por Marx. Eis que o valor para Marx não é proporcional ao trabalho gasto, mas, precisamente, se constitui pelo quantum de trabalho abstrato e socialmente médio necessário para produzir a mercadoria. Ora, a abordagem a partir do quantum de trabalho social médio faz toda a diferença, porque antes de ser verdade na teoria do valor, é verdade no próprio processo social real que ela busca explicar. O valor, como diz Marx, é uma pura objetividade social.
É a mesma abordagem que se faz necessária para entender os processos sociais em curso nos quais se manifesta a crise mundial de reprodução do capital. Como se sabe, o lucro social médio tem se mostrado decrescente e isso tem produzido mudanças no próprio capitalismo. Em reação, tem-se agora as “big techs”, os criptoativos e uma séria de “novidades” que chamam a “atenção” do distinto público. Por isso, alguns passam a enxergar um possível papel da utilidade dessas “mercadorias” especiais na produção de valor. A busca sôfrega pela atenção é, pois, uma constante na sociedade do espetáculo onde tudo vira mercadoria, mas nem tudo se constitui como produção de valor.
Como se sabe, o movimento histórico da acumulação do capital tende a reduzir o conteúdo de valor das mercadorias. Ora, essa categoria engloba não só o que sai das fábricas, mas também o que nela entra, dentre elas, inclusive, a própria força de trabalho. Como também se sabe, o tempo excedente à reprodução social da força de trabalho é o que origina o mais-valor.
Como explicar o valor e o mais-valor? Os economistas clássicos e depois Marx analisaram a mercadoria enquanto uma formal social dos produtos do trabalho quando estes são produzidos para serem vendidos e comprados nos mercados. Marx, depois de longos anos de pesquisa, fez isto no Livro I de O Capital por meio de uma exposição dialética que vai do abstrato ao concreto, ou seja, que começa na mercadoria e que chega ao modo de produção capitalista como uma totalidade. Eis que no miolo desse sistema se encontra a lógica da acumulação de capital.
Mais de um século e meio se passou desde que O capital começou a ser escrito. Aquilo que ali se previu, aconteceu, pois já ocorreu a mundialização do capital. Agora, o processo de formação do valor ocorre no âmbito do transnacional. Apesar disso, ele continua a se originar fundamentalmente na produção direta de mercadorias, através do dispêndio de energia do trabalho vivo nas redes mundial de produção de mercadorias. Seu objetivo primeiro e último, e seu resultado mais visível, o lucro, é o termômetro da “saúde” do capitalismo.
A questão então que se coloca para a teoria do valor é saber por que o advento de novas tecnologias e da robótica não está conseguindo fazer crescer a lucratividade social média mundial do capital. A partir da teoria do valor não se nega que certas empresas continuem a ter lucros e que esses possam aumentar. O que está em causa é a produção social média mundial que decresce na lucratividade média do capital mundial geral.2
É preciso admitir que existem limites sociais e naturais para a produção de mercadorias. Mesmo se elas incorporam tecnologias novas e que vem aos mercados como celulares, televisores, computadores etc., elas têm de ser compradas para serem consumidas. Se a produtividade do trabalho vivo, diretamente produtivo, avoluma uma fabulosa superprodução mercadorias (valores de uso e de troca) que se exprimem em preços no mercado consumidor, isto ocorre, mas com uma porção decrescente de mais-valor real por unidade-mercadoria. Este é um fenômeno dominante para explicar a queda do lucro.
Assim sendo, a produção de mais-valor real se acha de modo generalizado em um impasse insuperável, porque a superprodução de mercadorias, mesmo com toda publicidade e indução ao consumo proliferante, com toda obsolescência programada, com todo o crédito que desloca o pagamento para o futuro, não consegue fazer crescer ao infinito, nem o consumo, nem o lucro social médio mundial. Antes disto, pela lógica inelutável na produção de valor e mais-valor mercantil, o capital se aprisiona a si mesmo; eis que esta vem a ser a sua imanência autofágica.
O artigo Em busca de uma teoria do Valor-Atenção diz que “no domínio das redes sociais, no lugar do trabalho, vigora a atenção”. Assim, converte a “atenção” (que, de fato, é demanda) no trabalho produtor de valor de uso e de troca que são as imagens sonoras. Ora, não é a produção social geral (que usa e abusa do trabalho social geral) a única fonte que origina o valor e mais-valor? Os consumidores possibilitam apenas a realização do valor e do mais-valor das mercadorias, inclusive – julga-se aqui – daquelas mercadorias que veiculam informação e mesmo publicidade.
Nesses setores ocorre o mesmo que ocorre com a indústria de mercadorias materiais, mesmo as com obsolescência programada bem curta. Quando nos tornamos consciente que cada vez mais são produzidas mercadorias com valor de uso que são de fato “inúteis” para o consumidor – exceto no que concerne a uma satisfação ilusória e subjetiva – tais como Coca-Cola, McDonalds, a montanha de gadgets que existem no mercado transnacional, percebe-se que se está diante de um processo dominado pelo valor de uso fictício.
Assim sendo, as “indústrias de mercadorias ideais” a que se refere a teoria do “valor-atenção”, por fazerem parte da economia social mundial, sofre os mesmos condicionamentos e “leis” tendenciais dos setores clássicos do capitalismo. Pensamos, portanto, que no artigo em causa ocorre, pois, uma grande confusão entre tais categorias dos processos sociais reais que faz seu autor “observar que, assim como o trabalho, a atenção é um bem escasso”.
Para nós, no que concerne ao trabalho é possível mesmo defender a tese contrária. Não existem escassez de trabalhadores disponíveis. Todavia, o volume crescente da população excedente às necessidades do capital tem transformado essa superpopulação, também incessantemente, em desempregados, em desistentes da busca de emprego, em precarizados, naqueles que jamais conseguirão emprego regular para sua força de trabalho, em excluídos pois, e em inúteis e ainda, nos atuais cinicamente denominados “invisíveis” das agências oficiais de estatísticas.
Existe uma superpopulação relativa ao capital que se acha em disfunção produtiva, exacerbada pela robótica, pelas “novas tecnologias” e pelas “big techs” das mídias e da comunicação em geral. É possível pois, defender a tese de que a população mundial não consegue, em seu conjunto, ser um mercado total e infinito para essas mercadorias “imateriais” para as quais contribuiriam com seu suposto “valor-atenção” na produção de uma suposta mais-valia geral. É possível também defender, ao menos a hipótese, de que tais setores não conseguirão elevar o nível médio das taxas e das massas de lucro ao nível mundial.
Na busca por uma “teoria do valor-atenção”, Oliveira abandona a teoria do valor de O Capital e passa a utilizar a lei da oferta e da procura. Diz o artigo que “a escassez é um atributo que, na Economia ortodoxa, é considerado essencial para que um bem possa funcionar como mercadoria”. A acumulação de capital no setor das “big techs” precisa da atenção dos consumidores para se realizar. Diz Oliveira que,
uma peça publicitária só tem valor se for lida, ouvida ou assistida, pelas pessoas a quem é veiculada, e ‘para isso é necessário que elas lhe dediquem atenção. Como veremos, a atenção é metaforicamente a moeda com a qual os internautas pagam pelo acesso aos conteúdos que lhes interessam. Obviamente, quanto mais atenção um anúncio recebe, maior é seu valor.
Não obstante, na verdade, para depositar atenção os internautas ou telespectadores precisam estar em condições de pagar o acesso à rede de telefonia, aos aplicativos usados em cada demanda requerida, além de pagar por um ou vários aparelhos (wifi, roteador, celular, computador, televisor etc.) e pelas “mercadorias ideais” que tais aparelhos possibilitam. Nada disto constitui trabalho vivo em um processo produtivo, muito menos a atenção que é atributo dos consumidores. Constitui a utilização do salário obtido por aqueles que conseguem tê-lo no dia a dia da própria reprodução de suas força de trabalho e de seu emprego, fora dos circuitos onde se exige atenção para o consumo dos produtos das “big techs”.
Todas as mercadorias consumidas pela atenção do consumidor comum são pagas com seus recursos (salários ou renda), através de um preço estabelecido no mercado, mas que reflete o tempo social médio à reprodução da força de trabalho social mundial. A lei da oferta e da procura age nos seus circuitos, mas não como determinação fundamental, nem muito menos sem limites que são aqueles mesmos da lei do valor.
Esse consumidor não age produzindo valor quando consome, ainda que sua maior ou menor atenção possa aumentar ou reduzir o preço (que pode ser igual, maior, ou menor que o valor de troca da mercadoria física ou ideal) que ele paga no mercado para usufruir do valor de uso dos produtos das “big techs”. Somente os trabalhadores em ação produtiva nas “big techs” (como produtores de tecnologia ou criadores de aplicativos e discursos imagéticos e textuais) produzem mais-valor. Mas já não era assim quando os operários-engenheiros projetavam e elaboravam (e depois aplicavam) as tecnologias na produção, no comércio e nos serviços?
A ideia da escassez de atenção é enigmática. Mesmo admitindo que a população mundial não é completamente absorvida no consumo dos produtos das “big techs”, como considerar a existência real de “escassez” de atenção para tais produtos, quando no próprio artigo e a toda hora nos noticiários se observa que a utilização das tecnologias e de seus produtos têm causado tantos males a estratos cada vez mais importantes das sociedades no planeta? Aos produtos com valor de uso fictício se juntam aqueles com valor de uso destrutivo como aqueles produzidos pelas rede de pedofilia e das mais diversas fantasmagorias, aberrações e patologias como as que induzem e impõem mutilações e suicídios.
O recurso à teoria de Polanyi e à ideia de que a atenção pode ser mercantilizada não ajuda na explicação de uma suposta transição a um “modo de produção novo” como querem alguns novos intérpretes. Isto porque a “mercantilização da atenção” realiza, de fato, uma fixação na aparência, na circulação de mercadorias físicas e ideais, e não na produção direta delas. Foi exatamente esta última que possibilitou o deslocamento de uma importante massa de capital oriunda da maior acumulação de capital da história do capitalismo (1945-1975), para a superprodução de tecnologias as mais diversas, quer seja sob o formato físico ou lógico “numerizado”, que utilizamos o tempo todo escrevendo nos computadores, lendo nos “tablets” ou em “kindles”, comprando criptomoedas ou vendo filmes em alguma plataforma de “streaming”.
Notas:
1 Oliveira, Marcos Barbosa, Em busca de uma teoria do valor-atenção. Boletim Outras Palavras em 15/07/2025,
2 François Chesnais. Finance capital today corporations and banks in the lasting global slump. Boston, Brill Academic Pub., 2016.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras

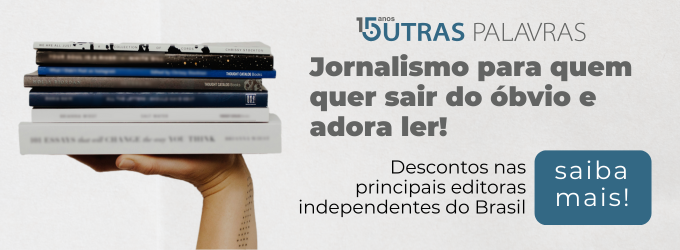

Os lucros do dono de uma escola particular vêm do pagamento que os pais dos alunos fazem mensalmente ou vem da atenção dos alunos?
Uma resposta da IA a uma pergunta que você faz vem da sua atenção ou vem da pesquisa de todo as produções intelectuais anteriores sobre o assunto perguntado, disponível na rede mundial de computadores?
Essa análise é o fruto de uma interpretação superficial e até errônea da teoria de Marx.
Os lucros das big techs não vem da produção e nem do consumo.
Nosso objetivo é a luta classes. Perderam tempo pra nada!
As Big tech são de extrema sofisticação no processo de ganho. O lucro é reprodução do capital!
Estamos falando que não vamos mais precisar de mão de obra, tamanha sofisticação. A subjetividade deste processo fortalece de forma inigualável, até o momento, o lucro. Pergunto existe produção em relação as Big techs? Não há correspondência entre capital e produção, mas sim especulação! Nunca a tecnologia foi tão fundamental para o capital, portanto, o lucro. Temos no setor financeiros ações e formas de lucro semelhantes as big techs.
As vezes devemos reler alguns livros de economia como o capital, do próprio Marx! Talvez não tenham percebido ou esquecido que está alternativa de ganho está lá!!! De qual quer forma, o artigo está muito bem escrito! Parabéns! Posso discordar da forma que propuseram um objeto de estudo centralizado ( num certo cartesianismo), produção ou consumo), mas o tratamento está interessante, apesar da minha completa discordância! As Big techs, em especial, no terceiro mundo, vai reproduzir a essência do capitalismo: multiplicar ainda mais a exploração, o lucro e a miséria!!!