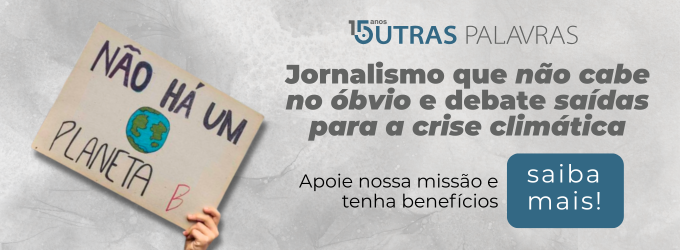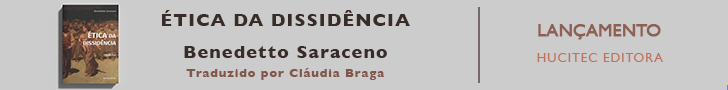Massacre da Sé e a política de morte que se perpetua
Há 21 anos, três madrugadas de horror no centro de SP: sete pessoas em situação de rua foram assassinadas – e outras 15, feridas. Chacina foi orquestrada por PMs e seguranças. Relembre outros casos de violência contra os “corpos excedentes” nas cidades
Publicado 21/08/2025 às 17:21

Por Rose Barboza, na Le Monde Diplomatique Brasil
O Massacre da Sé
Na madrugada de 18 para 19 de agosto de 2004, o centro de São Paulo estava frio. Talvez por isso a vendedora A. M. R., moradora da rua Tabatinguera, não conseguisse dormir. Foi a insônia que a levou a testemunhar, por uma fresta da janela, o ataque a “Tiozinho”, como ela conhecia José Manuel da Cruz, o Qua-quá. Em frente à Igreja Santa Luzia, ele foi agredido na cabeça com um objeto que poderia ser tanto um taco de beisebol quanto um cassetete. Sem chance de defesa, atingido enquanto dormia, não resistiu e morreu.
Há poucos metros dali, na Praça João Mendes, esquina com a Rua Tabatinguera, era o lugar de pernoite de uma das mais conhecidas moradoras da região central: Pantera. Com 41 anos, travesti e negra, ela era respeitada e querida pela população de rua e comerciantes. Este reconhecimento lhe valeu o título de “Mãe da Rua”. Pantera, vaidosa, de personalidade combativa, protegia e defendia os seus como uma mãe zelosa. Incentivava à busca de emprego e de albergues. Naquela noite não resistiu aos golpes brutais desferidos por um objeto contundente e foi encontrada já sem vida, numa poça de sangue, pelo PM Marcelo Ferro, sob o toldo de uma loja de CDs gospel.
E assim, se seguiram outras denúncias, de um episódio estarrecedor: Cosme Rodrigues Machado, encontrado no número 406 da mesma rua Tabatinguera, os mesmos golpes, a mesma poça de sangue, o mesmo cobertor cinza, que tentava em vão aplacar o frio de uma noite macabra. Há cinco quadras de onde foram assassinados Pantera e Cosme, na rua XV de Novembro, Messias Rodrigues Moreira, apesar da brutalidade dos golpes, sobreviveu. Infelizmente, Antônio Odilon dos Santos, socorrido na Rua São Bento, não resistiu e faleceu no hospital às 08h49 da manhã do dia 19 de agosto. Os ataques seriam coincidência ou parte de uma ação coordenada? A pergunta era feita pelo delegado Luiz Fernando Lopes Teixeira, do DHPP, enquanto se acumulavam os pedidos de socorro a pessoas com ferimentos na cabeça, sangramento pela boca e pelo nariz, muitas delas inconscientes. Entre as vítimas: um homem branco, de cerca de 40 anos, não identificado, encontrado na Rua Piedade; Antônio Carlos Medeiros, localizado na Rua Conde do Pinhal e removido à Santa Casa, onde não resistiu; Daniel Gomes de Souza, paraibano, ajudante de pedreiro, achado na Rua Santo Amaro, sobrevivente; e Vanderlei Moreira Alves, encontrado na Rua da Glória, que vomitava sangue e apresentava sangramento nos ouvidos.
Mas os ataques continuaram. No dia 22 de agosto, a trabalhadora doméstica Maria Lourdes de Souza, que tinha sido demitida no dia 19 e que até então vivia na casa dos patrões, sem conseguir vaga para pernoite em um albergue, acabou adormecendo na Praça João Vito, próximo ao Mercado municipal. Pancadas ferozes roubaram-lhe a vida. E a de outra vítima não reconhecida na esquina entre a Quintino Bocaiúva e a Benjamin Constant. E as mortes continuaram, Maria “Baixinha” na Rua da Glória, e uma vítima desconhecida na rua Piedade. Meses depois, Priscila, testemunha ocular do assassinato de Maria “Baixinha” também foi assassinada.
A brutalidade e a extensão dos ataques chocaram o país, e tanto o governo federal quanto o estadual prometeram uma resposta rápida. O então secretário de Segurança Pública, Saulo de Castro Abreu Filho, declarou que, em um mês, os crimes estariam solucionados e os responsáveis, punidos.
As vítimas, Antônio Carlos Medeiros; Antônio Odilon dos Santos; Cosme Rodrigues Machado; Daniel Gomes Souza; Elias Francisco da Silva; Ivanildo Amaro da Silva (Pantera); José Manuel da Cruz (Qua-quá); Maria ‘Baixinha’; Maria de Lourdes de Souza; Messias Rodrigues Moreira; Priscila; Regildo Rufino Félix Santos; Vanderlei Moreira Alves e mais duas pessoas assassinadas que não foram reconhecidas, teriam justiça.
Não foi isso o que aconteceu. Pressionado pelo tempo exíguo, o delegado Luiz Fernando Lopes Teixeira conduziu um inquérito com falhas e, com a exposição indevida de informações sensíveis que tornaram testemunhas em alvos fáceis de vingança. A imprensa também desempenhou um papel questionável. Se de um lado, ajudou na cobrar soluções, por outro, expôs indevidamente, pessoas e situações, o que dificultou diretamente o trabalho do DHPP. As investigações do inquérito, segundo o Promotor de Justiça Carlos Roberto Talarico, “não conseguiram colocar os suspeitos na cena do crime” e, por isso, em 19 de novembro de 2004, três meses após os assassinatos, o Ministério Público de São Paulo não aceitou apresentar denúncia.
Para quem luta pelos direitos humanos esse foi um dia revoltante. Militantes haviam colocado a vida em risco, ao longo do inquérito, para convencer testemunhas e mantê-las vivas. E agora? Com a diminuição do interesse público pelo caso, os ataques a 15 pessoas e a morte de sete, caminhavam para a impunidade.
Mas organizações e pessoas que trabalhavam com a população em situação de rua, incansáveis, mantiveram as mobilizações por justiça. Graças a elas, uma nova testemunha levou o Ministério Público a reabrir as investigações, após a morte de Priscila, a primeira a depor. Quase um ano depois, em 31 de outubro de 2005, os promotores Maurício Antônio Lopes, Rodney Elias da Silva e o mesmo Carlos Roberto Talarico estavam convencidos da urgência em apresentar a denúncia.
E isso foi feito. Os policiais militares Jayner Aurélio Porfírio, Marcos Martins Garcia, Cleber Bastos Ribeiro, Paulo Cruz Ramos e Renato Alves Artilheiro junto com o segurança privado Francisco Luiz dos Santos, foram acusados de envolvimento nas mortes ocorridas entre 19 e 22 de agosto de 2004, além da morte da testemunha Priscila. Os cinco policiais militares e o segurança privado foram acusados de homicídio doloso qualificado – que é realizado por motivo torpe e sem possibilidade de defesa da vítima, tentativa de homicídio, formação de quadrilha e associação para o tráfico de drogas.
Contudo, o juiz Richard Chequini não aceitou a denúncia. Alegou que ela não reunia os elementos necessários e, sem maiores explicações, recusou-a, enquanto o nome dos acusados vazava para a imprensa. A Folha de S.Paulo os divulgou antes mesmo de os promotores entrarem com recurso contra a decisão do juiz, em 8 de novembro de 2005.

Um massacre contínuo
Vinte e um anos depois, o Massacre da Sé continua sendo lembrado pelos sobreviventes e por organizações de defesa dos direitos humanos como um marco de barbárie e impunidade. Mas este massacre não é um acidente isolado. Ele se inscreve numa longa continuidade histórica que naturaliza a violência contra corpos empobrecidos, negros, indígenas, migrantes, mulheres e dissidentes sexuais e de gênero. É expressão de um pacto social que, no Brasil, se forjou sob desigualdades raciais, sociais e de gênero, que coloca alguns corpos numa zona de cidadania plena enquanto impõe aos outros uma zona de sobrevivência precária.
Para compreender o Massacre da Praça da Sé, é preciso situá-lo numa linha que conecta, no tempo, assassinatos individuais e chacinas coletivas, atravessando diferentes escalas de violência; da institucional à interpessoal.
1963: Operação Mata-mendigos no antigo Estado da Guanabara
A chamada Operação Mata-mendigos, considerada a maior chacina contra pessoas em situação de rua no Brasil, ocorreu entre 1962 e 1963 no então Estado da Guanabara e permanece pouco conhecida pela população. Em agosto daquele ano, um jornalista e um fotógrafo do jornal Última Hora comprovaram que viaturas da Seção de Repressão à Mendicância sequestravam pessoas em situação de rua e as levavam para os rios da Guarda e Guandu, onde eram lançadas amarradas, em uma política oficiosa de “limpeza social” conduzida pelo próprio poder público. Em janeiro de 1963, uma vítima sobrevivente revelou que essas “viagens sem volta” eram, na verdade, “viagens para a morte”. A pressão levou à criação da CPI da Matança de Mendigos, mas o inquérito parlamentar terminou por atribuir os crimes a supostos desvios individuais, negando o caráter sistemático e institucional do extermínio.
Na Bacia de Itaguaí, policiais e extranumerários da Secretaria Estadual de Segurança Pública assassinaram 13 pessoas entre outubro de 1961 e janeiro de 1963: Antônio Maia da Conceição, Ary Loyola Barata, Elias Marcondes, Eunice Marques Evangelista, Expedito Jesus Vieira, Geraldo Pereira, José dos Santos, José “de Tal”, José Vital da Silva, Nilton Marques dos Santos, Olga Pereira dos Santos, Sebastião Ribeiro Ambrósio e Zuleica “de Tal”. Djalma Alves da Silva foi espancado até a morte dentro da própria Seção de Repressão à Mendicância, por funcionários e extranumerários. Outras sete pessoas conseguiram sobreviver: Agenor José Gonçalves, João Goulart, Marcionília Catarina, Maria Luiza do Socorro, Olindina Alves Japiassú, Pedro Francisco Cachoeiro e Vitorino de Souza.
2010: A chacina de Cabula VI em Salvador
No dia 16 de janeiro de 2010, quatro homens em situação de rua foram assassinados no bairro de Cabula VI, em Salvador. As vítimas, identificadas como Itamar Silva de Jesus (23 anos), Rosalvo, Alex e possivelmente Luís Eduardo da Paixão Santos (27 anos), eram catadores de materiais recicláveis e sobreviviam em condições de extrema precariedade. Foram mortos a tiros, com disparos à queima-roupa na cabeça, por homens armados em um Celta preto. Um dos corpos foi encontrado distante dos demais, sugerindo tentativa de fuga.
As investigações, conduzidas pela 11ª Delegacia de Tancredo Neves, foram iniciadas apenas dias depois, sem identificação de suspeitos ou perícia do local, enquanto o silêncio dos moradores reforçava o clima de medo.
A chacina de Cabula VI, em 2010, revela como a morte de pessoas em situação de rua é socialmente tolerada e politicamente administrada como “inevitável”. É mais um caso, que conecta práticas históricas de extermínio (da ditadura aos dias atuais) e reafirma as hierarquias raciais e de classe.
2003-2013: uma década de assassinatos e impunidade em Goiânia
Entre 2003 e 2013, Goiânia foi palco de uma série de homicídios, torturas e desaparecimentos de pessoas em situação de rua ou usuárias de álcool e outras substâncias, frequentemente cercados por indícios de conivência policial. Episódios como a tortura coletiva na Borracharia Serra Dourada (2008), os homicídios em Cachoeira Alta (2006) e Rio Verde (2004 e 2006), o desaparecimento de Célio Roberto Ferreira de Souza e a morte de Jorge Coelho dos Santos (2013) evidenciam a extrema vulnerabilidade desse grupo. Somente ao longo de dez anos, registraram-se 41 mortes, incluindo a de um homem de 40 anos, morto a pedradas e facadas, e de uma criança de 11 anos, assassinada a pauladas.
Apesar de órgãos como a Secretaria de Direitos Humanos e a OAB apontarem a possível atuação de grupos de extermínio, a polícia e o Ministério Público sustentaram a narrativa de “conflitos internos”. O Incidente de Deslocamento de Competência (IDC 3/GO) buscou federalizar os processos diante da impunidade, mas foi rejeitado pelo STJ. Esse quadro expõe um padrão de desresponsabilização estatal, no qual a retórica oficial encobre a ação de grupos organizados e protege instituições locais, neutralizando denúncias de violações sistemáticas.
2015: O herói da Sé
Em 4 de setembro de 2015, na escadaria da Catedral da Sé, em São Paulo, o pedreiro em situação de rua Francisco Erasmo Rodrigues de Lima, um homem negro de 61 anos, foi morto ao intervir para libertar uma jovem mantida refém por Luiz Antônio da Silva, 49 anos. Francisco conseguiu empurrar o agressor, permitindo que a refém escapasse, mas foi alvejado duas vezes e morreu no local.
O suspeito, em seguida, foi morto por disparos de policiais militares. Os dois policiais militares que atuaram na ocorrência estavam vinculados à Operação Delegada e não tinham treinamento adequado para intervenções de crise com reféns.
O caso foi registrado no 1º DP (Sé) e encaminhado ao DHPP, enquanto a Ouvidoria da Polícia de São Paulo criticou o excesso de disparos por parte dos policiais e a não aplicação do chamado “Método Giraldi” de uso progressivo da força. Apesar disso, não há registros públicos de responsabilização penal ou administrativa dos agentes. Em 2019, a Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP) recebeu a propositura do Prêmio Francisco Erasmo Rodrigues de Lima de Proteção às Mulheres, como homenagem simbólica à vítima.
Embora, Francisco tenha protagonizado um ato de cuidado e proteção, sua morte e consequente esquecimento evidenciou as contradições de uma cidade que criminaliza quem vive nas ruas. A opacidade quanto ao desfecho das investigações inscreve-se em um padrão que apaga a dimensão social das mortes de rua. De outro modo, o caso demonstra como a segurança pública recorre à força letal de modo descontrolado, sem construir consenso ou responsabilização.
2017: O catador de Pinheiros
Em 12 de julho de 2017, em Pinheiros (zona oeste de São Paulo), o catador de recicláveis Ricardo Silva Nascimento, 39 anos, um homem negro, foi morto a tiros pelo policial militar José Marques Madalhano, acompanhado do PM Augusto Cesar da Silva Liberali. Ricardo, que trabalhava no bairro, estava com um pedaço de madeira quando foi atingido por dois disparos à queima-roupa. Corintiano, o catador era conhecido como trabalhador e generoso.
Após o crime, a PM retirou o corpo no porta-malas da viatura e recolheu cartuchos, contrariando protocolos da Secretaria de Segurança Pública. A repercussão foi imediata: moradoras e moradores, catadores e coletivos como o Pimp My Carroça realizaram protestos, enquanto a SSP afastou cinco policiais e instaurou inquérito. Em 2019, o Ministério Público denunciou os dois PMs por homicídio qualificado, mas em junho de 2023 a 5ª Vara do Júri absolveu sumariamente os réus, reconhecendo legítima defesa e dispensando o julgamento pelo júri popular.
Além da execução, a manipulação da cena e a oscilação racial entre “pardo” e “negro” nos registros oficiais expressam apagamentos que diluem a gravidade do racismo estrutural. A violência policial contra pessoas em situação de rua, especialmente homens negros, não é exceção.
A sentença de absolvição não apenas encerra o processo, mas reforça a pedagogia da violência: ensina que a morte de um catador pode ser protocolar, enquanto os atos de memória de vizinhos, artistas e movimentos sociais constituem o único contraponto, insistindo em afirmar a dignidade de Ricardo.
2010-2023 – Os assassinatos em Maceió
O caso de Maceió revela uma dinâmica de longa duração, marcada pela repetição cíclica de chacinas e assassinatos de pessoas em situação de rua, acompanhada de narrativas oficiais que naturalizam a violência e esvaziam a responsabilidade estatal. Em 2010, as mortes em série já chamavam atenção. Foram 36 em um único ano.
Contudo, a polícia rapidamente enquadrou os crimes como disputas ligadas ao tráfico, mesmo quando havia denúncias do envolvimento de policiais civis e da atuação de grupos de extermínio. Essa escolha não é neutra: ao deslocar o problema para a figura do “dependente químico”, o Estado reforça o estigma e justifica a inação, em vez de reconhecer que se trata de execuções de caráter sistemático.
Em 2017, o Movimento Nacional da População de Rua denunciava 40 mortes em apenas cinco meses, nomeando o fenômeno como “higienização social”. Vítimas como Rodrigo (20 anos) e “Caroço” foram assassinadas em espaços públicos centrais como o Shopping Popular no terminal da Levada, evidenciando a intenção de expulsar pelo terror essa população do espaço urbano. A polícia, mais uma vez, minimizou os fatos, atribuindo os homicídios a conflitos internos e ao tráfico, o que revela um padrão de criminalização da vítima que serve de álibi para a ausência de investigação.
Em 2023, o cenário se repetiu com uma nova onda de chacinas: 29 mortos em poucas semanas, incluindo uma família inteira baleada enquanto dormia na Praça de Sinimbu.
Essa continuidade revela um processo de criminalização, em que o Estado insiste em explicar os homicídios como “casos isolados” ligados ao tráfico, esvaziando sua dimensão política. Trata-se de uma governança pela coerção, que substitui direitos por repressão contra uma população vista como excedente. A classificação dessas mortes como “limpeza” expõe uma lógica racializada e classista, em que certas vidas são consideradas descartáveis no espaço urbano. A disputa de estatísticas, a recusa em reconhecer padrões de extermínio e a impunidade persistente configuram um regime de gestão pelo terror, normalizando a morte de pessoas em situação de rua como política não declarada de Estado.
2025: Jeferson de Souza no Viaduto 25 de Março
Jeferson de Souza, jovem de 23 anos, natural de Craíbas e que estava em situação de rua no centro de São Paulo, foi executado em 13 de junho de 2025 sob o Viaduto 25 de Março. Ele havia migrado após a morte da mãe e sonhava em ser jogador de futebol. Jeferson trabalhava informalmente e dormia nas ruas. No momento da abordagem, estava rendido, chorando e com as mãos na cabeça, segundo imagens das câmeras corporais; ainda assim, foi executado com 3 tiros de fuzil: na cabeça, no tórax e no braço.
Os suspeitos identificados são o 1º tenente Alan Wallace dos Santos Moreira, autor dos disparos, e o soldado Danilo Gehrinh, que tentou cobrir a câmera antes da execução; um terceiro policial, o motorista Alan Eliel Aquino Vieira, também participou da ação. Os dois principais acusados estão presos preventivamente no Presídio Militar Romão Gomes, após denúncia do Ministério Público de São Paulo por homicídio qualificado. O caso é acompanhado pela Corregedoria da PM e pelo DHPP, enquanto a família, sem recursos, aguarda a liberação do corpo que, dois meses depois da execução, permanece no IML-SP. Neste momento, a Defensoria Pública de São Paulo busca recursos para garantir o traslado do corpo à Alagoas.
A execução de Jeferson também demonstra um padrão estrutural de gestão da pobreza: a execução de um jovem migrante em situação de rua, deslocado para um espaço opaco sob o viaduto, fora do olhar público, revela a lógica de que a presença dos mais pobres deve ser eliminada da paisagem urbana. O uso da força letal contra um corpo precarizado não é exceção, mas parte de uma economia política da letalidade, sustentada por práticas reiteradas de manipulação de narrativas policiais (“resistência seguida de morte”) e neutralização de instrumentos de controle como as câmaras corporais.
Racismo estruturante
Esses casos, separados por mais de cinco décadas, têm um fio condutor: a desumanização sistemática. A rua, na narrativa dominante, é vista como espaço de ameaça, sujeira ou, no máximo, caridade episódica. O Estado, em vez de garantir os direitos fundamentais, opera para manter essa população sob vigilância, dispersão e controle, nem que seja, atuando de maneira letal.
A violência contra a população de rua é naturalizada porque ela se inscreve nas mesmas lógicas que historicamente legitimaram a violência contra negros, indígenas e pessoas empobrecidas.
Segundo o Ipea (2023), o Brasil tem mais de 281 mil pessoas nessa condição, um aumento de quase 40% em quatro anos. O crescimento da população em situação de rua não é mero reflexo de desinteresse governamental ou de crises conjunturais, mas resultado direto de uma estrutura econômica e social que sustenta uma das maiores concentrações de renda e terras do planeta. No Brasil, um punhado de bilionários controla riqueza e recursos de forma obscena, enquanto privilégios no acesso a esses recursos materiais se distribuem de modo desproporcional para manter a população branca no topo das hierarquias de bem-estar.
Na base dessa pirâmide, a população empobrecida e, majoritariamente negra, vive sob condições de superexploração, trabalhando em jornadas extenuantes cujos rendimentos não cobrem sequer metade das despesas básicas com moradia, alimentação, saúde e educação. A mesma pesquisa do Ipea, mostrou que mais de 70% da população de rua é negra (pretos e pardos), reforçando o caráter racializado da exclusão. Estimativas indicam que pessoas em situação de rua têm expectativa de vida entre 45 e 47 anos, contra 75 anos da média nacional. Violência interpessoal e policial, doenças evitáveis e negligência médica são as principais causas de morte entre quem está nas ruas.
A rua, nesse cenário, não é acidente ou consequência inevitável: é um dispositivo funcional, operando como depósito visível dos corpos excedentes ao capital, ao mesmo tempo em que serve como lembrete e ameaça silenciosa aos que ainda mantêm um teto sobre a cabeça.
Tornar a rua desnecessária
O enfrentamento à situação de rua e, sobretudo, à estrutura social que a produz e reproduz, exige mais do que ações paliativas ou medidas emergenciais. A agenda precisa articular memória ativa, combate às violências estruturais, reformas institucionais e políticas públicas de longo prazo, ancoradas na perspectiva de justiça social, racial e territorial.
Relembrar o Massacre da Sé é, antes de tudo, um exercício de ruptura com o esquecimento programado. É recusar a narrativa que transforma mortes como as de Francisco, Ricardo, ou de Jeferson em tragédias isoladas, sem relação entre si. Ao contrário: são capítulos de uma mesma história, escrita sob o peso das desigualdades estruturais, do racismo estrutural e institucional e da economia política que decide quem pode viver com dignidade e quem será empurrado para a margem.
Essas histórias, quando tomadas em conjunto, desvelam a engrenagem que mantém a rua como espaço de sobrevivência forçada.
A resistência a esse modelo exige mais do que a denúncia da violência. Ela demanda uma memória ativa que não se contente em celebrar datas, mas que ocupe espaços públicos e conte histórias de forma a iluminar as estruturas que as produziram. Exige também uma agenda de lutas radical: que vá à raiz do problema, mexendo na forma como a cidade é planejada, a terra é distribuída, a riqueza é acumulada e o trabalho é remunerado.
Tornar a rua desnecessária como moradia não significa apagá-la como espaço de vida, encontro e expressão cultural. Significa garantir que ninguém seja obrigado a viver nela para poder existir. Significa que cada pessoa, independentemente de sua cor, gênero, origem ou condição econômica, tenha acesso aos mínimos sociais que fazem a vida ser digna: moradia adequada, alimentação, saúde, educação, proteção social.
Essa não é uma meta utópica: é um direito humano básico, que só parece inalcançável porque vivemos sob uma ordem que se beneficia da sua negação.
Lembrar é um gesto de insubmissão frente ao esquecimento. É devolver nomes às vítimas e sentido às histórias que o poder tentou apagar. Mas lembrar também é escolha de futuro: ou seguimos administrando a rua como depósito dos corpos excedentes, ou ousamos transformá-la em espaço de vida, encontro e cultura, sem que ninguém precise dela para existir. Entre memória e ação, está a nossa coragem política de construir um país em que a rua não seja sinônimo de abandono, mas de dignidade partilhada.
Agradeço à Alderon Costa, Luciana Marin Ribas e Eduardo Mota muitas das informações que constam no texto, sobretudo nos casos de São Paulo e Goiânia.
Rose Barboza é pesquisadora na Universidade de Brasília e no Centro de Estudos Sociais da Univ. Coimbra. Suas pesquisas se centram na justiça de transição, no sistema punitivo e na situação de rua no Brasil desde uma perspectiva feminista e antirracista.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.