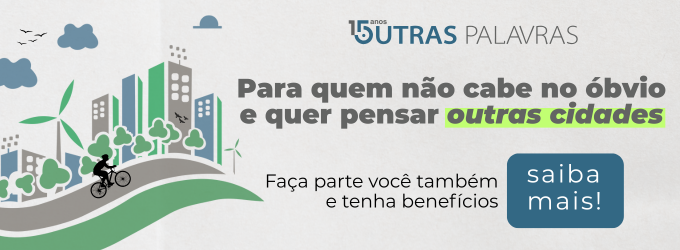Amarelo Manga: Aquilo que nasce na decomposição
Um olhar psicanalítico sobre o premiado filme de Cláudio Assis. Nele, a cor é sintoma e ambiente. Mostra a decomposição sensível: vaza o que a sociedade rejeita e também o gozo destrutivo. Entender exige coragem de escutar o corpo sem nojo, mas também sem falsa compaixão
Publicado 11/08/2025 às 18:33

Este ensaio nasce de uma conversa com a atriz Leona Cavalli (6 de agosto de 2025) na aula inaugural do curso sobre cinema e psicanálise do Instituto Berggasse. Ao revisitar o premiado filme nacional Amarelo Manga (2002), de Cláudio Assis, em que Leona interpretou a inesquecível personagem Lígia – contracenando com Jonas Bloch, Matheus Nachtergaele e Dira Paes, entre outros – constatamos não apenas a atualidade política e estética do filme, mas também a potência que oferece ao pensamento psicanalítico.
1. Constelações da cor: luz, ranço e carne
Cores não se limitam a códigos visuais: no cinema, elas moldam atmosferas, instauram climas psíquicos, impregnam a cena com forças afetivas. No expressionismo alemão, a paleta restrita ou a ausência de cor não eram simples limitações técnicas, mas estratégias para deformar o mundo visível segundo estados interiores, fazendo da luz e da sombra extensões da psique. Décadas depois, na trilogia das cores de Krzysztof Kieślowski, o cromatismo já não traduzia diretamente um universo mental, mas tensionava ideias ético-políticas herdadas (liberdade, igualdade, fraternidade) deixando ver suas fraturas e zonas de sombra. Cláudio Assis confia na cor como operador de sentido, mas um sentido que pulsa no corpo, que fermenta e febriliza a cena. Se o azul de A Liberdade é Azul se dilui em silêncio e perda, se o vermelho de A Fraternidade é Vermelha arde em suspense e vigilância, o amarelo de Amarelo Manga contamina e infiltra, resiste a cristalizações simbólicas. É a cor do pus, da manga madura, desejo suado: carne exposta ao calor da cidade.
O amarelo atravessa diferentes cinematografias como intensidade sensível – mas nunca com o mesmo timbre. Em Wong Kar-wai, por exemplo, ele emana dos letreiros de neon como luz de saudade: tempo filtrado pela memória. Em Godard, irrompe nos cartazes e objetos como ruído gráfico, interferência crítica sobre o mundo da imagem. Em Enter the Void, de Gaspar Noé, o amarelo é alucinação química, vertigem de uma consciência deslocada. E em Trainspotting, sua presença claustrofóbica nos banheiros sujos acentua a podridão vívida da experiência drogada. Já em Amarelo Manga, o amarelo é matéria em decomposição: gordura das carnes penduradas nos ganchos do açougue, bile que oxida, sebo que encarde. Infiltra-se nas paredes da pensão, no lenço sujo de Lígia, nos cartazes e nas vitrines da cidade. Um amarelo que pulsa entre o orgânico e o inorgânico, manga madura e ranço acumulado. Um cromatismo abjetal: o desejo e a repulsa misturados na mesma secreção.
O filme constrói, assim, uma estética cromática do abjeto. Despojado de um sistema de cores regido por conceitos abstratos, Cláudio Assis investe em uma dramaturgia da decomposição sensível. O amarelo é sintoma e ambiente. Penso menos em metáforas do apodrecimento do que na contaminação rítmica entre matéria, corpo e cidade. Nesse campo cromático, o abjeto – como conceituado pela psicanalista búlgara Julia Kristeva – não é o que foi lançado para fora do quadro, mas o obsceno que compõe sua textura íntima. Não se trata apenas daquilo que foi expulso, mas do que continua presente como trauma contaminante – um Recife de feridas craqueladas – imagem que não pode ser limpa, forma que escorre por dentro. O amarelo de Amarelo Manga: corpo que brilha e apodrece ao mesmo tempo.
2. Formas do erotismo destrutivo
Se o amarelo escorre pelo filme como infiltração, pus e gordura, nos corpos ele se faz carne. E o desejo aqui é alucinado, porém matérico – tem cheiro, viscosidade. Cada personagem encarna uma forma pulsional específica, mas é talvez na relação entre Isaac, Lígia e Dunga que o filme se torna, sob a lente da psicanálise, uma cena clínica da pulsão mortífera, do abjeto e da perversão como forma erótica do ódio, nos termos de Robert Stoller.
Isaac, personagem vivido por Jonas Bloch, é o que se satisfaz com a aniquilação do outro, o que só goza onde há controle absoluto. Seu erotismo é feito de cadáveres: pede corpos para se divertir, ordena que um cadáver sorria. Trata-se do gozo perverso em sua sofisticação filosófica; um “pensador” da carne morta, espécie de dândi necrofílico. Como diria Stoller, o prazer perverso se estrutura em torno de um ódio congelado, uma vingança erótica contra aquilo que vive demais. E é exatamente Lígia, vivida por Leona Cavalli, quem encarna o excesso de vida que Isaac precisa subjugar.
Lígia não é símbolo, nem vítima: uma flor de manga no auge da estação. Sua nudez não oferece mistério nem sublimação. Quando enfrenta Isaac e, em resposta ao seu assédio e à sua filosofia abjeta, escancara o sexo diante dele, o gesto é brutal, quase obsceno, mas não se trata de oferta, e sim de interrupção. Um corte. Um desafio. Durante a conversa do nosso grupo de cinema e psicanálise com Leona Cavalli, no dia 6 de agosto de 2025, uma das alunas, Dinalva, interpretou o gesto de Lígia ao enfrentar Isaac mostrando o sexo: “essa manga você não chupa.” O corpo de Lígia não quer ser dominado, morto, estetizado. É desejo no centro do mundo, mesmo quando o mundo está apodrecendo.
Se Isaac encarna o gozo mortífero da perversão, Dunga, interpretado por Matheus Nachtergaele, aparece como o avesso afetivo do mesmo circuito: o ressentido. Funcionário da pensão, move-se nas sombras, observando, desejando sem ser desejado. Ama Kanibal (o açougueiro), mas é por ele constantemente humilhado. Dunga atua como bobo da corte – dançando, se maquiando, se oferecendo – mas também como serpente, tramando a desforra. É ele quem articula a exposição pública do triângulo entre Kanibal, Kika (a esposa religiosa) e sua amante. No fundo, Dunga goza com o que apodrece: é o que espera que a carne se corrompa para poder se infiltrar.
Kika, por sua vez, é a guardiã da Lei – mulher crente, disciplinada, que tenta conter o mundo pela fé. Mas a contenção é frágil: a doutrina se rompe na pele, e ela termina literalmente canibalizando a amante do marido, arrancando com os dentes um brinco da orelha. É a Lei que, diante do excesso, retorna como violência. A santidade que já era desejo, finalmente se revela fome.
E por fim, a velha da pensão: uma mulher que vive nebulizada, tossindo, engasgando. Respira mal, caminha pouco, mas ainda se masturba com o mesmo aparelho de oxigênio que a sustenta. Ela é o gozo em estado de agonia: uma pulsão que não morre, mesmo quando o corpo já não obedece. Uma imagem pura da vida que insiste em gozar mesmo no apodrecimento, e que, por isso mesmo, encarna o abjeto: aquilo que foi expulso, rejeitado, mas que continua ali, infiltrado, respirando, gemendo. Em todas essas figuras, o filme nos obriga a encarar os restos do desejo, aquilo que não se organiza como narrativa, mas pulsa em grunhido, suor, carne, frustração e ódio.
3. Cidade pústula
Se Freud, em O mal-estar na civilização, pensava Roma como uma cidade impossível, onde todos os tempos históricos persistiriam sobrepostos: palácio moderno, templo pagão, ruínas e basílicas se misturando sem apagar-se mutuamente, Amarelo Manga apresenta uma Recife que realiza essa impossibilidade por outros meios: aqui, as camadas são restos orgânicos que fermentam. O que se acumula não são colunas, mas fluidos. A cidade tropical é o inconsciente da cidade moderna: onde Roma conserva, Recife apodrece. E por isso pulsa.
Na Recife de Cláudio Assis, as camadas da história são feridas mal cicatrizadas. A arquitetura colonial não se destaca como herança, mas se dissolve em muros suados, pensões decadentes, igrejas em agonia. O passado – escravocrata, religioso, masculino – continua presente como trauma não elaborado, incorporado aos corpos e aos gestos. O que está em cena é uma modernidade falhada, onde os restos coloniais não viram museu, mas febre. Uma cidade onde a santidade se torna caquética e a moralidade religiosa se contorce em êxtase artificial.
Kristeva define o abjeto como aquilo que perturba a ordem, que ameaça os limites do Eu, que irrompe como crise do sistema simbólico. A cidade em Amarelo Manga é abjetal nesse sentido: não por ser feia ou suja, mas por tornar impossível qualquer limpeza simbólica. A linha entre o sagrado e o profano, o vivo e o morto, o Eu e o outro, torna-se turva. A velha que se masturba com o oxigênio, os bares que misturam gozo e vômito, os salmos entoados entre dentes e gemidos, tudo colapsa fronteiras.
Mas há algo ainda mais profundo. A cidade é também a montagem de uma genealogia racial e sexualizada do poder. Os corpos em cena são racializados, domesticados, enjaulados ou rebelados. Os desejos que circulam entre eles carregam o peso de uma história violenta: desejo de pureza, desejo de castigo, desejo de domínio. Essa Recife não é cenário, mas aparelho psíquico. Seu calor é pulsional. O espaço urbano aparece como o que Freud talvez chamasse de “formação de compromisso”: entre a selva e o concreto, entre a colônia e a rebelião. Como cidade-pústula, Recife é corpo: tecido inflamado, coberto de secreção. Um corpo social marcado por forças que se batem, se sobrepõem, se recusam a formar um todo.
4. Irradiação: olhar analítico e o espectro do amarelo
A retina do espectador capta resíduos, frequências, vibrações. O amarelo de Amarelo Manga é radiativo. Um pigmento em estado de alerta, como o cromato de chumbo ou o amarelo de cádmio, instável, tóxico, presente nas peles febris, nos líquidos do corpo em falência, nos vitrais queimados de sol das igrejas coloniais. Há algo nesse amarelo que não ilumina: aquece até o limite da combustão. Como se, entre o calor e o apodrecimento, a carne e a luz se tornassem indistintas.
Essa irradiação atinge também o analista que assiste. Sua escuta, normalmente afinada para a pulsação das palavras, precisa aqui reorganizar sua paleta: escutar pelas cores, pelos contrastes cromáticos entre a pele exposta e os ambientes opressivos, entre os gestos e os restos. A psicanálise, como a pintura, opera com camadas: de matéria, de tempo, de desejo.
Mas ao contrário da pintura que fixa, Amarelo Manga vibra como um corpo febril. E exige que o olhar clínico abandone sua pretensa neutralidade. Não há posição externa possível diante da cena. Ver esse filme é ser lançado dentro dele, como se a câmera colasse na epiderme dos personagens e não permitisse distância. É aí que o abjeto se torna método: não porque tematiza a decomposição, mas porque dissolve os limites entre forma e fundo, entre observador e observado.
Julia Kristeva sugere, em sua escrita sobre o abjeto e nos contextos clínicos, que aquilo que ameaça o sujeito também pode impeli-lo ao limiar de transformações subjetivas, especialmente quando não é apenas recalcado, mas enfrentado como força de ruptura simbólica. É possível ver essa ética na maneira como Cláudio Assis filma o que a civilidade tentaria sepultar. Há desejo no modo como ele filma as vísceras, os sorrisos, a merda, o gozo, os becos e os azulejos descascados. Seu gesto lembra aquilo que Kristeva identifica na arte abjeta: a capacidade de construir sentido a partir da decomposição do sentido. Não para resolver o enigma do corpo, mas para escutá-lo até sua última camada de ruído.
Nessa insistência, talvez a psicanálise tenha algo a aprender com o cinema de Assis. Seu olhar se sustenta na podridão – não exige formas claras, nem verdades recortadas, mas se interessa por aquilo que vaza, por aquilo que não se deixa nomear sem escândalo. Escuta do amarelo, da pele, da bile, da excreção. Escuta do riso que explode em meio à dor, do sexo que insiste mesmo quando tudo se estraga. Não se trata de purgar o abjeto, mas de habitá-lo como quem reconhece aí uma ética da carne, do corpo e do tempo (sempre em estado de decomposição).
5. Cinema e psicanálise abjetal
Na superfície suada de Amarelo Manga, pulsa algo que a psicanálise não pode simplesmente redimir. A escuta do abjeto talvez seja menos do que um projeto de cura. Nem toda decomposição regenera. Nem todo excesso liberta. Há cenas que nunca se resolvem – apenas permanecem, fermentando. Há corpos que já não pedem linguagem, mas resistência. O cinema de Cláudio Assis nos aproxima dessa zona-limite: onde o desejo se contorce, onde a carne e a palavra se estranham, mesmo íntimas.
Na clínica, esse campo é delicado. Escutar o abjeto exige mais do que abertura: exige discernimento. Pois o que vaza – o que a sociedade rejeita – pode ser vida sufocada, mas pode também ser gozo destrutivo, insistência mortífera, repetição sem trabalho. Freud sabia disso ao descrever a pulsão de morte, não como ausência de vida, mas como seu movimento em falso, sua curvatura entrópica. Kristeva retoma essa ambivalência ao dizer que o abjeto, embora vital em sua irrupção, pode paralisar a subjetividade, colando-a a um gozo sem outro.
Não há romantização possível aqui. Um cinema que nos lança nos intestinos da cidade não oferece redenção. Mas também não nos autoriza a recuar. A posição analítica, tal como essa câmera encostada de Assis, desiste de explicar – acompanha. Corpo a corpo. Ruído a ruído. Às vezes, o que emerge é um gesto de resistência, como o sexo que se recusa a ser cadáver. Outras vezes, é apenas a violência que gira, insaciável, sobre si mesma.
A escuta abjetal também é aposta e risco. Não oferece mapa, mas topografia movediça. Amarelo Manga nos ensina isto: que a cidade – essa Recife que sangra pelos becos, que respira por entre gases e preces – é também sujeito. Sujeito em colapso, sujeito em delírio, em erupção. Cabe à psicanálise a coragem de escutar esse corpo sem nojo, mas também sem falsa compaixão.
O filme, como a análise, torna-se território de contato com o que não se limpa. Um contato que pode ferir, mas também deslocar. E, às vezes, é só isso que se pode esperar de um gesto ético: que nos tire do lugar, que nos obrigue a respirar outro ar – mesmo que seja o ar denso de um quarto de pensão ou de um corpo prestes a explodir de tanto reter o que não cabe mais em silêncio.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras