Os olhos de Jean-Claude
Uma entrevista inédita com o crítico e cineasta, que morreu neste sábado. O desejo de libertar o cinema das palavras “ficção” e “documentário”. Seu processo criativo: “responder a estímulos”. E a relação conturbada com Glauber Rocha: “éramos irmãos inimigos”
Publicado 14/07/2025 às 18:47 - Atualizado 14/07/2025 às 19:13

Jean-Claude Bernadet em entrevista a Rôney Rodrigues
Se coloque no lugar dele.
Você é Jean-Claude Bernardet, nasceu na Bélgica em 1936 e foi morar na França ocupada pelos nazistas, veio para Brasil com família aos 13 anos, se tornando um dos maiores intelectuais do país. Você tem renome, é ensaísta, ex-professor de importantes universidades, crítico de cinema, diretor do premiado “São Paulo, Sinfonia e Cacofonia” e de outras importantes produções. É roteirista de sucesso e ainda se arrisca como ator. Além disso, você também inventou o Combina-Cor, um famoso joguinho da Grow que mistura dominó e paciência.
Você já assistiu milhares de filmes e muitos deles centenas de vezes. Percorreu lugares remotos do país com um projetor pelo puro amor ao cinema. Isso com filmes politizados do Cinema Novo e com uma claustrofóbica Ditadura Militar em seu pé. Conheceu praticamente todos os grandes cineastas que o Brasil tem ou teve. Sua voz é respeitada, você dedicou sua vida ao cinema, a olhar imagens em movimento projetadas magicamente em um telão. Agora você está quase cego. Um ressecamento da membrana que envolve seu olho se iniciou há alguns anos e a gradativa perda da visão é inexorável.
Você aguarda num misto de inconformismo e força-relutante o dia em que o mundo ficará escuro por completo sob o prisma de sua visão. Ainda sim, você vai a Festivais, os convites são muitos. A paixão, idem. A imagem é embaçada e seu pesar é grande por não entender o idioma de alguns filmes, como em uma respectiva de filmes africanos, o que dificultou muito sua apreensão das obras. E seu prazer, claro. Para escrever, você se mune de grossas lentes e lupas. Você produz, sua subjetividade não pode ser freada, coisas precisam ser ditas mesmo se custassem um esforço hercúleo. O seu telefone toca. É um estudante de jornalismo. Você atende. E é claro, você pode dar uma entrevista.
Mais de uma década depois, você morre numa manhã de sábado, 12/7. Além da degeneração ocular, você convivia com o HIV e um câncer reincidente na próstata que decidiu não tratar com quimioterapia, questionando altivamente que prorrogação da vida em si, mesmo quando gere mais sofrimento, seria boa: “não me tratam com pessoa além do câncer, nem discutem o tema básico: devo me submeter à agressividade do tratamento? Estou me libertando desta máquina infernal. Sinto-me leve”, você já havia escrito em um artigo ao Outras Palavras.
Hoje, aquele jovem que te telefonou, que aprendeu tanto com seus livros, filmes e até com a única conversa de pouco mais de uma hora que vocês tiveram, vem prestar sua homenagem. Infelizmente, você não lerá. Mas não pense hoje o que você pensou ontem, é o que você sempre dizia, não é mesmo?
Como foi sua infância na França ocupada pelos nazistas?
O meu pai estava na Resistência e, portanto, durante os tempos de guerra eu não o vi muito. Então passamos uma parte da guerra em Paris, na casa de meus avós, depois saímos de Paris e fomos para uma casa que ficava numa pequena cidade, um vilarejo fora de Paris, onde não havia bombardeios.
Como foi o primeiro contato com São Paulo? Foi mais cacofonia ou sinfonia?
Nós chegamos ao Rio e tomamos o avião para São Paulo. Ficamos no Hotel São Paulo, se não me engano ficava na Praça das Bandeiras. E foi uma São Paulo cacofonia. Eu me lembro da minha mãe abrindo a janela, olhando a cidade e dizendo: “Essa cidade me apavora”.
Além de cineasta, roteirista e crítico de cinema, o senhor também é ator. É prazeroso se ver na tela?
Esse é um assunto muito delicado para mim. Na verdade, não é prazeroso, sempre sofro muito, não suporto minha imagem e tudo que faço acho muito ruim. Nos anos 1960, fiz várias pontas em diversos filmes, eu considerava importante para a formação do crítico se encontrar em equipes. Frequentei montagens, sets de filmagens, e acreditando que como observador também não era suficiente, entrei no meio, mas com a ideia de ter outros pontos de vistas além daquele do “espectador dentro da sala de cinema”. E não foi só isso, também fui roteirista do Joaquim Pedro [de Andrade] e do [Luis Sérgio] Person, fui assistente de direção do João Batista [de Andrade]. Eu tive uma visão diferenciada da equipe. Quanto a minha imagem e a minha voz, eu sempre achei bastante desagradável… Na verdade, insuportável. No entanto, em Filmefobia [2009, de Kiko Goifman], passei a superar essa dificuldade, é um dos meus maiores e melhores papéis. No Filmefobia, eu até me acho legal.
Um aspecto interessante de Filmefobia é que ele abole as fronteiras clássicas entre o ficcional e o documental.
Eu diria o seguinte: não há nenhuma tentativa de eliminar ou diluir as fronteiras entre ficção e documentário. Simplesmente, existe a vontade de acabar com essas duas palavras. Eu não sei se o Kiko assume isso, acho que não tanto quanto eu, porque ele brinca muito se é ficção ou documentário, mas essas duas palavras são absolutamente equivocadas e se mantém, talvez, apenas porque são uteis para pensar. Porém elas dificultam o acesso a obras que tentam ser inovadoras. Essas palavras não se aplicam a Filmefobia, como também não se aplicam a Serra da Desordem [2006, de Andrea Tonacci] e a Jogo de Cena [2007, de Eduardo Coutinho]. Precisamos não tentar projetar sobre as obras o nosso vocabulário e os nossos conceitos, mas tentar absorver alguma coisa dessas obras mesmo que, como acontece atualmente, não tenhamos palavras para isso. Só a obra propriamente dita vai além da nossa possibilidade de linguagem. Derrubei o seu questionário?
Absolutamente. Eu especulava sobre uma permeabilidade entre esses dois conceitos como nova forma narrativa, mas o senhor demonstra que o conceito em si já é simplista.
Essa divisão foi criada há muito tempo, baseada nos irmãos [Auguste e Louis] Lumière e [George] Méliès. Os Lumière criam a vertente documentário, Méliés a vertente ficção. Méliès, eu não sei exatamente em que ano, filmou a coroação do rei da Inglaterra. Ele encenou essa coroação e a noite projetou a película em Londres. No dia seguinte, soube-se que tinha chovido tanto em Londres que a coroação havia sido adiada. No entanto, na véspera Méliès apresentou a coroação. Quanto à saída dos operários da fábrica dos irmãos Lumière, ela foi filmada no mínimo cinco vezes. Ela é encenada. O problema é esse: estamos acostumados a ter um pensamento binário, é sim ou não, é preto ou branco, é ficção ou documentário. Temos que fazer um enorme esforço para sair desse pensamento porque não é verdade que a história do cinema esteja estruturalmente apoiada nessa divisão. É uma total ilusão essa divisão.
Como surgem as ideias de roteiros, como por exemplo, o de Céu de Estrelas [1996, de Tata Amaral], que foi muito elogiado e que, entre outros prêmios, ganhou de melhor roteiro no Festival de Brasília.
Todos os roteiros que fiz sempre foram a partir de estímulos, nunca escrevo a partir de ideias próprias. E no Céu de Estrelas – que é a adaptação de um romance do Fernando Bonassi – a Tata já tinha três roteiros. Um escrito por ela, que ela não gostou. O do Fernando e que ela também não gostou e um terceiro, que ela encomendou de um roteirista profissional, e que também não a agradou. Ela disse que queria falar comigo e que não sabia o que fazer. No romance, o personagem principal é o homem e o feminino é realmente um personagem secundário sobre o qual temos pouquíssimas informações. Descobri é que uma das razões que fazia a Tata não gostar desses roteiros já escritos é que ela não queria e não faria um filme cujo personagem principal fosse um homem. Somente depois de uma longuíssima conversa fui perceber isso, então inverti a estrutura: a Dalva vai ser a personagem principal e vamos inverter a estrutura do romance, eliminando quase tudo sobre o homem e inventando sobre a mulher. A minha atitude é resolver um problema e esse era um problema para a Tata. Outro problema é que um dos roteiros era totalmente “filme policial”, com vários policiais cercando a casa, viaturas, sequestro, imagens noturnas. A Tata me disse que não teria dinheiro para isso e pediu que a dramaturgia tivesse relações harmônicas com as dificuldades de produção. Aí tomei a decisão: “Vamos filmar dentro da casa e ponto final”. Tudo que for exterior nos dirá através de luzes e som. E, consequentemente, barateou consideravelmente o filme. Então eu trabalho muito dessa forma, tentando equalizar as coisas, solucionando equações, nunca trabalho sistematicamente.
Quando não se tem o azul, uso o amarelo, disse uma vez Picasso.
Pois é, é isso. Exatamente isso.
Uma obra clássica é São Paulo, Sinfonia e Cacofonia, em que o senhor utiliza diversos fragmentos de outros filmes, de maneira intertextual. Essa obra nasceu da importância que o senhor dá para montagem em uma produção?
Nasceu da mesma forma que Céu de Estrela. Um dia estava na ECA [Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo-USP], me dirigindo para a sala de aula. A chefe de Departamento me disse: “Ah, eu esqueci… a reitoria tem uma verba para pequenas pesquisas e esqueci de falar para você, seria bom apresentar algo, só que fecha amanhã as inscrições”. Quando voltei da aula, escrevi algumas linhas e tentei. Escrevi sobre São Paulo no cinema, algo que poderia ser um ensaio, um catálogo, talvez um levantamento da cidade no cinema brasileiro. Ganhamos a pesquisa e formamos um grupo de professores e alunos da ECA e da FAU [Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, também da USP] e começamos a ver filmes, a discutir a presença da cidade no cinema, a fazer fichas e palavras-chaves. Só que o projeto cresceu e não poderíamos apresentar à FAPESP [Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo] apenas um catálogo, então fizemos dois filmes e editamos no departamento. Havíamos comprado na Itália uma moviola, que na época era uma puta moviola, e produzimos o som digital também no departamento. A partir disso, São Paulo, Sinfonia e Cacofonia foi feito. Minha vida é feita disso: respostas a estímulos. Quando eu percebo bem um estimulo, sai uma boa resposta, quando eu percebo mal, vira uma catástrofe.
E como o senhor respondeu aos estímulos de Paulo Emilio Salles Gomes?
O do Paulo Emílio eu respondi muito bem, acho eu. Ele foi a primeira pessoa adulta de outra geração que me levou a serio. Me achava um cara que tinha possibilidades. Mas eu era muito tímido e fechado e o Paulo me convenceu de meu potencial, me desafiava. “Você vai fazer isso!”, “Mas Paulo…” “Você vai escrever!”. E foi assim. O Paulo é uma pessoa que transformou a minha vida, pelo seu humor, pelos seus paradoxos e pelo desafio de me colocar em situações que eu teria que me superar. Mas tudo isso com muita simpatia. Foi uma relação extraordinária. Eu até fico emocionado de lembrar.
E aos estímulos, ou desestímulos, do Glauber Rocha?
Para falar a verdade, eu não respondi aos estímulos do Glauber Rocha. Porque como você sabe o Glauber me atacava muito, com boatos, mesquinharias e coisas desse tipo. Eu não respondi a isso porque entraríamos num tipo de briguinha e ressentimento, e eu odeio isso. E, por outro lado, Glauber e eu nos admirávamos e nos respeitávamos ostensivamente, os contatos pessoais que eu tive com ele sempre foram muito bons. Essas brigas só apareceram fora e na imprensa. Um dia ele se encontrou com o Mauricio Gomes Leite, um cineasta mineiro que tinha feito Vida Provisória [1968], e ele perguntou pro Glauber: “Mas por que você sempre ataca o Jean-Claude?”. O Glauber respondeu: “Mas se eu não atacar o Jean-Claude, eu vou atacar quem?”. Éramos, mais ou menos, os “irmãos inimigos”, foi uma forma bastante rica de dialogarmos. Sempre foi uma troca muito grande e não foram essas notas ácidas e ásperas nos jornais e nos bares, e olha que ele soltava horrores, que afeta a admiração que sinto por ele como cineasta e o amor que tenho por seus filmes.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras

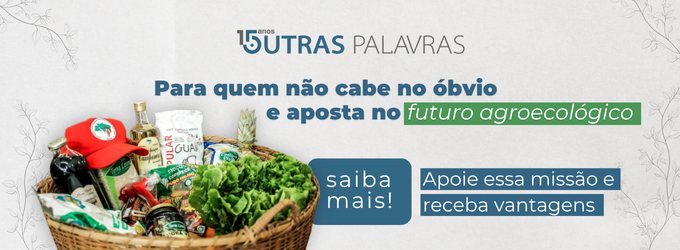

Um elogio amoroso ao Roney pela velhas memórias do gigante Jean-Claude Bernardet!