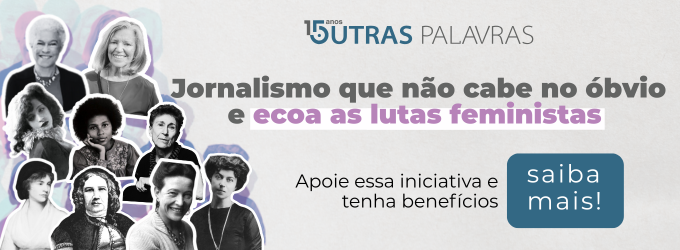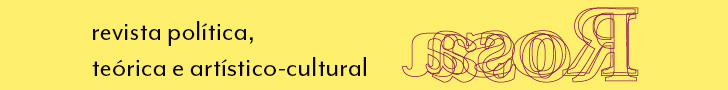Adolescência: O que fazer no ambiente escolar?
Série suscitou debates nas escolas brasileiras. O medo, que é agora companhia constante, afeta em especial os muito jovens – que buscam construir sua autonomia, mas vivem ambiente opressor. Poderia a educação estimular sua confiança, oferecendo cuidado e afeto?
Publicado 14/04/2025 às 19:37

O impacto da minissérie Adolescência, criada por Jack Thorne e Stephen Graham e com ampla repercussão global, é bastante significativo. Certamente revela nuances importantes dos modos pelos quais estamos construindo nossas relações com as futuras gerações. Apresenta os desafios de produzir acompanhamentos às experiências digitais que adolescentes e jovens têm vivenciado na última década, bem como revela a própria crise institucional – incluindo as escolas e as famílias – para oferecer apoio e compreender as demandas que emergem neste tempo. Não pretendo comentar a qualidade desta produção, muito menos o seu potencial explicativo para a experiência subjetiva de adolescentes no século XXI. Minha intenção, neste breve texto, é problematizar a recepção desta minissérie em comunidades educativas – envolvendo pais, mães, cuidadores, cuidadoras, educadores ou educadoras – notadamente chamando atenção para certa ubiquidade do medo que tem povoado os debates nas redes sociais (e os comentários especializados nas últimas semanas).
“Vocês já assistiram a série Adolescência?”. “Temos que conversar sobre aquilo que eles estão fazendo?”. “Precisamos criar rodas de escuta com as famílias?”. Nas últimas semanas, com maior ou menor recorrência, fomos interpelados por cenas deste seriado da Netflix. Perguntas como essas mereceriam uma resposta positiva, não há dúvidas. As temáticas atinentes à adolescência precisam de uma atenção pedagógica aos desafios que carregam e se constituem como a principal debilidade técnica das políticas para as séries finais do ensino fundamental e do ensino médio, nas últimas décadas. O mais importante pilar da relação educativa com adolescentes, em sociedades democráticas, é a confiança. Em um momento da vida em que as lutas pela autonomização estão em evidência, o fortalecimento das relações de confiança (assentadas também no cuidado, na proteção e na afetividade) merece nossa atenção. Por isso que escolhi, neste momento, dirigir um olhar atento para a repercussão da minissérie Adolescência em comunidades educativas.
Relatam historiadores, como Jean Delumeau, que a experiência de vida na Europa no século XVI era marcada pela sensação de medo. O medo estava em todos os lugares, em especial à noite, quando a escuridão representava a presença de inseguranças e incertezas. O advento da Modernidade reconfigurou a experiência do medo, redimensionando esta percepção de ubiquidade. O planejamento urbano, a saúde coletiva, a iluminação ou mesmo a possibilidade de enviar as crianças para espaços seguros (como as escolas) reconfiguraram a experiência coletiva do medo. Certamente que populações vulneráveis continuaram mais expostas; todavia, os temores adquirem nova forma tornando-se menos difusos.
As variadas formas de proteção da vida, a defesa dos direitos humanos e a construção dos sistemas modernos de justiça – a partir da própria presença do Estado Moderno – tiveram contribuições importantes para alterar essa situação. Os avanços tecnocientíficos e a melhoria das condições de vida e de trabalho permitiram algum tempo para nos distanciarmos dos medos ubíquos. O medo é um ‘sentimento conhecido por todas as formas vivas’, mas enfrentado por diferentes camadas de proteção. Zygmunt Bauman (2022), em sua obra Medo líquido, auxiliou-nos a compreender o atual estágio dos medos modernos, em um cenário em que o Estado redesenha as suas camadas de proteção – esvaziando sua cobertura e delegando responsabilidades aos próprios indivíduos. Nas palavras do sociólogo, “o Estado, então, rebaixa a luta contra os medos para o domínio da ‘política de vida’, dirigida e administrada individualmente, ao mesmo tempo em que o suprimento de armas de combate está no mercado de consumo” (2022, p. 11).
À medida em que as camadas de proteção vão sendo redesenhadas e que o próprio sentimento de proteção está sendo desabilitado, mais uma vez na história voltamos a nos deparar com a ubiquidade do medo.
O que mais amedronta é a ubiquidade dos medos; eles podem vazar de qualquer canto ou fresta de nossos lares e de nosso planeta. Das ruas escuras ou das telas luminosas dos televisores. De nossos quartos e de nossas cozinhas. De nossos locais de trabalho e do metrô que tomamos para ir e voltar. De pessoas que encontramos e de pessoas que não conseguimos perceber. De algo que ingerimos e de algo com o qual nossos corpos entraram em contato (Bauman, 2022, p. 11).
O retorno da ubiquidade do medo, hodiernamente, expõe um interminável inventário de novos perigos, como nos lembra Bauman; e, por outro lado, redireciona nossas existências para a busca permanente de novas proteções. Neste início de século, os medos “passaram a ser companhias permanentes e indissociáveis da vida humana” (2022, p. 14). Quando as sociedades, aos poucos, vão sendo individualizadas a própria composição dos laços sociais vai sendo repensada. Relações baseadas na confiança ou mesmo na autoridade deixam de ser transparentes e sua aceitação tende a declinar (Sennett, 2012).
Todavia, ainda que a proteção seja um atributo educativo fundamental, a luta contra os medos não se configura como um afeto pedagógico capaz de estimular nossa crítica e nossa criatividade para enfrentar os desafios da vida contemporânea. Notadamente no que se refere à adolescência, estes desafios adquirem complexidade, uma vez que – como nos lembra J.-D. Nasio (2011), o jovem de hoje é “um ser conturbado que, sucessivamente, corre alegre à frente da vida e para de repente, arrasado, desesperançado, para deslanchar novamente, arrebatado pelo fogo da ação. Tudo nele é contraste e contradição” (p. 15).
Disso deriva a importância da confiança enquanto um princípio básico para a educação destes sujeitos. À medida em que o ambiente educativo, ainda que afetuoso e protetor, esteja preenchido pela ubiquidade do medo estamos desabilitando o necessário caminho de conquista da autonomia. A adolescência “é repleta de provações difíceis de ritualizar”, tal como adverte o antropólogo David Le Breton (2017), demandando uma atuação pedagógica atenta e estimulante. Em sociedades democráticas, a educação dirigida para a autonomia é uma de nossas melhores heranças.
Enfim, no decorrer deste breve texto, procuramos construir uma argumentação a respeito da recepção da minissérie Adolescência nos debates educacionais das últimas semanas. Trata-se de uma importante produção – com notável qualidade técnica – que nos oferece preocupações pertinentes, particularmente no que se refere ao acolhimento, à escuta e ao cuidado com as experiências formativas das futuras gerações. Ainda que revestida de tons progressistas, merece atenção a possibilidade de um revivescimento de uma agenda moralizante na educação de adolescentes e jovens. Em sociedades democráticas – como aquelas que desejamos viver – a conquista da autonomia requer um ambiente pedagógico marcado pela confiança. Nossa coragem de educar precisa resistir à ubiquidade do medo!
Referências:
BAUMAN, Z. Medo líquido. Rio de Janeiro: Zahar, 2022.
LE BRETON, D. Uma história da adolescência. Belo Horizonte: Editora PUC-Minas, 2017.
NASIO, J. Como agir com um adolescente difícil?. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.
SENNETT, R. Autoridade. Rio de Janeiro: Record, 2012.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras