Em busca de ideias-força para mudar o mundo
Iluminismo, Marxismo e Neoliberalismo surgiram às margens, mas transformaram as sociedades de seu tempo. Que novas análises, necessariamente cáusticas e desafiadoras, poderão sacudir a ordem que nos atormenta e aprisiona?
Publicado 27/03/2025 às 20:17 - Atualizado 23/12/2025 às 18:03

Por Perry Anderson, na New Left Review | Tradução: Antonio Martins
Quão importante é o papel das ideias, nas convulsões políticas que marcaram as grandes mudanças históricas? Seriam elas meros epifenômenos mentais de processos materiais e sociais muito mais profundos, ou possuiriam um poder autônomo decisivo como forças de mobilização política?Ao contrário do que parece, as respostas a essa questão não dividem nitidamente Esquerda e Direita. Muitos conservadores e liberais, é claro, exaltaram o significado transcendente de ideais elevados e valores morais na história, denunciando como materialistas vulgares os radicais que insistem que as contradições econômicas são o motor da mudança histórica. Exemplos modernos famosos desse idealismo de Direita incluem figuras como Friedrich Meinecke, Benedetto Croce ou Karl Popper. Para esses pensadores, nas palavras de Meinecke: “Ideias, carregadas e transformadas por personalidades vivas, constituem a trama da vida histórica.” Mas podemos encontrar outras grandes figuras da Direita que atacam as ilusões racionalistas na importância de doutrinas artificiais, defendendo contra elas o significado muito mais duradouro dos costumes tradicionais ou dos instintos biológicos. Friedrich Nietzsche, Lewis Namier, Gary Becker foram todos—de diferentes perspectivas—teóricos dos interesses materiais, empenhados em esvaziar sardonicamente as pretensões dos valores éticos ou políticos. A teoria da escolha racional, hegemônica em amplas áreas das ciências sociais anglo-saxãs, é o paradigma contemporâneo mais conhecido desse tipo.
1
Essa mesma bifurcação, no entanto, pode ser encontrada na Esquerda. Se observarmos os grandes historiadores modernos de esquerda, encontraremos completa indiferença ao papel das ideias em Fernand Braudel, em contraste com o apego apaixonado a elas em R. H. Tawney. Entre os próprios marxistas britânicos, ninguém confundiria as posições de Edward Thompson, cuja obra de uma vida foi uma polêmica contra o que ele via como reducionismo econômico, com as de Eric Hobsbawm, cuja história do século XX não contém seções separadas dedicadas às ideias. Se olharmos para os líderes políticos, a mesma oposição se repete de forma ainda mais incisiva. O movimento é tudo, o objetivo é nada, proclamou Bernstein. Poderia haver uma desvalorização mais drástica dos princípios ou ideias, em favor dos meros processos factuais? Bernstein acreditava estar sendo fiel a Marx ao pronunciar este ditame. No mesmo período, Lênin declarou – em uma máxima igualmente famosa, de efeito exatamente antitético – como algo que todo marxista deveria saber, que “sem teoria revolucionária, não pode haver movimento revolucionário”. O contraste aqui não era apenas entre reformista e revolucionário. Nas fileiras da própria esquerda revolucionária, encontramos a mesma dualidade. Para Luxemburgo, como ela mesma disse, “no princípio era o ato” – não qualquer ideia preconcebida, mas simplesmente a ação espontânea das massas era o ponto de partida para grandes mudanças históricas. Os anarquistas nunca deixaram de concordar com ela. Para Gramsci, por outro lado, o movimento operário jamais poderia obter vitórias duradouras sem alcançar uma ascendência ideal – o que ele chamava de hegemonia cultural e política – sobre a sociedade como um todo, incluindo seus inimigos. À frente de seus respectivos Estados, Stalin relacionou a construção do socialismo ao desenvolvimento material das forças produtivas, e Mao a uma revolução cultural capaz de transformar as mentalidades e a moral.
2
Como arbitrar essa antiga oposição? As ideias vêm em diferentes formas e tamanhos. Aquelas relevantes para grandes mudanças históricas são tipicamente ideologias sistemáticas. Göran Therborn ofereceu uma taxonomia penetrante e elegante dessas ideologias em um livro cujo próprio título — A Ideologia do Poder e o Poder da Ideologia (1980) — nos fornece um programa. Ele divide as ideologias em tipos existenciais e históricos, inclusivos e posicionais. Dentre elas, aquelas com maior alcance espacial ou temporal foram caracterizadas por um traço talvez melhor captado pelo conservador inglês T. S. Eliot em suas Notas Para a Definição de Cultura (1948). Podemos facilmente substituir sua noção de “cultura” pelo termo “ideologia”. A observação-chave de Eliot foi que qualquer sistema de crenças importante constitui uma hierarquia de diferentes níveis de complexidade conceitual, indo desde construções intelectuais altamente sofisticadas no topo — acessíveis apenas a uma elite educada — passando por versões mais amplas e menos refinadas em níveis intermediários, até as simplificações mais cruas e elementares em um nível popular: todas elas, no entanto, unificadas por um único idioma e sustentadas por um conjunto correspondente de práticas simbólicas. Apenas tal sistema totalizado, argumentou ele, seria digno do nome de uma cultura verdadeira e capaz de gerar grande arte.”
3
Eliot pensava, é claro, no cristianismo como o exemplo primordial desse sistema, unindo as mais arcanas especulações teológicas a prescrições éticas familiares e superstições populares ingênuas em uma única fé abrangente, sustentada por histórias e imagens sagradas de um repertório comum de fontes escriturísticas. As religiões mundiais que emergiram na chamada Era Axial certamente oferecem um teste inicial impressionante para qualquer hipótese sobre o papel das ideias em grandes mudanças históricas. Poucos duvidariam do impacto enorme desses sistemas de crença sobre vastas áreas do mundo e ao longo de milênios. Também não é fácil identificar suas origens em convulsões materiais ou sociais precedentes em qualquer escala comparável à sua própria influência transformadora e difusão. No máximo, poderíamos dizer que a unificação do mundo mediterrâneo pelo Império Romano forneceu um cenário institucional favorável para a propagação de um monoteísmo universalista, como o cristianismo, ou que um nomadismo militarizado em um ambiente desértico sob pressão demográfica provavelmente encontraria, cedo ou tarde, uma expressão religiosa distinta, como o islã. A desproporção entre causas imputáveis e consequências verificáveis parece ser um argumento forte a favor de conceder um poder autônomo notável — até mesmo extraordinário — às ideias nas civilizações daquela época.
O impacto político dessas religiões não era, é claro, estritamente comparável. O cristianismo converteu gradualmente um universo imperial existente a partir de dentro, sem qualquer alteração significativa de sua estrutura social. Mas, ao criar na Igreja um complexo institucional paralelo ao Estado, e que sobreviveu ao colapso final do império, garantiu continuidades culturais e políticas mínimas para a subsequente emergência do feudalismo. O islã, em contraste, redesenhou todo o mapa político do Mediterrâneo e do Oriente Médio de uma só vez, por meio de uma conquista militar relâmpago. Ainda estamos na Antiguidade, no entanto. Em ambos os casos, os sistemas de crença que conquistaram a região o fizeram sem o que mais tarde descreveríamos como uma batalha de ideias. Nenhuma luta ideológica sustentada foi travada entre pagãos e cristãos, ou entre cristãos e muçulmanos, quando os termos da crença mudaram, em Roma ou no Cairo. A conversão ocorreu essencialmente por osmose ou força, sem colisão ideológica articulada.
4
Ao passarmos para a época moderna, as coisas são diferentes. A Reforma Protestante, ao contrário dos ensinamentos de Cristo ou Maomé, foi desde o início um sistema doutrinal escrito — ou melhor, um conjunto deles — desenvolvido nos textos polêmicos de Lutero, Zwínglio e Calvino, antes de se tornar uma força maior ou poder institucional. Menos distante no tempo, é mais fácil rastrear as condições sociais e materiais imediatas de seu surgimento: a corrupção do catolicismo renascentista, o surgimento do sentimento nacional, o acesso diferenciado dos Estados europeus ao Vaticano, a chegada da imprensa, e assim por diante. O que chama a atenção é outra coisa: o surgimento da Contrarreforma dentro da Igreja Católica e, com ela, uma batalha ideológica total entre os dois credos, sustentada nos mais altos níveis do debate metafísico e intelectual, assim como por todos os meios conhecidos de propaganda popular — devemos o termo a esta época — desencadeando uma série titânica de rebeliões, guerras e guerras civis por toda a Europa. Aqui, como nunca, as ideias parecem desencadear e moldar a mudança histórica. De fato, nenhuma revolução subsequente seria provocada tão diretamente por questões de crença intelectual quanto os primeiros grandes levantes que levariam à formação dos Estados modernos na Europa: a Revolta dos Países Baixos contra a Espanha no século XVI, e a Grande Rebelião e a Revolução Gloriosa na Inglaterra no século XVII. Em todos os três casos, o deflagrador imediato da revolução foi um surto de paixão teológica: a quebra de imagens sagradas em nome da pureza escriturística nos Países Baixos, a imposição de um novo livro de orações na Escócia, a ameaça de tolerância católica na Inglaterra.
5
Em comparação, as eclosões das Revoluções Americana e Francesa no século XVIII foram muito mais materialmente determinados. Em nenhum dos casos um sistema desenvolvido de ideias motivou o ataque inicial à antiga ordem — colonial ou real. Nas colônias norte-americanas, um interesse econômico próprio do tipo mais estreito — a aversão a impostos cobrados para custear a proteção contra os indígenas e os franceses, temperada com teorias conspiratórias — desencadeou a rebelião contra a monarquia britânica; enquanto na França, uma crise fiscal provocada pelo custo de auxílio aos rebeldes americanos forçou a convocação de uma instituição feudal tardia, os Estados Gerais, cujas reformas foram prontamente varridas pelo surgimento do descontentamento maciço no campo e nas cidades, sob a pressão de uma má colheita e dos altos preços dos grãos. Em ambos os casos, o colapso da antiga ordem foi um processo não premeditado, no qual predominaram queixas de natureza material em vez de ideológica. No entanto, em segundo plano, estava a cultura crítica cumulativa do Iluminismo — um vasto repertório de ideias e discursos potencialmente explosivos — à espera, por assim dizer, de ser ativado exatamente em tais condições de emergência. Foi esse arsenal de iconoclastia preexistente que transformou a desintegração da ordem estabelecida na criação revolucionária de uma nova ordem e na forja de um imaginário ideológico com o qual ainda vivemos hoje. Os ideais das Revoluções Americana e — sobretudo — Francesa permaneceram como inspirações ativas para a ação política muito depois que as instituições que cada uma delas gerou se fossilizaram ou foram esquecidas.
6
Se o principal legado das religiões mundiais foi a introdução de uma ideia metafísica de universalismo, e o da Reforma o individualismo, o patrimônio ideológico deixado pelas revoluções no Século das Luzes residia essencialmente nas noções de soberania popular e direitos civis. Estes ainda eram apenas os meios formais para a livre determinação da forma de uma sociedade. Como deveria ser essa forma — a substância de um bem-estar coletivo? Essa foi a questão que o advento da revolução industrial colocou ao século XIX. Três tipos diferentes de respostas foram oferecidos. Em 1848, os grandes campos de batalha da época já estavam definidos. Com o Manifesto Comunista, a Europa se viu confrontada com a escolha que mais tarde se apresentaria em todo o planeta: capitalismo ou socialismo? Pela primeira vez, a humanidade se deparava com princípios claros e radicalmente antitéticos de organização social. Mas havia uma assimetria em sua formulação. O socialismo recebeu uma teorização extensa, variada e autodeclarada, tanto como movimento político quanto como objetivo histórico. O capitalismo, ao contrário de prenúncios como a “sociedade comercial” de Adam Smith, raramente — ou nunca — falou em seu próprio nome no século XIX e na maior parte do século XX; o próprio termo foi uma invenção de seus oponentes. Defensores da propriedade privada, mantenedores do status quo, apelavam para concepções mais parciais ou tradicionais — invocando princípios conservadores ou liberais em vez de propor qualquer ideologia expressamente capitalista. Estes estavam longe de ser um substituto confiável. Não foram poucos os pensadores conservadores — Carlyle ou Maurras — que expressaram forte antipatia pelo capitalismo; enquanto vários teóricos liberais — Mill ou Walras — viam com favor as versões mais brandas do socialismo. Se considerarmos o papel das ideias no século XIX, é claro que o socialismo — sobretudo em sua versão marxista e, portanto, mais intransigentemente materialista — demonstrou capacidade de mobilização política muito maior que a de seu oponente. Não é por acaso que ninguém falava de um movimento capitalista. O poder da ordem estabelecida ainda repousava em muito maior grau na tradição, no costume e na força do que em qualquer conjunto de ideias teóricas. Em meados do século XX, por outro lado, o socialismo como ideia havia alcançado uma abrangência geográfica e de adeptos maior do que qualquer religião mundial jamais conseguira.
7
Contudo, o universo ideológico não se esgotava nesses opostos. Havia outra grande força motriz em ação nessa época, diferente em natureza de ambos. Já em 1848, o nacionalismo mostrou ser um movimento mobilizador ainda mais poderoso que o socialismo na Europa. Duas peculiaridades o definiam como ideia política, muito antes de se espalhar triunfantemente pelo resto do mundo. Por um lado, produziu muito poucos pensadores significativos ou originais, com raras exceções ocasionais como Fichte. Como doutrina articulada, era incomparavelmente mais pobre e superficial que seus dois contemporâneos. Por outro lado, justamente por sua relativa vacuidade conceitual, era eminentemente plástico e podia entrar numa grande variedade de combinações — tanto com o capitalismo quanto com o socialismo — gerando tanto o chauvinismo que alimentou a guerra inter-imperialista de 1914 quanto o fascismo que desencadeou sua sequência em 1939, de um lado; e os movimentos revolucionários de libertação nacional no Terceiro Mundo, de outro. O triunfo do ideal nacional pelo globo demonstrou a ausência de qualquer correspondência necessária entre sistema e impacto, entre a profundidade intelectual e o alcance de uma ideologia e seu poder mobilizador no mundo moderno.
8
O início do século XX testemunhou uma série de grandes revoluções em estados-chave da periferia do mundo imperialista: em ordem cronológica, México, China, Rússia, Turquia. Elas formam um conjunto significativo de contrastes. O papel das ideias na moldagem do curso e do resultado do processo revolucionário foi maior na Rússia e na China, a mobilização popular mais forte no México e na Rússia, e o apelo nacionalista mais poderoso na Turquia. A revolução republicana de 1911 fracassou na China, mas o intenso fermento intelectual por trás dela persistiu, com seus afluentes acabando por desembocar na revolução comunista bem-sucedida em 1949. A recuperação kemalista na Turquia envolveu muito poucas ideias, além da salvação nacional, antes de importar uma variedade eclética uma vez estabelecido o novo regime. São as Revoluções Mexicana e Russa — de longe as maiores convulsões desse período — que oferecem o contraste mais marcante. No México, uma enorme convulsão social foi desencadeada e percorreu uma trajetória de dez anos sem qualquer sistema importante de ideias que a iniciasse ou dela emergisse. Em termos puramente doutrinários, a única ideologia desenvolvida do período pertencia não aos revolucionários, mas ao regime que eles derrubaram — o positivismo científico do Porfiriato tardio. Aqui, como em nenhum outro lugar, atos políticos em escala titânica foram realizados com nada mais do que noções elementares de justiça institucional ou social: uma lição formidável para qualquer visão demasiado intelectualista da mudança histórica dramática. Só os mexicanos podem dizer qual preço foi finalmente pago pela factualidade da Revolução, à medida que o Estado priista tomava forma a partir de Obregón.
A Revolução Russa seguiu um padrão muito diferente. O czarismo foi derrubado por um descontentamento massivo espontâneo, provocado pela fome e pelos horrores da guerra — um início muito mais desprovido de ideias do que a revolta de Madero no México. Em poucos meses, os bolcheviques chegaram ao poder através de uma agitação popular baseada em temas não menos elementares do que aqueles que moveram Zapata ou Villa: pão, terra e paz. Uma vez no poder, porém, Lênin e seu partido tinham à disposição a ideologia política mais sistemática e abrangente da época. Aqui, a relação entre as causas e o caráter da revolução — a tensão entre origens materiais e objetivos ideais — não era diferente daquela que produziu o regime jacobino do Ano Dois na França, mas era muito mais extrema. Tanto os feitos quanto os crimes do Estado soviético criado pelos bolcheviques eclipsaram os do Estado priista, terminando sete décadas depois em um desaparecimento muito mais apocalíptico — o preço, por sua vez, de um voluntarismo ideológico homérico.
9
Os efeitos da Revolução de Outubro, é claro, não se limitaram à Rússia. No final de sua vida, Marx havia vislumbrado a possibilidade de a Rússia contornar a necessidade de pleno desenvolvimento capitalista, por meio de uma convulsão popular que desencadearia uma reação em cadeia revolucionária na Europa. Essa era essencialmente a concepção por trás da estratégia de Lênin: nenhuma crença na possibilidade de construir o socialismo em um Estado isolado e atrasado como a Rússia, mas a esperança de que o exemplo soviético detonasse revoluções proletárias por toda a Europa, em sociedades onde existiam as condições materiais para uma livre associação dos produtores, em um alto nível de produtividade industrial. A história seguiu o curso oposto: bloqueio de qualquer chance de revolução no Ocidente avançado, disseminação da revolução em sociedades ainda mais atrasadas do Oriente. Com isso, o enorme sucesso político do marxismo parecia ser a melhor refutação de seus pressupostos teóricos. Longe de as superestruturas seguirem a determinação das infraestruturas econômicas — sistemas ideais refletindo práticas materiais —, a ideologia do marxismo-leninismo, em sua forma mais ou menos estalinizada, mostrou-se capaz de gerar, em contextos sem capitalismo, sociedades além dele. Isso deu origem, dentro do próprio marxismo, à noção popular nos anos 1960 e 1970, de que as relações de produção na verdade tinham primazia sobre as forças produtivas, chegando mesmo a defini-las. Mas as intuições de Marx não seriam tão facilmente invertidas. No fim, as forças produtivas tiveram sua revanche, com o colapso da própria URSS, quando a maior produtividade econômica das terras onde a revolução deveria ter ocorrido acabou por sobrepujar a daquelas onde ela de fato ocorreu.
Qual era o lugar das ideias no outro lado da luta? O déficit ideológico do capitalismo como ordem declarada nunca foi realmente sanado em sua batalha contra o comunismo. O próprio termo continuou a pertencer essencialmente ao inimigo, como uma arma contra o sistema, e não como sua autodescrição. Em meados do século, porém, o início da Guerra Fria, que significava uma luta total entre dois blocos antagônicos, exigiu um aprimoramento ideológico do capital a um nível de eficácia e intensidade totalmente novo. O resultado foi a conversão ocidental padrão dos termos do conflito: não capitalismo versus socialismo, mas democracia contra totalitarismo, o Mundo Livre contra o mundo de 1984. Apesar das hipocrisias mais amplas dessa construção — o chamado Mundo Livre incluía, é claro, muitas ditaduras militares e policiais —, ela correspondia a vantagens reais do Oeste do Atlântico Norte sobre o Leste estalinizado. Na competição entre os blocos, a bandeira da democracia foi um trunfo decisivo onde era menos necessária: entre as populações das próprias sociedades capitalistas avançadas, que precisavam de pouca persuasão sobre a preferibilidade das condições em que viviam. Teve muito menos efeito, por razões óbvias, no mundo ex-colonial ou semicolonial até pouco antes dominado pelas próprias democracias ocidentais. Mas na Europa Oriental e — em menor medida — na União Soviética, as imagens orwellianas tiveram mais ressonância, e as transmissões da Rádio Europa Livre ou da Rádio Liberdade, pregando os méritos da democracia norte-americana, certamente contribuíram para a vitória final na Guerra Fria. No entanto, a razão central do triunfo do capitalismo sobre o comunismo estava mais próxima: no magnetismo de níveis muito mais altos de consumo material, que no fim atraíram irresistivelmente, para a órbita do Ocidente, não apenas as massas privadas, mas também as elites burocráticas do bloco soviético — os privilegiados, tanto quanto ou talvez mais do que os empobrecidos. Simplificando, a vantagem comparativa do Mundo Livre que decidiu o resultado do conflito estava na esfera das compras, e não na do voto.
10
O fim da Guerra Fria trouxe uma configuração totalmente nova. Pela primeira vez na história, o capitalismo se proclamou como tal, em uma ideologia que anunciava a chegada de um ponto final no desenvolvimento social, com a construção de uma ordem ideal baseada no livre mercado, além da qual nenhum avanço substancial poderia ser imaginado. Essa é a mensagem central do neoliberalismo, o sistema de crenças hegemônico que governa o globo há quase meio século. Suas origens remontam ao período imediatamente pós-guerra. Naquele momento, a ordem estabelecida no Ocidente ainda estava assombrada pelo choque da Grande Depressão e enfrentava movimentos trabalhistas recém-fortalecidos decorrentes da Segunda Guerra Mundial. Para afastar o perigo de qualquer retorno ao primeiro e integrar as pressões do segundo, os governos em toda parte adotaram políticas econômicas e sociais destinadas a controlar o ciclo de negócios, manter o emprego e oferecer alguma segurança material aos menos favorecidos. O gerenciamento keynesiano da demanda e o bem-estar social-democrata foram as marcas da época, garantindo juntos níveis mais altos de intervenção estatal e de redistribuição fiscal do que jamais se vira antes no mundo capitalista. Protestando contra essa ortodoxia dominante, uma pequena minoria de pensadores radicais denunciou todo esse dirigismo como, a longo prazo, fatal para o dinamismo econômico e a liberdade política. Friedrich von Hayek foi a mente que liderou esta dissidência neoliberal, e seu organizador principal, reunindo espíritos afins de todo o mundo em uma rede de influência semiclandestina, a Sociedade Mont Pelerin. Por um quarto de século, esse grupo permaneceu à margem da opinião respeitável, suas opiniões ignoradas ou ridicularizadas.
Com o surgimento da crise estagflacionária do início dos anos 1970, e o declínio da economia capitalista mundial na longa recessão das décadas seguintes, essa doutrina rigorosa e intransigente finalmente encontrou seu momento. Nos anos 1980, a direita radical assumira o poder nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, e governos por toda parte adotavam as prescrições neoliberais para lidar com a crise: cortando impostos diretos, desregulamentando os mercados financeiros e de trabalho, enfraquecendo sindicatos, privatizando serviços públicos. Um profeta sem honrarias em suas próprias terras durante os anos 50 e 60, Hayek foi então consagrado por Reagan, Thatcher e outros chefes de Estado como o visionário prático da época. O colapso do comunismo soviético no final da década pareceu a justificativa perfeita para sua crença de longa data de que o socialismo não passava de um “arrojo fatal”.
Mas foi nos anos 1990, quando a URSS já não existia e Reagan e Thatcher haviam saído de cena, que a ascensão neoliberal atingiu seu ápice. Agora, sem o campo de forças amigo-inimigo da Guerra Fria, e sem qualquer necessidade de que a direita radical estivesse no poder, foram governos de centro-esquerda no mundo capitalista avançado que perseguiram imperturbavelmente as políticas neoliberais de seus predecessores, com um suavizar da retórica e a concessão de benefícios acessórios, mas com uma deriva política consistente tanto na Europa quanto na América. O teste de uma verdadeira hegemonia — em oposição a uma mera dominação — é sua capacidade de moldar as ideias e ações, não tanto de seus defensores declarados, mas de seus adversários nominais. Ostensivamente, os governos de Clinton e Blair, de Schröder e D’Alema, para não mencionar Cardoso e de la Rúa, chegaram ao poder repudiando as duras doutrinas de acumulação e desigualdade que prevaleceram nos anos 80. Na prática, em geral as preservaram ou ampliaram.”
11
Além da transfiguração da centro-esquerda na zona do Atlântico Norte, a hegemonia neoliberal se espalhou no mesmo período para os cantos mais distantes do planeta. Admiradores fervorosos de Hayek ou Friedman podiam ser encontrados em ministérios da Fazenda por toda parte, de La Paz a Pequim, Auckland a Nova Délhi, Moscou a Pretória, Helsinque a Kingston. O livro The Commanding Heights (1998), de Daniel Yergin e Joseph Stanislaw, ofereceu um tour panorâmico da “grande transformação” da época, tão radical e infinitamente mais abrangente do que aquela que Karl Polanyi descreveu, ao escrever sobre o advento do liberalismo clássico na era vitoriana. Ao contrário da narrativa de Polanyi, é claro, o relato de Yergin e Stanislaw sobre a vitória global do neoliberalismo transbordava entusiasmo pelas mudanças libertadoras que os mercados livres supostamente trazem. Paralelamente a isso, surgiu o segundo grande desenvolvimento da época: a cruzada pelos direitos humanos liderada pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Pois nem todo intervencionismo era malvisto pela ordem neoliberal. Embora o tipo econômico fosse reprovado — se redistributivo —, o tipo militar era praticado e aplaudido como nunca. Se a Guerra do Golfo, manifestamente travada para proteger os interesses petrolíferos do Ocidente, ainda pertencia a um padrão antigo, seus desdobramentos estabeleceram novos parâmetros. O bloqueio ao Iraque, com uma intensificação acentuada dos bombardeios por Clinton e Blair, foi uma empreitada “humanitária” puramente punitiva. O desencadeamento de uma guerra em grande escala nos Bálcãs, com um bombardeio aéreo à Iugoslávia, não precisava mais nem mesmo da ONU como folha de figueira para a ação da Otan, até depois do ocorrido. Em nome dos direitos humanos, o direito internacional foi redefinido unilateralmente para sobrepor-se à soberania de qualquer Estado menor que incorresse na desaprovação de Washington ou Bruxelas.
Se foi a versão de centro-esquerda do neoliberalismo que colocou em movimento essa escalada de prepotência militar, a visão essencial do poder imperial já estava presente na doutrina original. Hayek, afinal, foi pioneiro na ideia de bombardear países recalcitrantes à vontade anglo-americana, defendendo ataques aéreos relâmpago contra o Irã em 1979 e a Argentina em 1982. A concepção de hegemonia de Gramsci enfatizava o consentimento que ela buscava assegurar — sua definição como um poder de persuasão ideológica. Mas nunca foi sua intenção minimizar, muito menos esquecer, seu respaldo na repressão armada. “Consentimento mais coerção” era a fórmula completa de uma ordem hegemônica, a seus olhos. O universo neoliberal sobre o qual o hegemon da época ainda preside cumpriu amplamente ambos os requisitos. Hoje ele está em certo questionamento, não tanto pela forma como a crise de Wall Street em 2008 e suas consequências tiveram que ser gerenciadas, com novos e enormes aumentos da dívida global que a provocou, mas porque a ameaça da concorrência chinesa forçou um recuo do livre comércio e a adoção de subsídios estatais no Ocidente, em meio a um aumento ainda maior da montanha de dívida total mundial. No entanto, ainda não há uma alternativa consistente ao neoliberalismo como sistema governante de ideias de alcance planetário.
12
As razões de sua força não residem apenas em seu domínio econômico. Pois sob o neoliberalismo está um conjunto muito mais antigo de ideias e valores que veio a adquirir o termo “liberal” no século XIX, e a relação entre os dois é uma das questões mais centrais, porém menos discutidas, levantadas pela dominância do primeiro. Em seu núcleo, o neoliberalismo contemporâneo é essencialmente uma doutrina econômica, enquanto o liberalismo propriamente dito era um conjunto de doutrinas políticas que primeiro tomou forma sistemática como uma perspectiva autodeclarada não na Grã-Bretanha, mas na França, no pensamento de Constant, Guizot e Royer-Collard, antes de gerar teoremas econômicos nos trabalhos de Bastiat. Na geração seguinte, viria Tocqueville; na Grã-Bretanha, seu amigo e contemporâneo John Stuart Mill, igualmente produtivo em argumentos políticos e econômicos. Os princípios-chave desse liberalismo clássico, junto com a proteção da propriedade privada, eram restrições constitucionais contra o governo arbitrário, governo representativo com sufrágio limitado e garantia das liberdades individuais – na fórmula de Benjamin Constant, a liberdade moderna, em oposição à antiga, que se baseava na participação ativa dos cidadãos nos assuntos públicos. Até o final do século, a industrialização havia produzido uma população trabalhadora que exigia integração de alguma forma no Estado para ser pacificada, então o sufrágio foi ampliado; e no curso do século seguinte, após uma longa luta, os direitos de voto foram estendidos não apenas aos trabalhadores homens, mas às mulheres, no que acabou sendo chamado de democracias liberais. A esses sistemas políticos as massas no Ocidente se afeiçoaram, ainda que, na prática, mais pelas liberdades civis que garantiam do que pela autodeterminação popular que propagandeavam, fornecendo uma base sociológica robusta para a afirmação oficial de que este era o Mundo Livre, e qualquer outra coisa era despotismo.
A ideologia neoliberal que varreu o tabuleiro econômico nas últimas duas décadas do século XX, portanto, sobrepôs-se a um sistema de crenças anterior, do qual derivava mas ao qual não podia ser reduzido um sistema que não apenas era mais antigo nos países avançados do Ocidente, mas em substância mais rico e diverso – permitindo, no limite (embora sempre marginais no panorama do liberalismo como um todo), liberais que rejeitavam não apenas o laissez-faire clássico, mas até mesmo a propriedade privada capitalista em si, como nos casos de Russell ou Dewey, em diferentes fases de suas carreiras. O neoliberalismo era um corpo de pensamento inerentemente mais ralo, com menos apelo popular do que o liberalismo em seu sentido clássico. Não muito diferente do capitalismo em si, do qual era a expressão e teorização mais radicais, era por isso um termo que seus expoentes mais hábeis preferiam repudiar, como se fosse uma calúnia inventada por descontentes. Tipicamente, nas colunas do Financial Times ou do Economist, “neoliberal” aparecerá apenas entre aspas de ressalva, ou será banido completamente. Deve-se ter ainda mais cuidado para negá-lo ou evitá-lo, dado que os teóricos pioneiros do neoliberalismo costumavam ser constrangedoramente francos em sua visão desfavorável da democracia, o baú de tesouros dos valores liberais como entendido pelos expoentes de versões anteriores ou menos radicais. Mises, afinal, saudou o fascismo como uma salvação contra o socialismo na Itália; Hayek defendia abertamente peneirar o sufrágio universal. Para ambos, o Estado de Direito era um valor superior à democracia, que poderia ser uma ameaça a ele e precisava ser contida se necessário: não se trata de uma ideia facilmente confessada por periódicos ou políticos que os ecoam, e que dependem de tiragens significativas ou números de eleitores.
Por que então, se suas doutrinas são mais rasas e seus arautos menos numerosos, o neoliberalismo tornou-se uma ideologia muito mais poderosa e difundida do que o liberalismo no qual se baseia? A resposta, familiar a qualquer marxista, é que a infraestrutura material de qualquer sociedade desenvolvida é aquela da qual todo o resto depende – sem ela não pode haver burocracia, exército, parlamentos, mídia, hospitais ou escolas, prisões, cultura erudita ou popular: tudo requer uma economia funcional para operar. Assim, onde não desejados, Constituições ou parlamentos liberais, jornais ou podcasts liberais, artes ou crenças liberais, podem ser dispensados, ao contrário de um sistema econômico funcional. Esse é o sine qua non de qualquer ordem política ou cultural. A isso, a afirmação central do neoliberalismo acrescenta que apenas um sistema agora existe – “Não há alternativa”, na sentença irremediável de Thatcher. A aprovação de seus princípios como desejáveis não é necessária: a resignação negativa a eles como inevitáveis basta. Não por acaso, a primeira implementação radical – e por muito tempo bem-sucedida – de um programa neoliberal por qualquer governo ocorreu sob a brutal ditadura de Pinochet na América Latina. O neoliberalismo pôde crescer de forma quase universal no antigo Terceiro e Segundo Mundos, sem necessidade do subsolo liberal que o nutrira no Primeiro. Meio século depois, continuamos a enfrentar a ideologia política mais bem-sucedida da história mundial.
13
Há os que contestariam apaixonadamente tal veredito. Nos países avançados, as objeções alegadas contra ele começaram cedo e corriam mais ou menos da seguinte forma. Devemos estar alertas, argumentam os críticos, contra os perigos de superestimar a influência das doutrinas neoliberais em si. Certamente, os tempos mudaram desde os anos 1950 ou 60; os mercados ganharam mais poder às custas dos Estados, e a classe trabalhadora não era mais a força que já fora. Mas tomando as décadas desde o marco da vitória de Thatcher em 1979 como uma época, pelo menos nos países avançados a despesa pública permaneceu alta e os sistemas de bem-estar mais ou menos intactos. Muito menos alterados do que poderia parecer na superfície. Era um erro pensar que as ideias neoliberais fizeram uma diferença significativa para eles: constantes sociológicas mais profundas mantiveram o consenso do pós-guerra no lugar. Mesmo no reino das ideias em si, muito mais políticos repudiaram do que endossaram o remédio amargo do neoliberalismo, cujo raio real de atração era muito estreito. Afinal, não deixaram claro Clinton e Blair que defendiam uma Terceira Via, expressamente equidistante tanto do neoliberalismo quanto do estatismo? Da mesma forma, o firme compromisso de Schröder com uma Neue Mitte – um Novo Centro – ou a declaração de princípios de Jospin a favor de uma economia de mercado, mas não (enfaticamente não) de uma sociedade de mercado? Desde então, vimos o conservadorismo compassivo de Bush com “nenhuma criança deixada para trás”, a intrepidez de Obama com “audácia da esperança”, a sobriedade do “freio da dívida” de Merkel e do “pacto de responsabilidade’ de Hollande” o dinamismo das “três flechas” de Abe, a “redução da inflação” de Biden e o “contrato com a nação” de Macron, ou o mais simples e vazio de todos como palavra de ordem para seu oposto, a “mudança” de Starmer (plus ça change…).
Algumas das objeções convencionais têm mais peso do que outras. É perfeitamente verdade, é claro, que as ideias neoliberais não devem ser vistas com poderes mágicos de persuasão política por si sós. Como todas as grandes ideologias, esta também sempre exigiu suplementos afetivos – tipicamente o nacionalismo – e práticas materiais – instrumentais ou rituais – para manter sua influência. Enquanto isso, a base prática da hegemonia neoliberal encontra-se na primazia do consumo privado – de bens e serviços mercantilizados – na vida cotidiana das sociedades capitalistas contemporâneas, atingindo novos níveis de intensidade nas últimas quatro décadas; e na ascensão da especulação como um eixo central da atividade econômica nos mercados financeiros mundiais, penetrando nos poros do tecido social com o marketing maciço de fundos mútuos e de pensão. É um desenvolvimento do qual estamos testemunhando apenas o início, à medida que se espalha da América do Norte para a Europa e para o hemisfério sul. Se a despesa pública nos Estados capitalistas avançados permanece alta, ela é agora cada vez mais híbrida e diluída por infusões de capital privado que se estendem a todo tipo de serviço – de hospitais a prisões à arrecadação de impostos – que antes seriam considerados domínios invioláveis da autoridade pública ou do provimento coletivo. A hegemonia neoliberal não prescreve tanto uma agenda específica de inovações, que pode variar significativamente de uma sociedade para outra, mas determina os limites do que é possível em qualquer uma delas.
Uma boa medida de sua influência geral é a conformidade de todos os governos do Norte, independentemente de sua cor política nominal, aos imperativos de bloqueio militar, ocupação ou intervenção fora da zona atlântica. Os regimes social-democratas da Escandinávia, por exemplo, que antes tinham reputação de certa independência na política externa, regularmente agem como chacais correndo ao lado dos maiores predadores ocidentais – a Noruega ajudando a selar o domínio israelense na Palestina, a Finlândia intermediando o bombardeio da Iugoslávia, a Suécia auxiliando extradições na Guerra ao Terror, todos os quatro se juntando à matilha na Ucrânia. A vacuidade da retórica da Terceira Via como uma alternativa aparente a ele foi sempre a prova mais segura da ascendência duradoura do neoliberalismo.
14
Quais são as lições dessa história para a esquerda? Em primeiro lugar, que as ideias contam no balanço da ação política e no resultado da mudança histórica. Em todos os três grandes casos de impacto ideológico moderno, o padrão foi o mesmo. Iluminismo, Marxismo, Neoliberalismo: em cada caso, um sistema de ideias foi desenvolvido, em alto grau de sofisticação, em condições de isolamento inicial e tensão com o ambiente político circundante – com pouca ou nenhuma esperança de influência imediata. Foi apenas quando uma grande crise objetiva, pela qual estas ideias não eram de forma alguma responsável, eclodiu, que os recursos intelectuais subjetivos, acumulando-se gradualmente nas margens de condições calmas, de repente adquiriram força avassaladora como ideologias mobilizadoras com controle direto sobre o curso dos eventos. Tal foi o padrão nos anos 1790, 1910 e 1980. Quanto mais radical e intransigente o corpo de ideias, mais abrangente seu efeito, uma vez desencadeado em condições turbulentas. Hoje ainda estamos em uma situação onde uma única ideologia dominante governa a maior parte do mundo. Resistência e dissidência estão longe de mortas, mas continuam a carecer de articulação sistemática e intransigente. Ela não virá, sugere a experiência, de ajustes débeis ou acomodações eufemísticas à ordem existente das coisas. O que é necessário em vez disso (e não chegará da noite para o dia), é um espírito totalmente diferente – uma análise incansável e, quando necessário, cáustica do mundo como ele é, sem concessões às reivindicações arrogantes da direita, aos mitos conformistas do centro ou às piedades bem-pensantes de grande parte do que se passa por esquerda. Ideias incapazes de chocar o mundo são incapazes de abalá-lo.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras

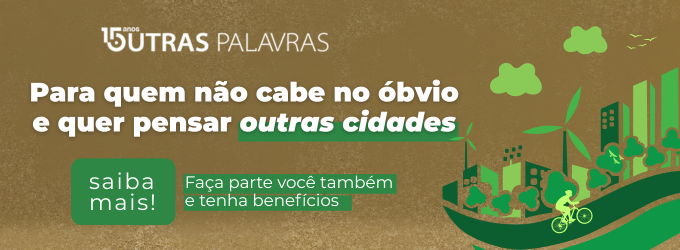

TENTEI FAZER PARE COM O GRUPO E AO FINAL FORAM TANTAS AS DIFICULDADES DE VERIFICAREM SE ERA EU QUE ACABEI POR ABANDONAR, COMO PODERIAMOS RESOLVER?