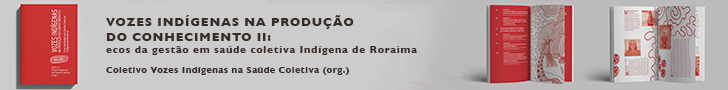As artistas indígenas que quebram paradigmas
Do carimbó ao dub. Do rap ao pop. Com uma fusão de ritmos, mulheres indígenas cantam resistências na cena musical. Em comum, a conexão com a espiritualidade, resgate de cantos ancestrais e a denúncia das barbaridades a que povos indígenas são submetidos
Publicado 23/01/2025 às 17:53

Por Natália Sousa, no AzMina
A cantora indígena Kaê Guajajara, que vai do rap ao pop, nasceu em Mirinzal, no Maranhão, e em suas memórias de infância, a música sempre aparece. “Eram muitos cantos vindo de geração para geração, meus avós participavam do bumba meu boi e também cantavam no tambor de crioula. É isso que ressoava na comunidade”. O caminho até Kaê se descobrir cantora e compositora foi rápido, cedo e natural. Sentia que ao cantar mantinha a espiritualidade viva.
Aos oito anos, teve de deixar o território indígena e boa parte de seus ancestrais para escapar de ataques de madeireiros. As terras onde seu povo morava não eram demarcadas, nem tinham segurança pública, o que facilitava as ações criminosas. Com a família, migrou para o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Foi nesse lugar, durante a adolescência, que Kaê percebeu uma nova camada da invisibilidade. “Não se falava sobre direitos indígenas nas favelas, eu não me via em lugar nenhum. Então, decidi levantar minha voz”.
A verdade é que eu sempre estive
(Nos reduzem a índios, mitos, fantasias)
A verdade é que eu sempre estive
(E depois dizem que somos todos iguais)
Vou te contar uma história real:
Um a um morrendo desde os navios de Cabral
Nós temos nomes, não somos números
(Galdino Pataxó, Marçal Guarani, Jorginho Guajajara)
Nós temos nomes, não somos números
Pra me manter viva, preciso resistir
Dizem que não sou de verdade
Que eu não deveria nem estar aqui
trecho da música “Território Ancestral”
No Rio de Janeiro, Kaê fundou seu primeiro grupo de rap, o “Crônicos”. A ideia era denunciar as barbaridades a que povos indígenas são submetidos: migração forçada, assassinatos, envenenamentos por agrotóxicos, invasões. Ao seguir carreira solo, a artista deu mais um significado às suas músicas: expor as violências que sofreu como mulher indígena em territórios urbanos.
Para escrever suas músicas, Kaê Guajajara gosta de prestar atenção na natureza, em suas vivências e em seus sonhos – uma técnica ancestral, que também é vivenciada por outras artistas indígenas. “Quando vou colocar as melodias e mensagem na música, sempre é algo que se conecta com os antigos cantos do meu povo e, às vezes, só quando vou ouvir é que percebo a mensagem no total.”
Em 2024, Kaê foi uma das atrações do Rock in Rio. Ela abriu o Espaço Favela com participação do grupo de Dança Maré e do DJ e produtor Totonete. Convite que ela celebra, mas pondera que não deveria ser visto com surpresa. “Um festival que diz estar caminhando com a diversidade precisa incluir povos indígenas e não somente 1 ou 2 pessoas”. No mesmo ano, Kaê lançou seu terceiro álbum, Forest Club. Em meio ao funk, french house, eletrônico e sua língua materna Ze’egete (a fala boa), ela canta sobre futuro ancestral, amor, bem viver e a preservação do planeta.

Olho no olho
Eu quase sinto o gosto
Palavras no sopro
Eu quase vejo o cheiro
O cheiro do gosto
Eu quase sinto o gosto
Palavras no sopro
Eu quase vejo o cheiro
Te disse pra sentir, eu quero que você me olhe
Sem hesitar, eu quero que você me olhe
Se mistura em mim e depois engole
Diz que lembrou de mim quando viu o Sol
Trecho da música “Cheiro do Gosto”
Kaê é fundadora do selo Azuruhu, que apoia e dá visibilidade a artistas indígenas que estão começando no meio musical. Dentro do selo, funciona o projeto “Voa Parente” que ensina o artista sobre direitos autorais, a lidar com as redes sociais, se gravar sozinho e o passo a passo para subir a música no Spotify. A ideia é que eles saibam trabalhar de forma autônoma.
Depois de preparados, eles podem gravar três músicas autorais e um clipe com apoio do projeto. Esse trabalho se sustenta apenas com recursos próprios, e por isso Kaê chama a atenção para a importância de aliados e investidores. Assim é possível acolher mais artistas indígenas e impulsioná-los para que entrem no mercado. “Eles não sabem muito para onde ir e acabam caindo em promessas dos brancos, ficando dependentes para tudo”, fala Kaê.
Carimbó indígena
Donas do próprio destino
Roda tua saia surara
Perfume de patchouli
Perfume de patchouli
Trecho da música “Suraras da Beira do Rio”
O grupo musical “Suraras dos Tapajós” surgiu completamente ao acaso. É o primeiro carimbó do Oeste do Pará formado só por mulheres, e o único grupo do Brasil composto apenas por indígenas. As Suraras nasceram nas “rodas de conversa de afetividade” às margens do Rio Tapajós, onde, na parte baixa, vivem 13 povos indígenas. Ali elas formaram um coletivo, que leva o mesmo nome do grupo e hoje é uma associação.
A cada reunião elas contam suas histórias, se acolhem, repassam informações e criam estratégias para lutar por seus territórios e sobrevivência. Ao final dos encontros, sempre celebram cantando e tocando carimbó. Por muito tempo, os instrumentos que usavam eram improvisados, como baldes para fazer o som.
A profissionalização só veio com um empurrão do destino. Durante uma amostra de artesanato indígena da região, descobriram que o evento não teria atração cultural. Elas nunca tinham feito uma apresentação para um público externo, mas se ofereceram para cantar e tocar. A experiência foi tão boa que os convites passaram a chegar aos montes. Desde então, rodam o país se apresentando e ocupando diferentes palcos com o carimbó, entre eles o do Rock in Rio em 2024.
Leia mais: Qual a consciência indígena que queremos?
Quebra de barreiras
“O carimbó até então era tocado apenas por homens”, explica Val Munduruku, integrante das Suraras. As justificativas para afastá-las eram muitas. Desde a impureza da menstruação até as características dos instrumentos. “Os mestres diziam que não podíamos sentar no curimbó (uma espécie de tambor) porque ele é sagrado”, fala. A resposta delas veio em cima do palco: “assumindo duas horas de show, e não sendo mais somente dançarinas (ou as sereias) do Carimbó.”

De longe se ouve ecoar
O som dos tambores
A luz do luar
O grande pajé anuncia
É hoje a noite de encantaria
Elas surgem do fundo das águas
Ligeiras como boiúna
Pintadas, de arco e flecha na mão
Aqui Kariwa não manda, não
Somos Amazônia
Somos mensageiras
Do tapajós
Esse é o rio
Que as suraras são guerreiras
Que as suraras são guerreiras
trecho da música “Amazônia”
As Suraras dos Tapajós tem onze mulheres, mas nem todas conseguem participar dos shows, porque o cachê pago pelos contratantes geralmente não cobre todos os custos. Além do deslocamento, hospedagem e alimentação das integrantes, entram na conta as despesas dos técnicos de som e de produção. “Sair da Amazônia é muito caro”, diz Val Munduruku.
Para não perder as oportunidades, elas tentam sempre criar saídas. Conversam com parceiros locais e buscam contatos com amigos para conseguir uma estadia mais barata na cidade do evento. Às vezes, mesmo assim, é inviável e as integrantes perdem algumas oportunidades.
Parte do dinheiro que conseguem se apresentando, elas custeiam as despesas da Associação de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós. Entre as missões da organização está o combate à violência contra a mulher indígena. Ao todo, 47 participantes são afetadas pelo trabalho da instituição diretamente. “Uma das questões que a gente busca sempre trabalhar são as meninas que estão chegando, as mais novas. A partir do empoderamento elas começam ter as suas próprias autonomias,” conclui.
Hoje elas inspiram mulheres de outros territórios a formarem seus próprios grupos. Foi o que aconteceu em Bragança, território Munduruku do médio Tapajós. “A gente levou uma oficina, instrumento e até figurino [para lá]. Agora elas fazem suas apresentações”, contou Val.
Dub originário
Do carimbó ao dub – gênero musical que nasceu na Jamaica no fim dos anos 60 – cantoras indígenas estão em espaços musicais diversos. “[O dub] tem a característica de unir o eletrônico com o reggae e traz uns versos em um flow mais parecido com rap”, explica Siba Puri. Ela nasceu em Olinda e é uma das grandes representantes dos povos indígenas de Pernambuco na música.
Nas mãos de Siba, o dub ganhou referências ancestrais. O seu trabalho mais recente “Caboclinho Puri” é um dos exemplos. Um reggae que traz a batida e o ritmo da dança do caboclo – manifestação cultural dos povos originários. O videoclipe que acompanha a música, também é assinado por outras artistas indígenas, Kath Xapi e Wanessa Ribeiro. Esse estilo único de compor e cantar foi batizado de “dub originário” por Siba Puri. “Chamo assim não só porque eu sou uma pessoa indígena fazendo, mas porque eu trago elementos indígenas para dentro do dub”, explica.
Caboclo Puri na mata chegou
trazendo na mão a lança guardião
Caboclo Puri na mata chegou
Pisando ligeiro, patuá no peito
Dançando com o seu pé no chão
Trecho da música “Caboclinho Puri”
Recado dos ancestrais
Siba Puri fazia parte de grupos de rap e reggae quando pensou, pela primeira vez, no dub originário. Ela trabalhava como percussionista e sentia falta de ouvir a luta indígena nas composições. A artista indígena escreveu uma letra e mostrou para os vocalistas, mas nenhum deles se interessou. Foi quando ela sonhou com os seus ancestrais: “Estava na mata e eles disseram: ‘você precisa cantar a nossa luta. A partir do momento que você fizer isso, a gente vai chegar até você’”. Foi a força que ela precisava para decidir gravar.

A conexão com a espiritualidade é uma parte importante do processo criativo de Siba. Algumas de suas canções nascem em um processo semelhante a uma psicografia. “Num transe mediúnico”, relata. Outras composições aparecem quando ela entra em contato com a água. Elemento da natureza com o qual Siba tem uma ligação forte. “Já saiu muita música no banho”, explica.
Hoje, Siba observa artistas de outras raças falando sobre a história dos povos originários em seus trabalhos. Mas isso não significa que o acesso para os corpos indígenas tenha ficado mais fácil. “As pessoas não esperam que vai subir no palco uma artista indígena e vai cantar dub”.
Ela diz que na região metropolitana de Recife ainda há uma crença de que só existem pessoas brancas e negras nesse gênero. “Eu preciso estar muito firme toda vez que eu subir no palco”, fala. E defende a presença de outros corpos, como o dela, no reggae e no rap.
O apagamento também surge em forma de conselhos de produtores musicais e outros profissionais do meio. “Falaram pra eu falar de árvore, não da morte do povo”, recorda Siba. O sotaque dela também já foi apontado como um problema. A estratégia que ela usa para lidar com todas essas violências é sempre a mesma: ignorar. “Eu geralmente me alinho com pessoas que me incentivam.”
Respeita o povo, respeita as mina
nosso corpo é território, ninguém vai passar por cima
(…)
cada um no seu lugar, esse é o caminho
se liga meu comparsa, deixa de heresia
a minha identidade não é tua fantasia
Trecho da música “Não toque no meu cocar”
Tchautchiüãne: “minha aldeia”
A cantora Djuena Tikuna ultrapassou os obstáculos do mercado e entrou para a história ao ser a primeira artista indígena a produzir e lançar um disco no Teatro Amazonas, em Manaus. Um acontecimento que levou 120 anos para se concretizar. “Já tinha apresentações indígenas, mas sempre sendo protagonizado por não indígena, né?”
Ela nasceu na aldeia Umariaçu II, no Alto Rio Solimões. E só conheceu a capital amazonense aos 9 anos, quando o pai deixou o ofício de pescador para trabalhar de vigilante na cidade – distante 1.106 quilômetros de sua comunidade. Para atravessar de um ponto a outro, era preciso descer o rio de barco por uma semana. O deslocamento aéreo existia, mas não era uma opção acessível.
Assim que a família se instalou, Djuena foi matriculada na escola da cidade. “Até então, vivia dentro da mata, colhendo, plantando e pegando peixe com o meu pai e meus avós”. A sala de aula trouxe o primeiro contato com o português. Tinha dificuldade de entender e por várias vezes sofreu preconceito por falar na própria língua. Nesses momentos, cantar era a única coisa que a acalmava.

Acompanhada de sua mãe e outros parentes, Djuena fez suas primeiras apresentações no grupo Wotchimaücü, que eles mesmos criaram. “Meu povo é muito cantante”, destaca. Foi o primeiro passo para se consolidar na Música Popular Indígena. Os trabalhos dessa época, porém, fizeram com que ela percebesse uma prática recorrente e antiga entre contratantes do meio musical. “Na semana dos povos indígenas, procuravam muito a gente para cantar e davam como cachê cesta básica, vestido”, lembra Djuena, que é também jornalista, ativista e produtora cultural.
Em Tikuna a palavra TORÜ WIYAEGÜ significa “canto que acalenta os imortais”. Nome que ela leva para o documentário que produziu sobre o seu povo – o mais numeroso da Amazônia brasileira. Essa temática também atravessa seus shows. Em 2016, Djuena Tikuna cantou, em língua materna, o Hino Nacional Brasileiro na abertura dos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro. E, em 2024, ela esteve em Massachusetts (EUA), em um evento realizado pela comunidade brasileira de estudantes na região de Boston, o Brazil Conference at Havard & MIT.
Para fazer as músicas, Djuena TiKuna e seu companheiro Diego Janatã usam instrumentos tradicionais. “Tem o tutu, que é um tamborzinho, o tracajá que a gente usa durante o ritual e tem umas sementes que é bem tradicional do meu povo também”. A intenção ao escolher cada elemento é colocar quem ouve dentro das florestas. “Porque ela cura”, conclui.
Toda a semente que há, há de um dia germinar
uma flor para reflorestar nossos corações
do ventre da terra vai brotar a paz para essa guerra se acabar
o amor para acalentar todas as nações
de tempos em tempos sobrevivo,
mas não aprendi a contar os mortos
o que vive em mim é a memória dos antigos.
Eleva o grande Espírito. E reza nossos corpos.
A nossa aldeia é o mundo, esse mundo é nossa aldeia
trazermos a cura para todo mundo somos todos da mesma Aldeia
Trecho da música Floresta Cura – Puturarü
*colaborou com essa reportagem Kath Xapi
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras