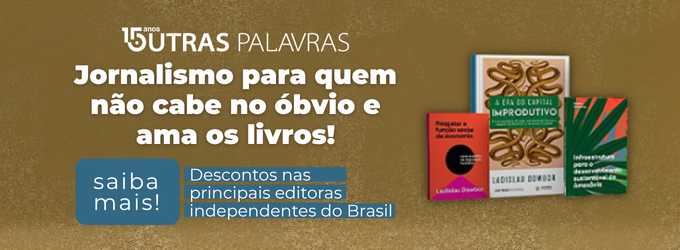Trabalhar sem direitos, envelhecer sem proteção
A retórica do empreendedorismo individual esconde uma realidade de exploração coletiva. Sem garantias, sem Previdência e sem futuro, o trabalhador carrega sozinho o peso do desmonte social. Ao condicionar direitos à contribuição, o sistema perpetua desigualdades
Publicado 04/11/2025 às 17:12

Título original
Quando o trabalho não é mais garantia: o abismo previdenciário dos novos arranjos laborais no Brasil
A herança histórica de um sistema excludente
Do pacto constitucional à precarização sistêmica
A história do trabalho no Brasil é marcada por profundas contradições entre a promessa de proteção social e a realidade de exclusão que atravessa gerações. Desde as primeiras décadas do século XX, quando a Seguridade Social brasileira iniciou seu processo de estruturação, fundamentada na lógica do seguro social, estabeleceu-se uma relação direta entre o acesso à proteção social e a inserção no mercado de trabalho formal (TEIXEIRA; RODRIGUES; MATOS, 2015). Essa configuração histórica criou um sistema dual onde trabalhadores formais acessam direitos enquanto milhões permanecem à margem. A Constituição de 1988, embora tenha incorporado características de dois distintos modelos de proteção social, manteve a Previdência Social fundada na lógica bismarckiana do seguro social, de modo que só são considerados segurados, com acesso aos benefícios previdenciários, trabalhadores formais ou aqueles que recolhem suas contribuições por conta própria (TEIXEIRA; RODRIGUES; MATOS, 2015).
A trajetória da informalidade no mercado de trabalho brasileiro não pode ser compreendida como fenômeno recente ou transitório, mas como elemento estrutural que perpassa toda a formação socioeconômica nacional. Dados históricos sobre o trabalho informal e a parcela de força de trabalho excedente evidenciam que uma parte expressiva da população brasileira não teve e não tem acesso à proteção social, especialmente quando se trata de política de Previdência Social (TEIXEIRA; RODRIGUES; MATOS, 2015). Estudos demonstram que a informalidade funciona como reservatório de mão de obra que pressiona salários para baixo e reduz custos empresariais, criando uma interdependência perversa entre os setores formal e informal da economia (ROUBAUD; RAZAFINDRAKOTO et al., 2020). A uberização nomeia um novo tipo de gestão e controle da força de trabalho, resultando das formas contemporâneas de eliminação de direitos, transferência de riscos e custos para os trabalhadores e novos arranjos produtivos, sintetizando processos em curso há décadas ao mesmo tempo em que se apresenta como tendência para o futuro do trabalho (ABÍLIO; AMORIM; GROHMANN, 2021).
O desafio contemporâneo frente a esse novo tipo de organização envolve elementos complexos, residindo em compreender as plataformas digitais como um novo meio poderoso pelo qual as relações de trabalho vêm se reestruturando, sem incorrer em determinismo tecnológico que mistifique os processos sociais (ABÍLIO; AMORIM; GROHMANN, 2021). A perspectiva thompsoniana de análise do trabalho, que enfatiza a experiência vivida pelos trabalhadores e as relações de classe como processos históricos dinâmicos, oferece ferramental teórico fundamental para compreender essas transformações. As plataformas digitais constituem um novo tipo de organização de trabalho que se reapropria da informalidade para extração do mais-valor, além de aumentar a precariedade e a exploração de trabalhadores em um cenário sem precedentes de trabalho sob demanda (GROHMANN; SALVAGNI, 2024).
Algoritmos, peças e a ilusão da autonomia
A suposta mediação das plataformas consiste em elaborado mecanismo de controle do trabalho, no qual o salário por peça exerce importante papel, mesmo sob a pecha do fim do assalariamento (SILVA; NASCIMENTO, 2022). Os microempreendedores individuais representam outro arranjo que, embora tenha formalizado milhões de trabalhadores, criou uma categoria com contribuição previdenciária significativamente reduzida em comparação aos trabalhadores formais tradicionais. A consolidação desses novos arranjos laborais ocorre em um contexto em que as novas formas de organização e controle do trabalho na sociedade brasileira se relacionam com a precarização da saúde do trabalhador, mediante o aprimoramento das tecnologias da informação e comunicação que viabilizam a uberização do trabalho, flexibilizando as atividades na mesma proporção em que se intensificam as precárias condições e relações de trabalho (SOUZA; MARTINS, 2022).
A questão previdenciária reveste-se de dramaticidade quando confrontamos os números que emergem das estatísticas oficiais. Levantamento baseado em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua demonstra que apenas 34,4% dos trabalhadores por conta própria contribuíam para a Previdência no segundo trimestre de 2025, sendo que entre aqueles sem CNPJ essa parcela cai para meros 18,8%. Entre os colaboradores de plataformas digitais, o percentual de contribuição alcança apenas 27,8%. O trabalho por aplicativos, por empresas que utilizam as plataformas digitais como forma de exploração de motoristas e motofretistas, é a face mais visível desse iceberg das tecnologias digitais, com dados do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento apontando para 1,6 milhão de trabalhadores por aplicativo no Brasil (FERREIRA; ASSIS, 2024). Essas estatísticas revelam um déficit atuarial estimado em R$ 2,052 trilhões no futuro, sendo R$ 1,894 trilhão referente aos MEIs e R$ 157,6 bilhões aos trabalhadores de plataformas.
Entre a Constituição e o mercado – direitos sociais em disputa
O pacto constitucional de 1988 e suas promessas não cumpridas
A Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, estabeleceu em seu artigo 6º que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados (BRASIL, 1988). O artigo 7º elenca extenso rol de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, incluindo proteção contra despedida arbitrária, seguro-desemprego, FGTS, décimo terceiro salário, repouso semanal remunerado, férias, licença-maternidade e paternidade, além da integração à previdência social. A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452/1943, estabelece em seu artigo 3º que se considera empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário, configurando os requisitos da relação de emprego que são a pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e a subordinação (BRASIL, 1943).
O cerne da controvérsia jurídica sobre trabalhadores de plataformas digitais reside precisamente na caracterização ou não do vínculo empregatício. O Tribunal Superior do Trabalho tem enfrentado casos emblemáticos nos quais motoristas e entregadores pleiteiam o reconhecimento da relação de emprego. Em decisões recentes, magistrados trabalhistas têm interpretado que o controle algorítmico exercido pelas plataformas, a fixação unilateral de preços, as avaliações de desempenho e a possibilidade de desconexão do aplicativo configuram subordinação estrutural, ainda que diferente da subordinação clássica. Contudo, a jurisprudência permanece oscilante, com decisões divergentes em diferentes Tribunais Regionais do Trabalho, evidenciando a dificuldade do sistema jurídico em enquadrar essas novas formas de organização do trabalho nas categorias tradicionais do Direito do Trabalho.
O mito do déficit e os interesses ocultos nas reformas
O debate sobre a sustentabilidade da Previdência Social brasileira tem sido marcado por disputas interpretativas fundamentais. O artigo 201 da Constituição Federal determina que a previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, estabelecendo que sua organização deverá atender à cobertura de eventos de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos familiares e reclusão ou morte (BRASIL, 1988). A Lei 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, classifica como segurados obrigatórios o empregado, o empregado doméstico, o contribuinte individual, o trabalhador avulso e o segurado especial. Os trabalhadores de plataformas e MEIs enquadram-se majoritariamente como contribuintes individuais, categoria que exige iniciativa própria para recolhimento das contribuições, sem a garantia de contrapartida patronal que caracteriza o emprego formal.
A economista Denise Gentil demonstra em suas análises que a Seguridade Social é superavitária quando se consideram todas as fontes de receitas previstas constitucionalmente, incluindo a COFINS, CSLL, PIS/PASEP e outras contribuições sociais (GENTIL, 2006; LACAZ; TRAPÉ, 2017; SALIBA; SANTOS, 2019). O argumento do déficit previdenciário, segundo Fagnani (2019), constitui uma mentira que vem sendo contada desde 1989, utilizada repetidamente para justificar reformas que retiram direitos conquistados. Fagnani (2019) argumenta que o governo nunca cumpriu a sua parte no financiamento tripartite estabelecido pela Constituição de 1988, que determina contribuições de empregados, empregadores e governo por meio de impostos. O economista da Unicamp assevera que o verdadeiro propósito das reformas é soterrar o pacto social de 1988, transformando seguridade em assistencialismo e preparando terreno para expansão da previdência privada vinculada aos grandes bancos (FAGNANI, 2019).
Para compreender melhor as disparidades no sistema previdenciário brasileiro, é fundamental observar as diferenças entre as categorias de trabalhadores no que se refere às alíquotas de contribuição e aos rendimentos médios. A tabela a seguir apresenta essas informações de forma comparativa:
Tabela 1 – Comparação entre categorias de trabalhadores: contribuição previdenciária e rendimentos médios
| Categoria de Trabalhador | Alíquota de Contribuição | Rendimento Médio dos Contribuintes (R$) | Rendimento Médio dos Não Contribuintes (R$) | Percentual de Contribuição |
| Empregado formal (CLT) | Até 14% (empregado) + 20% (empregador) = ~31% | 4.183 | 2.073 | 65,9% da população ocupada |
| Contribuinte individual autônomo | 20% sobre salário de contribuição | 4.446 | 2.174 | – |
| Microempreendedor Individual (MEI) | 5% do salário mínimo | 5.179 (com CNPJ) | 1.901 (sem CNPJ) | 76,9% (conta própria com CNPJ) |
| Trabalhador por conta própria sem CNPJ | 20% (se contribuir) | 3.343 | 1.901 | 18,8% |
| Trabalhador de plataforma digital | Variável (se contribuir como autônomo) | – | – | 27,8% |
| Média geral dos conta própria | – | 4.446 (contribuintes) | 2.174 (não contribuintes) | 34,4% |
Fonte: Elaboração própria com base em dados da PNAD Contínua (IBGE, 2025) e estudos de Feijó e Peruchetti citados nos documentos anexos.
A Lei Complementar 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e criou o Simples Nacional, estabeleceu o regime do Microempreendedor Individual em 2008. O MEI recolhe mensalmente valor fixo que corresponde a 5% do salário mínimo para a Previdência Social, além de R$ 1,00 de ICMS para estados e R$ 5,00 de ISS para municípios, quando a atividade for sujeita a esses tributos. Esse recolhimento garante acesso a benefícios como aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte. Contudo, a alíquota de 5% é significativamente inferior aos 20% do contribuinte individual autônomo e aos aproximadamente 31% que resulta da soma da contribuição do empregado e do empregador no regime de emprego formal, o que inevitavelmente gera desequilíbrio atuarial de longo prazo.
Regulação pendente e propostas legislativas fracassadas
O Projeto de Lei 12/2024, apresentado pelo governo federal, buscou regular o trabalho por aplicativos, garantindo direitos trabalhistas e previdenciários, mas enfrentou resistência tanto das plataformas quanto de parcela significativa dos próprios trabalhadores, temerosos de perderem a flexibilidade que o modelo atual proporciona. O Supremo Tribunal Federal foi provocado a se manifestar sobre a constitucionalidade da ausência de vínculo empregatício entre plataformas e trabalhadores, questão que permanece pendente de julgamento definitivo. A Organização Internacional do Trabalho, em sua Recomendação 204, estabelece diretrizes para a transição da economia informal para a economia formal, incluindo extensão da seguridade social, fortalecimento do diálogo social, promoção da igualdade e eliminação da discriminação e apoio ao empreendedorismo e desenvolvimento de competências (OIT, 2015).
O artigo 195 da Constituição Federal estabelece que a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das contribuições sociais do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, do trabalhador e dos demais segurados da previdência social e sobre a receita de concursos de prognósticos (BRASIL, 1988). Fagnani (2016) questiona por que o debate sobre sustentabilidade da Previdência não inclui medidas como redução dos gastos com juros da dívida pública que alcançaram R$ 500 bilhões em 2014, tributação das grandes fortunas e heranças, revisão de incentivos fiscais que representaram R$ 300 bilhões em 2016 equivalente a 25% das receitas federais e combate à sonegação fiscal estimada em 14% do PIB. A lógica contributiva do sistema brasileiro cria um paradoxo estrutural onde quanto maior a informalidade e menor a contribuição média dos trabalhadores, maior a pressão sobre o financiamento da Previdência Social, gerando argumentos para reformas que tendem a restringir direitos ou aumentar exigências para acesso aos benefícios, criando um círculo vicioso de exclusão.
Encruzilhadas do trabalho contemporâneo – entre o futuro distópico e as alternativas possíveis
Futuros negados
Os dados apresentados no início deste texto revelam dimensão assustadora do problema previdenciário brasileiro. Um déficit estimado em mais de dois trilhões de reais não representa apenas cifra abstrata nos balanços governamentais, mas traduz milhões de vidas que, após décadas de trabalho árduo, encontrar-se-ão desprotegidas na velhice, na doença ou na incapacidade. A trabalhadora que vende mercadorias como camelô, o motorista que dirige dezesseis horas diárias para plataformas de transporte, o entregador que atravessa a cidade sob sol escaldante ou chuva torrencial – todos contribuem para a riqueza nacional, para o consumo, para a movimentação econômica, mas permanecem excluídos do pacto social que deveria garantir-lhes segurança.
A questão transcende debates sobre modelos de negócio ou eficiência econômica, situando-se no terreno ético da justiça social e da dignidade humana. Sociedade que naturaliza trabalho precário, que celebra empreendedorismo como solução individual para problemas estruturais, que transfere riscos e custos das empresas para trabalhadores isolados, constrói futuro de insegurança generalizada e aprofundamento de desigualdades. A retórica da flexibilidade e da liberdade, frequentemente mobilizada para justificar esses arranjos, oculta realidade de subordinação algorítmica, jornadas extenuantes, rendimentos instáveis e ausência de proteção social básica.
Renda, contribuição e o ciclo da exclusão
Os rendimentos médios confirmam que trabalhadores contribuintes da Previdência recebem quase o dobro daqueles que não contribuem, evidenciando correlação entre capacidade contributiva e renda. Mas essa correlação não deve ser interpretada como justificativa para exclusão dos mais pobres da proteção social – pelo contrário, demonstra necessidade urgente de repensar modelo que condiciona acesso a direitos fundamentais à capacidade de pagamento individual. O sistema previdenciário brasileiro, ao manter lógica contributiva estrita, perpetua desigualdades históricas e falha em sua função primordial de proteção social universal.
A comparação internacional oferece perspectivas importantes. Países europeus têm avançado em regulamentações que reconhecem direitos de trabalhadores de plataformas sem necessariamente enquadrá-los no modelo tradicional de emprego, criando categorias intermediárias que garantem proteção social adequada. Espanha e Portugal desenvolveram legislações que presumem vínculo empregatício em determinadas circunstâncias, enquanto outros países europeus estabeleceram contribuições obrigatórias das plataformas para fundos de seguridade social. A experiência internacional demonstra que alternativas existem e que escolhas políticas determinam quais caminhos serão trilhados.
A juventude precarizada e o futuro hipotecado
A dimensão geracional do problema merece atenção especial. Jovens que iniciam trajetória laboral através de plataformas digitais ou como microempreendedores individuais, sem contribuição previdenciária adequada, construirão futuro de vulnerabilidade extrema. Décadas de trabalho não se converterão em proteção na velhice, transformando envelhecimento em processo de pauperização inevitável. A impaciência das novas gerações, mencionada por especialistas, relaciona-se menos com características psicológicas individuais e mais com ausência de perspectivas de estabilidade no mercado formal e com estratégias de sobrevivência em contexto de crise econômica persistente e desemprego estrutural.
A sustentabilidade do sistema previdenciário brasileiro encontra-se ameaçada não apenas pelo envelhecimento populacional, mas fundamentalmente pela erosão da base contributiva resultante da precarização generalizada do trabalho. Reformas que se limitam a aumentar idade mínima ou tempo de contribuição, sem enfrentar questão da informalidade e dos novos arranjos laborais, atacam sintomas sem tocar nas causas profundas do desequilíbrio. É necessário reconhecer que modelo de financiamento exclusivamente baseado em contribuições sobre folha salarial formal torna-se progressivamente inviável em economia onde essa modalidade de trabalho representa porcentagem decrescente do total de ocupações.
Escolhas políticas e futuros possíveis
As perspectivas futuras dependem de escolhas políticas que a sociedade brasileira fará nos próximos anos. Um caminho possível envolve a manutenção do status quo, com milhões permanecendo à margem da proteção social, gerando custos sociais imensuráveis em sofrimento humano, instabilidade social e pressão sobre sistemas de assistência social. A alternativa exige repensar fundamentalmente a arquitetura da proteção social brasileira, ampliando a base de financiamento para além das contribuições sobre trabalho formal, estabelecendo obrigações contributivas para plataformas digitais proporcionais ao valor capturado do trabalho, fortalecendo a fiscalização para coibir fraudes na pejotização e criando mecanismos que garantam proteção universal, desvinculada da forma específica de inserção laboral.
O trabalho continua sendo elemento central da existência humana e da organização social, mas suas formas contemporâneas exigem atualização dos marcos regulatórios e das estruturas de proteção social construídos no século XX. A tecnologia não determina inevitavelmente precarização – ela pode ser direcionada para criação de trabalho digno, com proteção adequada e distribuição justa dos ganhos de produtividade. A questão é quem controlará essas tecnologias, quais interesses prevalecerão e que sociedade desejamos construir para as próximas gerações.
Referências
ABÍLIO, L. C.; AMORIM, H.; GROHMANN, R. Uberização e plataformização do trabalho no Brasil: conceitos, processos e formas. Sociologias, Porto Alegre, v. 23, n. 57, p. 26-56, 2021.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.
BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Brasília, DF: Presidência da República, 1943.
BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1991.
BRASIL. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Brasília, DF: Presidência da República, 2006.
FAGNANI, E. Previdência: o debate desonesto – subsídios para a ação social e parlamentar – pontos inaceitáveis da reforma de Bolsonaro. São Paulo: [s.n.], 2019.
FAGNANI, E. O propósito velado da “reforma” da Previdência. Le Monde Diplomatique Brasil, 12 jul. 2019.
FAGNANI, E. Perversa, reforma da Previdência ignora desigualdades sociais. In: JINKINGS, I.; DORIA, K.; CLETO, M. (Orgs.). Por que gritamos golpe? Para entender o impeachment e a crise. São Paulo: Boitempo, 2016. p. 85-92.
FERREIRA, R. C.; ASSIS, M. L. Precarização do trabalho em plataformas digitais: narrativas de desgaste e desalento de motoristas e entregadores. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 48, n. 143, 2024.
GENTIL, D. L. A política fiscal e a falsa crise da seguridade social brasileira: análise financeira do período 1990-2005. 2006. Tese (Doutorado em Economia) – Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.
GROHMANN, R.; SALVAGNI, J. Trabalhadores(as) em plataformas digitais: precarização e sobrevivência. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 40, n. 3, 2024.
LACAZ, F. A. C.; TRAPÉ, C. A. Crise do capital e o desmonte da Previdência Social no Brasil. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 130, p. 467-486, 2017.
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Recomendação 204 sobre a transição da economia informal para a economia formal. Genebra: OIT, 2015.
ROUBAUD, F.; RAZAFINDRAKOTO, M. et al. Conceitos, definições e mensuração do trabalho informal no Brasil. IE-UFRJ Discussion Paper, Rio de Janeiro, n. 031, 2020.
SALIBA, P. A.; SANTOS, J. P. Análise crítica da proposta de reforma da previdência social no Brasil entre os anos 2016 e 2018. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 135, p. 315-333, 2019.
SILVA, J. M.; NASCIMENTO, A. F. A funcionalidade do salário por peça no trabalho mediado por plataformas digitais. Revista Katálysis, Florianópolis, v. 25, n. 2, p. 234-243, 2022.
SOUZA, M. T.; MARTINS, R. A. Tecnologia e precarização da saúde do trabalhador: uma coexistência na era digital. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 144, p. 234-251, 2022.
TEIXEIRA, S. M.; RODRIGUES, V. S.; MATOS, M. B. A previdência social e o trabalhador: entre o acesso ao direito e a contribuição. Revista Katálysis, Florianópolis, v. 18, n. 2, p. 273-281, 2015.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras