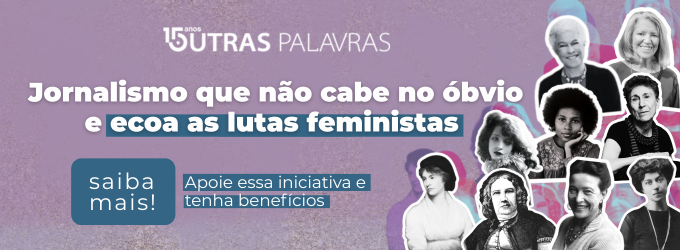Mercosul: o papel quase esquecido dos sindicatos
Como as entidades de trabalhadores ajudaram a definir a arquitetura do bloco, num esforço de mitigar as lógicas neoliberais? Por que acabaram confundindo-se com os governos e perderam força independente de pressão? Que se pode aprender, num novo cenário de ascenso do Sul Global?
Publicado 12/02/2025 às 16:29 - Atualizado 20/02/2025 às 07:43

Título original: O papel dos sindicatos na construção do Mercosul
Em memória de Jose Domingos Cardoso (Ferreirinha) dirigente sindical metalúrgico
e
Raimundo Teixeira Mendes, advogado trabalhista
ambos tiveram importante papel nas negociações de política industrial e direitos trabalhistas do Mercosul.
No meio acadêmico e econômico muito foi escrito sobre o processo de criação do Mercosul e de sua importância para o Brasil. Atualmente o bloco vive problemas sérios e se tornou tema de segunda categoria. O que pouco se falou foi sobre o papel dos sindicatos dos quatro países fundadores nesse processo.
Foi valorizada a ampla “participação social”: movimentos populares e territoriais, meio ambiente, mulheres, direitos raciais, movimentos por moradia, agricultura familiar, mobilidade, ações de inclusão, cidadania, etc. Movimentos que passaram a se manifestar através de grandes assembleias semestrais e genéricas, no período de 2005 a 2020.
Essa “participação “ não surgiu do nada, apenas foi reforçada pelos governos progressistas desse período. Foi continuidade da ação dos sindicatos na década de 90, quando lograram incluir na agenda do Mercosul o tema do TRABALHO.
O Mercosul é um acordo comercial que incide no consumo, na produção e no emprego – para mais ou para menos. O livre comercio se dá entre Estados e principalmente entre empresas, que muitas vezes se inserem em cadeias produtivas globais que diretamente se beneficiam da livre circulação de bens, serviços e mão de obra (processo ainda não concluído). Desses três aspectos, o menos abordado foi o trabalho e o papel dos sindicatos, sua trajetória, acertos e erros. É disso que se trata o artigo.
A primeira etapa: descobrindo a importância da integração
A criação do Mercosul teve como antecedente o Acordo de Integração Econômica Brasil e Argentina, assinado por Sarney e Alfonsin em 1985 e que sobreviveu até 1988. Uma proposta pragmática e multisetorial que pretendia paulatinamente ir além do livre comercio. Inspirava-se no acordo europeu dos anos 60 e propunha um processo que envolvesse a integração produtiva.
Com a eleição de governos neoliberais, nas duas maiores economias (Collor e Menem), as negociações setoriais do acordo Alfonsin/Sarney foram atropeladas e, em 1991, foi assinado o Tratado de Assunção que estabeleceu um cronograma para a conformação de um mercado comum num prazo de 4 anos.
Obviamente isso não seria possível, mas o principal objetivo foi alcançado – avançar na abertura comercial.
Argentina e Brasil viviam então um forte processo de abertura comercial unilateral e de privatizações de ativos econômicos públicos. A ruptura foi mais forte no Brasil, já que a ditadura militar argentina havia iniciado esse processo décadas antes.
Tudo isso teve efeito sobre os segmentos industriais que não aceitavam liberalizar suas tarifas sem uma proteção, sem uma Tarifa Externa Comum. Ponto de convergência com os sindicatos.
O sindicalismo da região havia crescido num modelo de economia mais fechada, protegida pela regulação comercial e pela existência de uma legislação trabalhista e social que estabelecia normas básicas nas relações de trabalho. Em plena redemocratização do Cone Sul, o sindicalismo, que respirava política, se deu conta que mesmo tendo profundas críticas ao tom mercantilista do processo, este abria o caminho para uma importante integração e aderiu, com a condição de que o tema trabalho fosse incluído na agenda de negociação. E assim o foi.
Apesar da diversidade ideológica entre as centrais (e de possíveis disputas corporativas) a cúpula sindical rapidamente colocou-se de acordo em torno de uma agenda bastante pragmática, centrada nos interesses sindicais.
Em dezembro de 1991, pela primeira vez , as centrais sindicais do cone sul entregaram um documento aos Ministros do Trabalho reunidos em Foz de Iguaçu, demandando a criação do 11º Subgrupo de Trabalho, que deveria negociar regras de proteção dos direitos trabalhistas no âmbito do Mercosul. O orador pelos sindicatos foi um jovem sindicalista paraguaio, mostrando o avanço que se havia conseguido na articulação sindical.
A Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul-CCSCS1 participou ativamente na instalação desse SGT (que tinha seis comissões temáticas), sendo a principal a de elaboração uma Carta Social.
A segunda etapa: a construção de uma estratégia sindical regional
Assim, um acordo que deveria tratar apenas de temas comerciais incorporou também a agenda dos trabalhadores.
É importante destacar que a desproporção geográfica e econômica, entre o Brasil e os outros três países, não impediu essa articulação. O sindicalismo brasileiro não assumiu uma postura defensiva pois não se sentia ameaçado e o sindicalismo argentino e uruguaio, viram-se obrigados a trilhar esse caminho para que pudesse garantir seus direitos (mais ou menos como havia sucedido com o Canadá e o México no Nafta).
Em menos de quatro anos, a cúpula sindical do Mercosul assumiu o debate com os governos e os empresários em temas de integração produtiva e regras comerciais intra e extrarregionais. Em 1996 havia acompanhamento sindical em mais de seis subgrupos (trabalhista, indústria, agricultura, transportes, saúde e educação).
A ação sindical precisava ser horizontalizada e chegar aos diferentes setores produtivos, para poder incidir em um processo de integração linear, baseado principalmente na liberalização comercial, que teria efeitos diferenciados sobre os principais segmentos comerciais.
A vantagem comercial era brasileira, mas não estariam eliminadas as dificuldades na cadeia produtiva.
As multinacionais atuavam nos quatro países e construíam suas rotas de comercio e produção, o que significava que obrigatoriamente os sindicatos teriam que conversar e estabelecer agendas comuns. Essa estratégia permitiu atrair e articular os sindicatos por ramos profissionais, que por sua vez dariam sustentação à Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul.
Ainda no contexto da democratização da estrutura de negociação do Mercosul, foi fundamental a participação sindical na criação do Foro Consultivo Econômico Social do Mercosul – FCES (aprovado em Ouro Preto e instalado em 1995). Os segmentos empresariais viam o FCES como espaço de lobby. Não tinham interesse no mesmo, mas tiveram que aceder ao FCES quando os sindicatos tomaram à frente do processo. Sua intenção era conter a ação sindical. Para o sindicalismo o FCES, além de ampliar a transparência das negociações, poderia ser um espaço de diálogo com o patronato quando houvesse interesses comuns. E sem dúvida seria mais um instrumento que contribuiria para a democratização do Mercosul2.
Todo esse processo, rapidamente descrito, se deu no final dos anos 90, sob governos sociais-liberais de FHC e de Menem e de La Rúa. Conviveu com a nefasta política de desvalorização cambial que teve como pior consequência a desindustrialização e o crescimento da miséria na região. Políticas que provocaram crise econômica e financeira no final dos anos 90, primeiro no Brasil e depois na Argentina e no Uruguai, quando foi realizada a desvalorização cambial.
Nesse período o sindicalismo tinha uma pauta de resistência contra agenda neoliberal e ainda tinha força para conseguir alguns avanços: a aprovação da Declaração Sociolaboral em 1998; a criação do Observatório do Mercado de Trabalho em 1998; o acompanhamento das negociações Mercosul e União Europeia, através do FCES e da CESE (Comissão Econômica e Social Europeia).
Terceira etapa: o trabalho se dilui no social
No “Mercosul progressista” (2003 a 2016) esperava-se que a participação sindical crescesse e tivesse maior influência. Em 14 de dezembro de 2000, quando já se prenunciava a mudança política na região, a CCSCS, organizou a segunda Cúpula Sindical do Mercosul, em Florianópolis, que reuniu mais de 700 delegados e delegadas dos quatro países, que se deslocaram em aviões e/ou ônibus fretados e puderam debater, em primeira mão, com a coordenação oficial brasileira, as decisões que os presidentes tomariam no dia seguinte. Uma importante demonstração de forças que consolidava o sindicalismo com um ator político no processo.
Mas o Mercosul tinha seu ritmo, determinado majoritariamente pelo papel e peso das empresas e segmentos produtivos que faziam crescer o comercio intrabloco. Com as políticas dos novos governos, o desemprego caia nos 4 países e a competição entre os países estava “controlada” pela preponderância do comércio intra-empresas. A média empresa via crescer o seu comercio, com uma clara preponderância do Brasil e o agrobusiness brasileiro e argentino tinha seu lugar no comercio mundial.
No plano sindical havia esperança que os organismos criados (o Observatório do Mercado de Trabalho, a Comissão Sociolaboral e outros) passariam a ter maior papel. Mas estes tornaram-se peças de retórica por duas razões: não contavam com recursos públicos e não despertavam grande interesse no sindicalismo. Um exemplo foi a atuação na Comissão Sociolaboral/CSL. Até 2004, havia sido feita uma única denúncia à CSL, contra a Unilever do Brasil que estava assumindo uma prática antissindical. O processo não foi concluído.
Em 2004, os governos do Mercosul tomaram uma decisão histórica, que vinha sendo reivindicada pelas economias menores: o reconhecimento das assimetrias entre os quatro sócios. Isso influiria tanto nas negociações comerciais, como nas decisões sobre os mecanismos de promoção da integração produtiva, como o caso do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (FOCEM) que deveria financiar projetos que contribuíssem para a redução das assimetrias e promovessem a convergência estrutural e a coesão social. As centrais sindicais acompanharam de perto o processo e tentaram intervir nas negociações. Mas não conseguiram ter protagonismo. Porque o FOCEM acabou se transformando num organismo de ação política, para promover alguma compensação de perdas dos países menores. Nunca na verdade conseguiu atuar sobre os graves problemas fronteiriços e nem na formação de cadeias produtivas que envolvessem a pequena e microempresa.
No processo de consolidação de uma União Aduaneira aberta, o papel do Estado passou a ser o de facilitador do livre comercio, eliminando as barreiras e travas, para que as empresas pudessem estabelecer suas rotas comerciais. E quem se beneficiava? As grandes empresas e multinacionais que não necessitavam do Estado para estabelecer seu intercâmbio comercial. Apenas precisavam se livrar dos empecilhos jurídicos. E nesse cenário os sindicatos podiam fazer pouco. Salvo se houvesse estabelecido uma estratégia de pressão sobre as empresas independentes. E isto não ocorreu, como também, praticamente, não houve pressão para que, pelos menos, a CSL e o Observatório do Mercado de Trabalho contassem com uma estrutura administrativa eficiente.
A Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul vinha numa trajetória de vários atos unificados autossustentados como as Cumbres Sindicais, como já mencionamos anteriormente. Mas em 2004, aceitou incluir sua atividade na reta final da campanha vitoriosa da Frente Ampla do Uruguai. Pela primeira vez a Cumbre Sindical se diluiu e passou a ser a Cumbre Social, que acabou incorporando como tema central a campanha do Não à Alca, palavra de ordem que unificava as organizações sindicais e sociais das Américas. Obviamente a suspensão das negociações da Alca era fundamental para o avanço da integração regional, mas para que isso acontecesse, era imperioso avançar e consolidar o Mercosul.
No Brasil o governo Lula iniciava seu segundo mandato e, na Argentina, Cristina Kirchner havia sido eleita em substituição a Nestor Kirchner. Ambos os governos assumiram avanços no processo de integração, por exemplo a criação da Unasul, da Celac. Ambos os governos “institucionalizaram” a participação social no Mercosul. Os segmentos empresariais continuariam incidindo através do velho lobby e reuniões a portas fechadas.
Em 2014 foi criado o Conselho Brasileiro do Mercosul Social e Participativo, instância orientada a manter a interlocução permanente com os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil na construção de políticas públicas. E, na Argentina, foi criado o Conselho Consultivo da Sociedade Civil. Esses organismos estavam vinculados à instancias governamentais. Na Presidência brasileira em 2015, foi criado o Conselho Participativo a nível Mercosul, que funcionaria em Montevidéu e contaria principalmente com financiamento argentino.
O Conselho Participativo deveria promover organização das Cumbres sociais com a presença de entidades variadas: centrais sindicais, redes e plataformas regionais de setores, a agricultura familiar, as pastorais sociais, as cooperativas, os pequenos e médios empresários, a economia solidária, os direitos humanos, as mulheres, a juventude, o movimento negro, o meio ambiente, a saúde, a educação e cultura, entre outros. E o fazia através de circulação de informações e, principalmente, através do financiamento de passagens e estadia das entidades com menos recursos. As Cumbres Sociais passaram a ocorrer semestralmente, na mesma data e local da reunião de Chefes de Estado do Mercosul, que na verdade apenas chancelavam o que havia sido acordado nas negociações temáticas e setoriais, onde sentavam-se basicamente os funcionários públicos. Eram espaços de protesto e de reivindicações varadas, mas fora das negociações reais.
Segundo os informes oficiais (2015), essa nova institucionalidade possibilitou o envolvimento da sociedade e dos setores afetados na implementação de políticas públicas de integração social, em diferentes aspectos, tais como: a contagem do tempo de serviço em qualquer um dos Estados Partes para efeito de aposentadoria (negociação que havia começado cinco anos antes); a garantia de atendimento médico em cidades de fronteira; a harmonização de currículos do ensino superior e a promoção de ações conjuntas para o enfrentamento da violência contra a mulher.
Também destacou a criação de mecanismos de financiamento e crédito para as atividades de interesse social, como o Fundo Mercosul de Garantias para as Micro, Pequenas e Médias Empresas e o Fundo de Agricultura Familiar do Mercosul. Foram aprovados também o Estatuto da Cidadania, a criação de alguns Institutos como o de Direitos Humanos, etc.
Os sindicatos e empresários seguiam participando na Comissão Sociolaboral e, em 2014, efetuaram a revisão de seu texto, depois de uma longa negociação. Participavam também do Observatório do Mercado de Trabalho para a defesa do emprego, que teve como principal produto uma página web aos cuidados do Ministério do Trabalho da Argentina e reunia dados estatísticos e documentos.
Havia vários instrumentos e muitas decisões. Porém a implementação das mesmas dependia do financiamento dos Estados parte no Mercosul. Os organismos não contavam com estrutura própria e no máximo dispunham de um ou dois funcionários em cada país. Não havia orçamento e apoio técnico necessário.
E por que o movimento sindical não reclamou seu espaço na arquitetura do Mercosul? Porque não pressionou pela implementação das medidas?
Com a vitória das forças progressistas, o Mercosul, a Unasul, demais propostas de integração e a derrota da ALCA, o sindicalismo dos quatro países transferiu a seus governos a responsabilidade de conduzir o processo. Foi deixando de participar de outras áreas temáticas do Mercosul, tais como energia, indústria, agricultura. Passou a considerar desnecessário intervir no dia a dia do Mercosul.
É importante que se diga que esse desembarque foi antes do golpe no Brasil (em 2016) que “paralisou” as negociações. Na verdade, resultou muito mais de um atrelamento da ação sindical aos governos devido sua identidade politica com os mesmos.
E o presente?
Com as mudanças nos governos nacionais, o sindicalismo deixou de ser parte da oposição política e passou a atuar como ator coadjuvante, desconhecendo que a gerência do Estado sempre obedece aos interesses da classe dominante e que, a única forma de avançar é mantendo sua autonomia e iniciativa própria.
Cometeu um erro que hoje cobra suas consequências. Logrou contribuir para a democratização da arquitetura do Mercosul, mas ficou limitado à agenda oficial e não construiu estratégias e mecanismos independentes de pressão. Conseguiu aprovar organismos e declarações, mas não pressionou para que esses fossem efetivados. Aceitou que a agenda do trabalho fosse diluída na difusa participação social.
Atualmente a ação sindical no âmbito do Mercosul reflete as fragilidades que o sindicalismo enfrenta em cada um dos países, seja pela crescente desregulação sindical e laboral, seja pelos choques que a democracia sofreu nos últimos nove anos. No Brasil o sindicalismo foi duramente atacado e enfraquecido nos governos Temer/Bolsonaro e isso se repete agora na Argentina no governo Milei.
É possível seguir mas as dificuldades são maiores: o governo argentino atua contra o Mercosul; a forte aproximação do governo paraguaio aos EUA também atua contra os projetos. Chile continua ausente da agenda da integração. A eleição de Trump é um enorme risco para os projetos de integração. Seu principal objetivo é tirar os espaços da China na América Latina e quer impedir a expansão dos Brics. O Brasil está cada vez mais cercado e conta só com o Uruguai.
Por isso, a Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul, que vive um período de dificuldades, tem que retomar sua estratégia de conversa e atuação com as principais categorias profissionais, para aumentar e fortalecer sua representatividade.
– Em primeiro lugar deve fazer um levantamento de que cadeias produtivas existem e, principalmente, as que podem vir a se criar – que papel têm as multinacionais nesse processo e como o FOCEM, o
Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, pode ajudar as pequenas e microempresas, assim como a economia solidaria.
– Analisar as oportunidades que a tentativa de reindustrialização do Brasil pode oferecer em diversas áreas (redefinir o papel do BNDES), incluindo nessa agenda a saúde e a indústria farmacêutica; a questão ambiental e as oportunidades para a integração produtiva; o papel dos Brics e a relação com a China e a suspensão do acordo com a União Europeia nos termos atuais, que impede essa reindustrialização.
Mas creio que a maior lição a tirar da história recente é que faltou uma estratégia de mão dupla: incidir no processo negocial sempre que possível, mas manter uma agenda independente e autônoma.
Notas:
1 A Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul foi criada em 1988. No período da criação do Mercosul participavam : a CUT -Brasil e o PIT-CNT – Uruguay, as duas centrais de esquerda lideravam o processo. Participava também a CGT do Brasil. Em 1991 se incorporaram duas novas centrais sindicais– a Central de Trabajadores de Argentina- CTA (dissidência da CGT-RA) e a Força Sindical. Do Paraguay participava o Movimento Intersindical de Trabajadores-MIT- que em 2005 fundaria a CUT PY. A CUT Chile e a COB Bolívia também faziam parte da CCSCS, mas tiveram papel pequeno no processo de construção do Mercosul
2 Quando o Mercosul foi criado, a chancelaria dos 4 países elaborou um regimento que previa a participação de representantes de entidades e organizações que tivessem relacionadas com os temas, como “observadores” . Na verdade, pensavam apenas nas associações e sindicatos empresariais. As entidades sindicais teriam acesso somente ao SGT 11. Mas, estas recorreram ao referido regimento e começaram a negociar sua assistência a alguns subgrupos. Inclusive acompanharam reuniões empresariais que deveriam acordar como se daria a desregulação das tarifes e o tema da tarifa externa comum. Esse acompanhamento e participação como “observadores” foi fundamental para os sindicatos e a CCSCS compreendessem os riscos que poderia haver na realização de acordos comerciais externos, como por exemplo a ALCA.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras