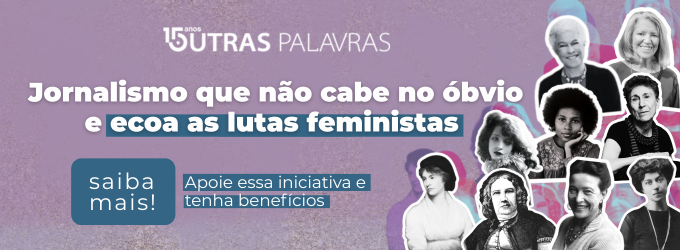Fim da escala 6×1: Uma luta também antirracista
Vítimas da precarização, trabalhadores negros seriam os mais beneficiados com a redução da jornada. Também seria possível combater outra desigualdade racial: a “pobreza de tempo”, que impacta na saúde mental e acesso à educação, alimentando um ciclo vicioso de exclusão
Publicado 27/11/2025 às 18:02

Este texto foi escrito por Taís Dias de Moraes, com o título original Por que lutar contra a escala 6×1 é lutar contra a desigualdade racial?, e faz parte de um dossiê organizado pelo Cesit/Unicamp, Site DMT, Remir, GEPT/UNB e FCE/UFRGS e publicado em parceria com o Outras Palavras. Leia aqui a série completa
Introdução
Desde a abolição da escravidão, a população negra (pretos e pardos) permanece em posições de desvantagem estrutural no mercado de trabalho brasileiro, resultado de um racismo que se mantém como traço central da sociedade e se manifesta na persistente desigualdade de oportunidades e condições (De Moraes, 2025). O Estado brasileiro teve papel decisivo nesse processo, seja por meio da exclusão da população negra das principais proteções sociais na Consolidação das Leis do Trabalho de 1943, seja pela negligência da questão racial durante a consolidação do mercado de trabalho e mesmo após a Constituição de 1988 (De Moraes, 2025).
Embora períodos de crescimento econômico e políticas sociais tenham promovido avanços pontuais, tais conquistas foram frágeis e sujeitas a retrocessos, especialmente após a crise de 2015-2016 e a adoção de agendas que enfraqueceram a proteção social e trabalhista (De Moraes, 2025). A partir da Contrarreforma Trabalhista de 2017, intensificou-se a despadronização das relações de trabalho, ampliando contratos atípicos e a despadronização da jornada, com impactos mais severos sobre os grupos mais vulneráveis (Cardoso, 2022) – especialmente jovens, mulheres e negros. Essa dinâmica resultou em aumento da informalidade, da subocupação e da exaustão (Car-doso, 2022; Junqueira, 2024), fenômenos nos quais a população negra está sobrerrepresentada, perpetuando ciclos de exclusão e adoecimento (De Moraes, 2025). A perspectiva racial é, portanto, fundamental para compreender os impactos da despadronização do tempo de trabalho, pois revela como as desigualdades históricas se atualizam e se aprofundam diante das transformações recentes no mercado de trabalho.
Frente a essa problemática, o presente artigo tem como objetivo analisar como a despadronização do tempo de trabalho afeta a qualidade de vida dos trabalhadores no Brasil, com especial atenção às diferenças entre grupos raciais. A pergunta que orienta este estudo é: de que maneira jornadas de trabalho mais longas impactam de forma diferenciada trabalhadores negros e brancos? Parte-se da hipótese de que a despadronização das normas referentes ao tempo de trabalho, em favor dos interesses dos empregadores, agrava as desigualdades raciais, uma vez que afeta de maneira mais intensa a população negra por ser a maioria dentre os ocupadas em trabalhos ditos precários. Logo, a defesa de uma legislação trabalhista protetiva seria fundamental para a promoção de um mercado de trabalho mais igualitário racialmente.
Despadronização do tempo de trabalho e qualidade de vida dos trabalhadores: as diferenças da experiência da população negra
Jornadas de trabalho mais longas e intensas têm impactos diretos na saúde física e mental dos trabalhadores, devido ao aumento de estresse, ansiedade e depressão, como argumenta o estudo do Observatório do Estado Social Brasileiro (2025): das 20 ocupações com maiores ocorrências de acidentes de trabalho, 12 também aparecem no ranking de profissões com maior carga horária. E, dentre as jornadas de trabalho extensas (com 44 horas ou mais), a escala 6×1 – seis dias de trabalho e um de descanso – merece destaque por estar associada a altos índices de insatisfação e demissão, como resultado dos impactos negativos dessa forma de organização do tempo de trabalho nas condições de vida dos trabalhadores (Teixeira et AI., 2025).
Há, porém, dificuldades de mensuração exata do número de pessoas que trabalham nesse tipo de escala, devido à falta de dados quantitativos oficiais. Portanto, apesar de não serem diretamente equivalentes, se utiliza como potencial grupo empregado nesse tipo de escala aqueles que trabalham 44 horas ou mais por semana (Teixeira et AI., 2025). A partir dessa forma de cálculo, constata-se que essa realidade atinge especialmente jovens, nos setores comércio e serviços (Borsari et AI., 2024), e tem se tornado cada vez mais comum desde a crise de 2015-2016, evoluindo de uma parcela de aproximadamente 39% do total dos ocupados, em 2015, para um pico de 48,6% em 2018 – patamar que se manteve mais ou menos inalterado desde então (apenas com uma pequena queda após 2021) (Ottoni, 2025).
Esse cenário, ainda, é agravado pela crescente intensificação do trabalho, a partir de novas tecnologias e métodos organizacionais, que exigem cada vez mais esforço (físico, mental e psíquico) do trabalhador, dificultando ainda mais o aproveitamento do tempo livre pelo alto nível de cansaço – processo que a legislação não considera, mantendo-se defasada ao permitir uma jornada máxima de 44 horas semanais, mesmo frente às várias transformações que ocorreram desde 1988 (Cardoso e Morgado 2019; DIEESE, 2021). Ainda, a flexibilização, ao privilegiar interesses econômicos dos empregadores, acentua a polarização entre os subocupados e os trabalhadores com sobre-jornada (Cardoso et AI, 2022), ambos com sobrerrepresentação negra (De Moraes, 2025).
No contexto da escala 6×1, o perfil dos trabalhadores evidencia grande vulnerabilização: no terceiro trimestre de 2024, 46,1% dos trabalhadores formais estavam em empregos de 44 horas semanais ou mais, sendo 47, 7% negros (em contraposição a parcela de 44,2% dos brancos), 50% com baixa escolarização e 50,4% ganhando entre 1 e 2 salários-mínimos (Ottoni, 2025).
Os efeitos negativos da flexibilização do tempo de trabalho na qualidade de vidas dos trabalhadores, em conjunto com o perfil vulnerável da população empregada nesse tipo de jornada, reforçam a necessidade de a luta por direitos trabalhistas estar sempre associada à luta contra as formas de discriminação, exclusão e opressão, presentes na sociedade brasileira, tal como as desigualdades de gênero e raça (Borsari et AI., 2024). Além de serem maioria em indicadores de precarização do trabalho, esses grupos vivenciam os fenômenos de intensificação da exploração do trabalho de forma diferentes, pelo acúmulo de desigualdades em várias outras dimensões da vida, tais como acesso diferenciado a transporte público, moradia, saúde, alimentação e outras discriminações que dificultam, por exemplo, sua ascensão social (Da Silva Rodrigues e De Lima, 2025).
Quando analisadas as médias das horas semanais habitualmente trabalhadas, para o 4° trimestre de 2024, de acordo com o recorte de gênero e raça, a princípio, o que chama a atenção é a média maior para mulheres e homens brancos, com mais de 1 hora, e a diferença em relação às mulheres e homens negros (Teixeira et AI., 2025). Vale ressaltar que essa média é “puxada para baixo” no caso das pessoas negras porque são elas que apresentam as maiores proporções nos indicadores de subocupação por insuficiência de horas2.
Nesse sentido, ao analisar isoladamente o número de ocupados em jornadas acima de 44 horas para esses grupos raciais é possível perceber que a maior parte é de homens negros (36,7%), seguido por homens brancos (29,5%), mulheres negras (17,6%) e mulheres brancas (15,1%). Ou seja, negros são maioria nessa categoria, representando 54,3% dos ocupados, contra 44,6% de representação branca. Essa diferença é ainda maior – 11,8 pontos percentuais (p.p.) – quando não consideramos a posição “empregadores”, muito mais expressiva para brancos (60,9%) do que para negros (36,6%). E, considerando apenas os trabalhadores com vínculos formais – aqueles que poderiam ser afetados pelo fim da escala 6×1 e a redução da jornada de trabalho – a diferença é de 13 p.p. (56% para os negros e 43% para os brancos). Em números absolutos, seriam, aproximadamente, 3.8 milhões de pessoas brancas e 5 milhões de pessoas negras que poderiam se beneficiar com essa mudança na jornada de trabalho (Teixeira et AI., 2025).
Em adição, no agregado da economia, a potencialidade de criação de postos de trabalho, que o fim da escala 6×1 representa, aumentaria a massa salarial e proporcionaria maior dinamismo econômico (Borsari et AI., 2024). E, como os indicadores de subutilização da força de trabalho, precarização e desemprego recaem mais intensamente na população negra (De Moraes, 2025), esta representa um contingente potencial expressivo a ser beneficiado por uma possível criação de novos postos3.
Além dos números, aspectos qualitativos da experiência de pessoas negras com jornadas de trabalho extensas são essenciais para compreender o real significado dos efeitos de uma possível diminuição dos dias de trabalho na semana. No que tange a escolaridade, cada vez mais exigida pelo mercado de trabalho, há dificuldades expressivamente maiores dos negros em relação aos brancos. Há uma menor possibilidade de dedicação do jovem negro trabalhador aos estudos, principalmente pela inserção mais precária desses no mercado de trabalho (Santos e Scopinho, 2011). Associam-se, ainda, fatores como maior comprometimento com a sobrevivência familiar e com afazeres domésticos (DIEESE, 1999). O resultado é um ciclo de exclusão que se perpetua entre gerações: os níveis de instrução inferiores, para ambos os sexos, explicariam, em alguma medida, a maior inserção da população negra em ocupações com menor qualificação, configurando um “círculo vicioso que alimenta a exclusão do negro de melhores níveis de instrução e melhores oportunidades de trabalho” (DIEESE, 1999, p. 33).
O status socioeconômico inicial também exerce influência diferenciada sobre grupos raciais. O bônus de ter uma origem mais vantajosa são mais benéficas para o grupo racial branco e o ônus de uma posição inicial mais desvantajosa são maiores para os negros. Os efeitos da busca por uma educação melhor, como consequência, também são menores para o segundo grupo no que tange ao acréscimo de renda esperada. Por isso, a desvantagem socioeconômica quando combinada com o quesito racial, representa um ponto de atenção importante para a elaboração de políticas mais inclusivas no Brasil (Santos, 2023).
Nesse sentido, ser negro (e indígena) aumenta a chance de ser pobre de tempo no Brasil, corroborando a evidência internacional de que minorias étnicas são mais pobres de tempo do que as demais (Filippi et AI., 2023). Aspectos como idade, regionalidade, escolaridade e gênero também interferem nessa tendência: pessoas jovens, mulheres, mães de filhos de menos de 14 anos, pessoas com baixa escolaridade, residentes de área urbana e da região Nordeste, são as características que reúnem maior probabilidade de um indivíduo enfrentar pobreza de tempo (Ribeiro, 2012; Silva, 2015).
Assim, o tipo de ocupação do indivíduo e, consequentemente, a gestão do tempo de seu trabalho, tem grande influência sobre a organização das suas atividades ao longo dos sete dias da semana. Por isso, não apenas as jornadas longas (de 44 horas ou mais), mas também o tipo da escala interfere na autonomia de organização do tempo de lazer, que, devido às desigualdades do mercado de trabalho brasileiro, se restringe apenas àqueles grupos populacionais mais instruídos e mais bem colocados no mercado de trabalho (Neubert, Mont’Alvão e Tavares, 2016).
Outro componente que contribui à maior tendência à pobreza de tempo é a diferenciação significativa do tempo de deslocamento entre a residência e o local de trabalho entre os grupos raciais. De acordo com o Retrato das Desigualdades da PNAD, durante todo o período entre 1996 e 2008, a faixa de tempo de deslocamento de até 30 minutos – que tende a indicar maior bem-estar – apresentou uma porcentagem mais significativa da população branca do que a da população negra. À exemplo de 2008, 69,3% da população branca estava nessa faixa, enquanto a população negra foi de 64,9%. Em contraposição, nas faixas de maior tempo de deslocamento, entre 30 minutos e uma hora e de uma a duas horas, os negros tinham maior participação: 24% e 8%, em contraposição aos brancos que apresentaram uma participação de 21% e 6%, respectivamente (Bonetti e Abreu, 2011).
Essa diferença se dá principalmente pela desigualdade de acesso à cidade entre os grupos raciais4, se evidenciando um ciclo vicioso entre pobreza monetária e pobreza de tempo. Além dessa desigualdade, há dificuldade no acesso à infraestrutura, serviços e bens – sem contar, ainda, a questão da criminalidade e da segurança pública. Finalmente, as grandes distâncias a serem percorridas diariamente também compromete a renda dos moradores de bairros periféricos5 (De Sousa, 2021).
Ainda no que se refere à renda, dentre as pessoas que trabalham mais de 40 horas por semana, 41% recebem até 1,5 do salário mínimo (14 milhões de trabalhadores) (Ottoni, 2025). E, quando nos deparamos com os dados de remuneração por raça dos setores que comumente aderem à escala 6×1, encontramos uma desigualdade expressiva: a remuneração média das pessoas pretas e pardas, tanto para homens quanto para mulheres, é consideravelmente menor em todos os setores (Silva, 2024).
Outro aspecto importante que expõe a diferença da experiência de pessoas negras e brancas com jornadas extensas é a saúde, especialmente em relação aos cuidados de saúde mental, que apresentam disparidades significativas no acesso e nos resultados de intervenções de promoção à saúde. Na prática, isso pode significar uma parcela significativa da população com problemas de saúde mental não tratados ou diagnosticados (Da Silva Barbosa, De Paula Black e Da Silva, 2024).
De acordo com a psicóloga Ana Luísa Araújo Dias, Mestra em Saúde Comunitária pela Universidade Federal da Bahia, seria possível, inclusive – a partir dos casos diagnosticados de burnout, ansiedade e depressão, por exemplo -, fazer um paralelo ao trabalho na escala 6×1 com a escravidão pelo corpo do trabalhador em ambos os casos não ser visto como digno de vitalidade e enxergado apenas a partir da ótica da produção e da exaustão (Junqueira, 2024). Esse tipo de escala de trabalho não teria espaço para uma fase de recuperação, o que recairia de forma ainda mais intensa sobre as pessoas negras pela marca histórica subjetiva do modo de trabalho contínuo e exaustivo para essa parcela da população (Junqueira, 2024), como demonstrado anteriormente. O racismo, ao estruturar a organização do trabalho e limitar o reconhecimento do trabalhador negro, é fonte de sofrimento psíquico e de adoecimento, tornando o ambiente laboral um espaço de reprodução da desigualdade e da desvalorização da identidade étnico-racial (Silva e Rocha, 2018).
Outro efeito muito preocupante da pobreza de tempo refere-se ao isolamento social, dado que a falta de tempo impossibilita as relações de serem vividas, o que fragiliza muito a saúde mental das pessoas. Por fim, ainda há a falta de convivência familiar, que impossibilita o acompanhamento dos pais na vida e no desenvolvimento de seus filhos6 .Ou seja, o dia de folga não serviria para o descanso, para a sociabilização, para a convivência familiar, nem para o lazer, mas apenas para a preparação para o retorno ao trabalho por mais seis dias seguidos (Junqueira, 2024).
Nesse sentido, como defendem Silva e Carneiro (2023), pelo fato do racismo estrutural e das desigualdades sociais criarem condições de produção de sofrimento, a promoção da saúde mental deve estar associada ao enfrentamento das formas de exploração do capitalismo, das práticas neoliberais e do racismo. Por fim, as desigualdades de gênero e raça se entrelaçam de maneira ainda mais evidente na divisão do trabalho doméstico. Entre 1996 e 2008, havia uma maior proporção de mulheres negras cuidando das atividades domésticas do que de mulheres brancas – na média, 2,5 pontos percentuais de diferença – devido à desigualdade de renda entre os dois grupos. Consequentemente, tal diferença pode ser observada na quantidade de horas semanais despendidas neste tipo de afazeres, com uma hora a mais, em média, para o primeiro grupo. Já entre os homens brancos e negros, não se observa a mesma tendência, apenas uma diferença (8,6 horas semanais) para a primeira e última faixa de rendimento (8.6 p.p. e três horas). Na verdade, as mulheres em domicílios com o tipo de arranjo familiar “casal”, com ou sem filhos, trabalham, em média, 4,5 horas a mais do que aquelas que não tem companheiros. Ou seja, a presença de um homem no domicílio gera considerável sobrecarga de tarefas domésticas à mulher (Bonetti e Abreu, 2011). Em relação às mulheres que também mantém uma ocupação remunerada no mercado de trabalho, se percebe uma diferença significativa de horas semanais despendidas em afazeres domésticos entre as três primeiras faixas de jornada de trabalho semanal (até 14 horas, de 15 a 39 horas e de 40 a 44 horas): com médias de 29,5, 24,0 e 17,8 horas semanais, respectivamente, em 2008. Essa média nas últimas duas faixas de jornada de trabalho, porém, praticamente não se altera, mantendo-se em 17, 9 horas semanais, em 2008, tanto para as que trabalham entre 45 e 48 horas, quanto para aquelas que trabalham mais de 49 horas (Bonetti e Abreu, 2011).
Ainda, além da sobrecarga das tarefas domésticas e da dupla ou tripla jornada, é fundamental considerar o papel central das mulheres negras como chefes de família no Brasil, uma vez que famílias monoparentais chefiadas por elas cresceram significativamente entre 1995 e 2015. Esse fenômeno é crucial porque essas famílias estão entre as mais pobres do país7, principalmente devido a inserção precária das chefes de família no mercado de trabalho, contribuindo para um fenômeno de transmissão intergeracional da pobreza (De Moraes, 2020).
Considerações Finais
O presente artigo analisou como a crescente despadronização das normas referentes ao tempo de trabalho afeta cada vez mais a qualidade de vida dos trabalhadores no Brasil, com foco nas desigualdades raciais. Os dados e debates apresentados mostram que a informalidade, a subocupação e a precarização atingem de forma desproporcional trabalhadores negros, especialmente mulheres, perpetuando barreiras históricas à inserção e ascensão profissional.
Esse cenário se agrava diante do avanço de discursos autoritários que ignoram as necessidades dos trabalhadores e aprofundam a divisão da classe trabalhadora, dificultando avanços coletivos e mantendo as hierarquias sociais e raciais (De Moraes, 2025). Diante disso, é fundamental que as lutas sindicais e políticas avancem para além da reversão de retrocessos recentes, mas que também incluam a formalização e a proteção de segmentos historicamente excluídos, com atenção especial para as mulheres negras. Apenas uma agenda que una a defesa da qualidade de vida, a redução da jornada e o combate às desigualdades raciais e de gênero poderá promover um mercado de trabalho mais democrático e inclusivo.
Notas:
2 – De acordo com os dados da PNAD, analisados pelo Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho da Unicamp, a taxa de subocupados por insuficiência de horas no 4° trimestre de 2024 era de 5,8% para os negros e 3,4% para os brancos (aproximadamente, 3,4 milhões e 1.5 milhão de pessoas, respectivamente) – ou seja, 69% dos subocupados por insuficiência de horas eram negros. Já em relação aos trabalhadores informais, os negros representavam 63,2%, no mesmo período – a taxa de informalidade era de 46,9% para os negros e 35,2% para os brancos (aproximadamente, 27.1 e 15. 7 milhões de pessoas, respectivamente).
3 – Em caráter exemplificativo, períodos de crescimento econômico e de melhora das condições de trabalho – especialmente no que tange a formalização -, foi possível observar uma tendência de redução gradual da desigualdade racial no mercado de trabalho, apesar da resistência da disparidade (De Moraes, 2025; IPEA, 2012).
4 – De acordo com o Censo de 2022, a população das Favelas e Comunidades Urbanas era, em sua maioria, negra. As proporções de pardos (56,8%) e pretos (16,1%) era, inclusive, superior à sua participação na população como um todo (45,3% e 10,2%, respectivamente). Em contrapartida, pessoas brancas tinham sua participação na população total bem abaixo do observado na população de regiões periféricas (43,5% e 26,6%, respectivamente).
5 – No Rio de Janeiro, em 2020, por exemplo, esse gasto chegava a comprometer mais de um terço da renda dos residentes de diversos bairros periféricos da cidade (De Sousa, 2021).
6 – Relatos de trabalhadoras confirmam esse cenário. Ver: AGUIAR, E. ‘Merecemos mais dignidade que a escala 6Xl’, diz trabalhadora negra periférica. Agência Mural, 20 nov. 2024. Disponível em: https://agenciamural.org.br/merecemos-mais-digni-dade-que-a-escala-6xl-diz-trabalhadora-negra-periferica/.
7 – Em 2009, a renda domiciliar per capita média de uma família chefiada por um homem branco era de R$ 997, e a de uma mulher negra, R$ 491. Além disso, 69% das famílias chefiadas por mulheres negras viviam com até um salário mínimo, frente a 41 % das famílias chefiadas por homens brancos (De Moraes, 2020).
8 – Jornadas extensas, que somam trabalho remunerado e não remunerado, deixam pouco tempo para o cuidado e acompanhamento dos filhos – que, por sua vez, tem seu desenvolvimento impactado negativamente. Isso dificulta a permanência das crianças na escola e restringe suas oportunidades de mobilidade social. Ou seja, o racismo estrutural e a desigualdade de gênero contribuem para a transmissão intergeracional da pobreza.
Referências
BONETTI, A. L.; ABREU, M. A. A. (Orgs.). Faces da desigualdade de gênero e raça no Brasil. Brasília: IPEA, 2011.
BORSARI, P. SCAPINI, E. KREIN J. D e MANZANO M. Jornada de trabalho na escala 6×1: a insustentabilidade dos argumentos econômicos e uma agenda a favor dos trabalhadores e das trabalhadoras. Campinas: CESIT/Unicamp, nov. 2024. Disponível em: https://pesquisa.ie.unicamp.br/ cesit/ artigos-academicos/jornada-de-trabaIho-na-esca la-6×1-a-insustenta – bilidade-dos-argumentos-economicos-e-uma-agenda-a-favor-dos-trabalha-dores-e-das-trabalhadoras. Acesso em: 23 maio 2025.
CARDOSO, A. C. M.; CALVETE, C. KREIN, J, D E DAL ROSSO, S. Introdução. ln: DAL ROSSO, S; CARDOSO, A.C.M; CALVETE, C; KREIN, J.D. O futuro é a redução da jornada de trabalho.Porto Alegre: CirKula, 2022.
CARDOSO, A. C. M.; MORGADO, L. Trabalho e saúde do trabalhador no contexto atual: ensinamentos da Enquete Europeia sobre Condições de Trabalho. Saúde e Sociedade,v. 28, n. 1, pp. 169-171, 2019.
DA SILVA BARBOSA, E. M.; DE PAULA BLACK, T. L.; DA SILVA, K. V. P. Gênero,
raça e saúde mental da população negra: abordagem sócio-histórica. Revista Multidisciplinar de Estudos Científicos em Saúde, n. 2, pp. 3-10, 2024.
DA SILVA RODRIGUES, E.; DE LIMA, T. L. O trabalho como fator intrínseco para consolidação da dignidade da pessoa humana. Nativa,v. 7, n. 1, pp. 149-165, 2025.
DE MORAES, T. D. As pressões do capitalismo periférico nas relações raciais: o exemplo da Região Metropolitana de São Paulo. [Dissertação de Mestrado]. Campinas: Unicamp, 2025.
DE MORAES, T. D. Transformações político-econômicas e políticas públicas para mulheres na perspectiva da feminização da pobreza no Brasil (1995-2015). [Monografia de Conclusão de Curso]. Campinas: Uni-camp, 2020.
DE SOUSA, A. S. Cidades patriarcais e racistas: as novas velhas formas do capitalismo urbano. ln: Anais do VI Simpósio Internacional Lutas Sociais na América Latina: imperialismo, neofascismo e socialismo no século 21. Londrina: Grupo de Estudos de Geopolítica da América Latina (GEPAL), 2021. Disponível em: https://www.uel.br/grupo-pesquisa/gepal/ anais_vi_simposio/artigos_vi_simposio/GT4_raca_classe/vl_aimee_G4.pdf.
DIEESE. A inserção do jovem negro no mercado de trabalho. São Paulo: DIEESE, 1999.
DIEESE. Argumentos para a discussão da redução da jornada de trabalho no Brasil sem redução do salário. Nota Técnica, n. 66. São Paulo: DIEESE, 2021.
FILIPPI, S.; Et AL. Economic inequality increases the number of hours worked and decreases work-life balance perceptions: longitudinal and experimental evidence. Royal Society Open Science,v. 10, n. 10, pp. 230187, 2023.
IPEA. Olongocombate às desigualdades raciais.Brasília: IPEA, 2012.
JUNQUEIRA, D. Escala 6x 1 afeta mais a população negra e reproduz escravidão, diz psicóloga. Repórter Brasil,20 nov. 2024. Edição: Carlos Juliano Barros. Disponível em: https://reporterbrasil.org.br/2024/ll/escala-6x-1-afeta-mais-negros-reproduz-escravidao/.
NEUBERT, L. F.; MONT’ALVÃO, A.; TAVARES, F. Estratificação social e usos do tempo: um estudo sobre os indivíduos inseridos no mercado de trabalho. Civitas,v. 16, n. 2, pp. ell0, 2016.
OTTONI, B. Quem são, e onde estão, os trabalhadores da escala 6xl? Conjuntura Econômica,v. 79, n. 1, pp. 36-38, 2025.
RIBEIRO, L. L. Uma nova abordagem para a pobreza no Brasil: uma medida de bem-estar através da privação de tempo. [Tese de Doutora-do]. Fortaleza: UFCE, 2012.
SANTOS, E. F.; SCOPINHO, R. A. Fora do jogo? jovens negros no mercado de trabalho. Psicologia em Estudo, v. 16, n. 3, pp. 385-393, 2011.
SANTOS, J. A. F. Interações entre origem de classe e raça na transmissão das desigualdades no Brasil. Tempo Social,v. 35, n. 2, pp. 37-61, 2023.
SILVA, A. C. B.; CARNEIRO, S. Dispositivo de racialidade e saúde mental da população negra: algumas reflexões políticas e psicanalíticas. Psicologia & Sociedade,v. 35, pp. e276440, 2023.
SILVA, A. P. S.; ROCHA, M. L. M. Trabalho, racismo e sofrimento psíquico: uma revisão sistemática. Psicologia: Ciência e Profissão,v. 38, n. 2, pp. 372-387, 2018.
SILVA, C. R. Negros são maioria dos trabalhadores na escala 6xl e têm os menores salários. Alma Preta Jornalismo, 15 nov. 2024. Disponível em: https ://almapreta.com.br/sessao/politica/negros-sao-maioria-na-escala-6x-1-e-tem-os-menores-salarios/.
SILVA, J. C. Ensaios sobre pobreza, desigualdade de renda e crescimento econômico no Brasil. [Dissertação de Mestrado]. Fortaleza: UFCE, 2015.
OBSERVATÓRIO DO ESTADO SOCIAL BRASILEIRO. O que esconde a escala 6×1: roubo de tempo e cotidiano dos trabalhadores precarizados.
Rio de Janeiro: SECRJ, 2025. Disponível em: https://wordpress-direta.s3.sa-east-1. amazonaws.com/sites/860/wp-content/uploads/2025/03/28131840/ Ebook-O-que-esconde-a-escala-6xl-roubo-de-tempo-e-cotidiano-dos-traba-lhadores-preca rizados. pdf.
TEIXEIRA, M.; SALIBA, C.; OLIVEIRA, C. L.; ALSISI, L. B. O Brasil está pronto para trabalhar menos: a PEC da redução da jornada e o fim da es-cala 6xl. Nota de Economia 04/2025, n. 13. Campinas: Transforma/ UNICAMP, 2025.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras