Por que o orgânico não é sinônimo de agroecológico
Prateleiras estão cada vez mais cheias de orgânicos convencionais, que se adaptam às lógicas do agro. Agroecologia tem outras implicações: questionar e transformar as relações humanas e com a natureza. Por isso, cresce — mas continua limitada pelas estruturas de mercado
Publicado 20/10/2025 às 17:27

Nos últimos 40 anos, o modelo de desenvolvimento agrícola dominante vem sendo contestado de forma categórica com duas linhas de argumentação e de evidências: a sua insustentabilidade intrínseca e a comparação com sistemas apropriados para enfrentar as múltiplas crises que se acumulam sobre a humanidade, conhecidos como sistemas agroecológicos.
Não é aqui o espaço para demonstrar a veracidade do parágrafo acima. O que nos interessa aqui é estudar um dos principais desafios para a promoção da agroecologia neste momento em que ainda predomina a lógica do capital, tanto na produção como na organização e nos condicionantes do mercado de produtos agropecuários.
As experiências de promoção da agroecologia, até pouco tempo atrás, se concentravam na categoria dos pequenos produtores familiares. Atualmente, médias e grandes empresas capitalistas entraram neste mercado de forma agressiva e hoje já existe uma proposta de agronegócio verde (orgânico) ganhando adeptos em várias partes do mundo.
Antes de examinar esta nova contradição, precisamos definir o que se entende por produção agroecológica para poder examinar as suas características e as consequências na relação com diferentes tipos de mercado.
O que é agroecologia e quais são as suas diferenças com a produção orgânica?
Todo mundo consegue identificar um sistema agropecuário convencional. Suas características são bem definidas e conhecidas, sobretudo pelas imagens da intensa propaganda televisiva (“agro é tec, agro é pop, agro é tudo…”). Este sistema, conhecido como agronegócio, está marcado pelas monoculturas, uso de sementes de variedades de plantas geneticamente modificadas em laboratórios, adubação química, controle de pragas e invasoras por agrotóxicos, mecanização de todas as operações agrícolas. São sistemas operando em escalas cada dia mais elevadas, chegando a mais de uma centena de milhar de hectares de monocultivos. No entanto, este modelo pode ser operado em escalas menores, nas dimensões da agricultura familiar, mantendo as características e conhecido como “agronegocinho”, muito embora com menos eficiência do que nas escalas mais elevadas para a maioria dos produtos agropecuários.
Quando se busca definir um sistema agroecológico a fórmula perde nitidez. No Brasil de hoje, chama-se de agroecologia uma variedade de sistemas agropecuários e os critérios de definição variam.
Alguns consideram que a agricultura orgânica é um sinônimo de agroecologia. Entretanto, lembremos que a definição de agricultura orgânica, inclusive inscrita em lei, não indica como o sistema deve funcionar, mas que tipo de produto deve ser a resultante. O produto orgânico se define pelo que ele não pode empregar para ser obtido (produtos químicos, engenharia genética). Já os produtos agroecológicos são necessariamente orgânicos, mas o modo de produzi-los pode ser muito diferente.
A agroecologia se define pela aplicação de princípios da ecologia ao manejo de sistemas agropecuários. Isto vai muito mais longe do que proibir o uso de certos insumos industriais. O princípio mais importante a ser observado é a busca da maior diversidade genética possível no sistema. Isto anula a possibilidade de um sistema orgânico empregando uma monocultura ser classificado como agroecológico.
Nos sistemas agroecológicos, busca-se diversificar as plantas cultivadas e integrar as plantas nativas no desenho produtivo. A diversidade se estende a cada espécie de planta cultivada, com o uso de variedades crioulas (chamadas de “landraces” na literatura técnica). As variedades crioulas têm uma diversidade genética muito superior à das sementes melhoradas em laboratórios ou centros de pesquisa, tipicamente manipuladas para obter a maior uniformidade genética.
Estas diferenças podem ser resumidas em uma característica genérica: sistemas agroecológicos tendem a ser altamente complexos e diversificados, enquanto os convencionais tendem a ser super simplificados e os orgânicos podem ser mais ou menos simplificados ou complexos.
Entre os praticantes da promoção da agroecologia, há uma tendência a considerar que os sistemas tradicionais da agricultura familiar podem ser chamados de orgânicos, isto porque não usam insumos químicos, empregam variedades crioulas e cultivam uma maior diversidade de plantas em um mesmo roçado, integrando preferencialmente as criações animais. Tal definição pode ser considerada correta, mas ela esconde outra variável: a sustentabilidade destes sistemas tradicionais no momento presente.
No Brasil e em boa parte do mundo, a agricultura familiar tradicional usa um sistema produtivo conhecido desde os primórdios da agricultura e chamado de “cultivo sobre queimadas”. (A expressão em espanhol é mais clara na sua descrição, “roce, tumba y quema”.) Estes sistemas podem ser considerados agroecológicos e orgânicos, mas não são sustentáveis, a não ser em circunstâncias muito raras no presente.
Enquanto a disponibilidade de terras era muito ampla, o sistema funcionava a contento e se sustentava. A família produtora roçava a vegetação nativa e a queimava, usando as cinzas para adubar o solo. Isto permitia que o plantio se mantivesse constante por algum tempo (variando segundo a natureza dos solos e da vegetação). As áreas de cultivo sempre foram pequenas, alguns hectares apenas, em função do tamanho da família e da disponibilidade de mão de obra. Em alguns anos (de dois a três no semiárido nordestino), a produtividade do solo caía e os cultivos tinham que ser abandonados para um pousio que podia durar até 25 anos (na mesma região citada) para total recuperação da fertilidade natural.
Este mecanismo de recuperação natural dos solos necessitava de uma disponibilidade de terra de 25 vezes a área cultivada (dois a três hectares). Em outras palavras, para cultivar dois a três hectares por ano, um agricultor familiar necessitaria de 50 a 75 hectares somente para poder recuperar os solos. Caso contrário, quanto mais curto o pousio, menor a recuperação dos solos e menor a produtividade e/ou o tempo de cultura contínua.
Este sistema tradicional, mais voltado para o autoabastecimento alimentar da família com alguma produção excedente para o mercado e alguma cultura especializada como algodão e mamona, plantados nas áreas em pousio, foi se tornando inviável ao longo do tempo com a diminuição do tamanho das propriedades pelas divisões sucessórias. Hoje, mais de um milhão de famílias agricultoras nordestinas têm menos de 5 hectares de terra disponível e isto foi levando à degradação dos solos com o encurtamento dos pousios.
Para concluir, se é verdade que os agricultores tradicionais adotam princípios que se aproximam da agroecologia (diversidade e complexidade), seus sistemas produtivos já não os sustentam há muito tempo e são cada vez mais degradados.
As técnicas aplicando os princípios mais avançados da agroecologia são altamente intensivas no uso do espaço e diversificadas ao máximo para poder melhor equilibrar o ambiente e otimizar a produção total. Em comparação com os sistemas convencionais e os tradicionais, os sistemas agroecológicos têm maior eficiência, oferecendo mais produtos e de melhor qualidade, com menores custos de investimento, com exceção da quantidade de mão de obra. Por outro lado, pode-se dizer que eles cobram um alto conhecimento das condições ambientais e dos recursos naturais, habilidade no manejo de um sistema complexo e otimização da gestão do uso da mão de obra. Por esta razão, são sistemas que não podem operar em grande escala. Pode-se dizer que a complexidade dos sistemas agroecológicos aumenta na razão inversa do tamanho manejável da área produtiva. Por outro lado, a produtividade dos sistemas agroecológicos varia na razão direta da diversidade e complexidade dos desenhos produtivos.
Muitos praticantes da agroecologia costumam dizer que os sistemas estão em transição permanente e que não é possível dizer de forma absoluta se um sistema é ou não agroecológico. Penso que isto não se justifica. Se é verdade que o processo de transformação dos sistemas é permanente, isto não quer dizer que não se possa delimitar o que se poderia chamar de “ponto de inflexão”, a partir do qual um sistema em transição passaria a ser agroecológico.
A meu ver, o que distingue um sistema agroecológico é o desenho produtivo complexo e diversificado, integrando cultivos e criações e a vegetação nativa. Isto é muito diferente de sistemas orgânicos onde apenas foi feita uma substituição de insumos químicos e se mantêm desenhos simplificados com monoculturas de umas poucas plantas.
Estas características dificultam a certificação dos sistemas agroecológicos, enquanto os sistemas de produção orgânica são de fácil identificação. As implicações para a integração com os mercados são importantes.
A relação da produção agroecológica com os mercados
Para começar, salvo muito raras exceções, os mercados não reconhecem a produção agroecológica. O que um comprador minimamente informado pode conhecer e comprar é um produto orgânico. O mercado de orgânicos cresce de forma exponencial em todo o mundo, inclusive no Brasil, enquanto na cadeia alimentar não existe legalmente um mercado agroecológico.
Como a definição de produto orgânico absorve a de agroecológico (embora o contrário não seja verdadeiro) esta confusão permite que o mercado aceite comprar/vender a produção agroecológica embora mude a sua denominação e identidade.
Se, por um lado, esta peculiaridade do mercado permite que os produtores agroecológicos vendam a sua produção com preços diferenciados, até 30% mais elevados como prêmio de qualidade, a confusão entre os dois tipos de produto tem implicações perigosas.
Ao não se fazer a distinção entre orgânico e agroecológico, fica aberta a possibilidade de sistemas orgânicos em grande escala entrarem no mercado, disputando a preferência do consumidor desavisado. Isto já está em curso em todo o mundo, com o avanço do capitalismo verde dominando este nicho do mercado de consumidores mais informados sobre os malefícios do sistema agroquímico.
Embora a produção orgânica em larga escala seja menos eficiente do que a agroecológica (necessariamente de menor escala), tanto do ponto de vista agronômico quanto do econômico, ela ganha vantagens na relação com o mercado por duas razões: (1) o custo da comercialização é menor e, (2) os produtos são mais homogêneos (o que responde ao modelo exigido pelo mercado).
Para explicar melhor estas diferenças, é preciso notar que um sistema agroecológico tem uma maior produção total por hectare, mas a natureza deste sistema faz com que ele precise oferecer uma maior variedade de produtos por unidade de área. Isto significa que é preciso levar ao mercado muitos produtos em quantidades menores. Um agricultor agroecológico terá um custo maior de embalagem e de transporte em comparação com um produtor orgânico. Se ele vender diretamente ao consumidor, isto pode ser minimizado, mas se tiver que entregá-lo a um intermediário, a diferença será notável.
O outro obstáculo na comercialização dos produtos agroecológicos está na apresentação diferenciada destes últimos. O mercado convencional estipula o tamanho, forma e cor dos produtos, o que se chama de “estética” da produção. Isto vale também, via de regra, no mercado de produtos orgânicos. O mercado busca comprar produtos orgânicos idênticos (na aparência) aos convencionais, e isto leva esses produtores a utilizarem as variedades convencionais e não as crioulas. Há um preço indireto a pagar nesta pressão do mercado, pois sabe-se que as variedades convencionais não se adaptam bem ao manejo orgânico e muito menos ao agroecológico, resultando em uma produtividade mais baixa e a um grande descarte de plantas que não correspondem ao padrão comercial. Tudo isto eleva os preços da produção orgânica e limita o mercado potencial para um nicho de consumidores de alta renda.
Dependendo do tipo de produto, as restrições podem inviabilizar a produção agroecológica, além de encarecer muito a orgânica.
Os produtos mais facilmente comercializáveis no mercado são os de menor beneficiamento. Hortaliças, legumes e frutas são vendidos em natura e não passam por qualquer transformação, sendo que o único condicionante é o padrão visual dos produtos. Como vimos acima, isto tende a provocar o uso de variedades convencionais com as consequentes perdas em produtividade e descartes de plantas fora do padrão apontadas acima. Isto fica superado em sistemas que comercializam em mercados locais, de vizinhança ou em feiras comunitárias e distritais. A maior parte da comercialização da produção agroecológica destes três alimentos no Brasil é dirigida para estes mercados, onde a padronização dos produtos não predomina na opção dos compradores. Nestes mercados também prevalece uma relação direta entre produtor e consumidor que dispensa a certificação formal. Mas, mesmo neste nível, o custo da comercialização pode ser restritivo, muitas vezes superado por sistemas informais de coleta, transporte e venda coletivos, visando economias de escala e de tempo de trabalho.
Na comercialização de produtos beneficiados, o problema pode ser muito maior.
Quando a produção de feijão agroecológico, por exemplo, supera a demanda da vizinhança, da comunidade ou do distrito, a venda do excedente não poderá se fazer sem passar por um intermediário, possuidor de maquinário para beneficiar o produto. Normalmente, este intermediário cerealista é um comprador de feijão produzido de forma convencional.
Este comprador define que tipo de feijão é bem aceito pelo mercado, função do preço e da qualidade do produto. No centro-sul do Paraná (grande centro produtor de feijão preto), os cerealistas só compram feijão de duas variedades, indicadas pela Embrapa como as mais apropriadas para a região. Uma é propriedade do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) e a outra de uma empresa privada (Agroceres, depois comprada pela Monsanto, hoje Bayer). Os agricultores chamam estas variedades de “cascudões”, um epíteto depreciativo que diz muito sobre a qualidade destes feijões.
Nesta região, a AS-PTA (ONG de promoção do desenvolvimento agroecológico da agricultura familiar) desenvolveu a produção agroecológica de feijões pretos, resgatando, melhorando e multiplicando mais de 140 variedades crioulas, adotadas por milhares de agricultores. Depois de alguns anos em que o uso de sementes crioulas virou uma febre, acompanhada pelas práticas mais simples da agroecologia (substituição dos insumos químicos e variedades convencionais), o mercado das vendas locais se esgotou e chegou-se a um impasse com os cerealistas.
O mercado maior ao qual se dirige a produção de feijão preto da região é a capital do Estado, Curitiba e, sobretudo, o Rio de Janeiro, e os cerealistas não tinham como processar 140 variedades com formatos, tamanhos, cores (tons de preto) e tempos de cozimento diferentes para empacotá-las e vendê-las. O resultado foi a diferenciação de cultivos de feijão nas propriedades. Uma parcela menor, empregando a variedade crioula com melhor performance ou de maior agrado para o produtor ou o mercado local passou a conviver com outra parcela usando as variedades convencionais, dirigida ao mercado dos cerealistas. Muitos produtores utilizaram as técnicas da agroecologia para produzir os “cascudões”, com menores produtividades, mas também com menores custos, pelo menos até que a política de crédito do governo Lula facilitou o uso de insumos químicos e vários dos produtores voltaram às práticas convencionais.
A solução para este tipo de situação exige um investimento em beneficiamento sob controle dos produtores, além de um mercado consumidor capaz de absorver muitas marcas diferentes de feijão preto. Desde logo, a alta variedade de tipos de feijão indicaria a necessidade de infraestruturas de beneficiamento em pequena escala, agrupando produtores utilizando as mesmas variedades crioulas para definir uma marca. Como reagiria o mercado frente a uma oferta de (digamos) 20 marcas?
Esta estimativa tem a ver com a identificação de perto de 15% das variedades identificadas na região que concentram mais de 60% da produção total de feijões crioulos. O resto das variedades seria para consumo próprio das famílias, vendas de vizinhança ou feiras locais.
Vinte marcas de feijão à venda em Curitiba ou no Rio de Janeiro? O volume de feijão preto comercializado a partir do centro-sul do Paraná chega a centenas de milhares de toneladas e, neste volume, somente supermercados têm escala para escoar a produção. Consultas com supermercados do Rio de Janeiro indicaram que poderiam comprar uma ou duas marcas (hoje são 4 marcas convencionais e uma orgânica, da empresa Korim). É claro que os pontos de venda de produtos orgânicos em pequena escala que vêm se multiplicando pelas grandes cidades poderiam ser uma saída, mas não para o volume potencial da produção da região citada.
O feijão é uma planta que não exige um processamento mais complexo do que descascar as vagens e selecionar os grãos por peso e tamanho para ter um produto uniforme para botar nos sacos. Também é comum dar um banho de algum agrotóxico para impedir o ataque de pragas como o caruncho. Quando se lida com plantas como o trigo, por exemplo, as coisas se complicam.
Até os anos sessenta, havia no mercado europeu de sementes alguns tipos bem distintos de trigo, segundo a destinação do seu uso. O trigo para a panificação tem uma composição (teor de amido, proteína, outros) diferente daquele usado para fabricação de massas alimentícias, conhecido como trigo duro, ou do trigo usado para a confecção de crepes, conhecido como trigo sarraceno. Cada um destes tipos podia ser obtido a partir de um grande número de variedades cuja composição genética diferia significativamente e que foram desenvolvidas ao longo de séculos pelos próprios agricultores e, a partir do último século, por centros de pesquisa públicos ou privados.
No último quarto do século passado, a indústria de transformação do trigo passou a condicionar o desenvolvimento varietal para entregar grãos com uma composição especial que facilitasse a industrialização em larga escala. Até então, o beneficiamento era realizado de forma descentralizada e a farinha obtida gerava pães ou massas com maiores ou menores diferenças. A uniformização e composição do trigo para facilitar a grande indústria permitiu a produção de pães e massas mais homogêneos, eliminando as pequenas indústrias. O resultado foram pães e massas de qualidade nutricional inferior, mas que permitiam a colocação de produtos mais baratos e mais uniformes no mercado. Hoje, o número de variedades utilizadas pelos produtores é uma pequena fração daquelas em uso no passado, tornando os cultivos mais vulneráveis.
O movimento agroecológico na Europa buscou recuperar as variedades mais diversificadas e mais bem adaptadas às diferentes condições de solos e de climas, mas esbarrou nas exigências de um mercado controlado por empresas de grande porte. Atualmente, o impasse está sendo enfrentado pela retomada da transformação por meio de pequenas empresas que moem o trigo das variedades tradicionais oriundo da produção agroecológica. É um movimento que esbarra nos preços mais altos destes processos descentralizados com dificuldades em se generalizar.
Poderíamos continuar apresentando este fenômeno agroindustrial para outras plantas, como o arroz, o milho, a batata, o tomate e praticamente todos os alimentos. Prevaleceu a lógica capitalista da homogeneização dos produtos e sua adaptação para a produção e beneficiamento em larga escala.
Em resumo, o mercado é a grande trava para a expansão da agroecologia, sobretudo em produtos mais processados. Embora menos afetados pelas exigências do mercado, os produtos alimentares in natura também são objeto de regras de mercado que os classificam segundo critérios de tamanho e aparência, rejeitando ou reduzindo os preços para os que não estão conformes.
Tudo isso coloca uma trava em todas as experiências de produção agroecológica mais avançadas, sobretudo as que utilizam as sementes tradicionais ou crioulas. A produção orgânica mais convencional, adotada sobretudo pelas empresas do agronegócio verde, tende a ser mais adaptada às regras do mercado, mas isto implica no uso de variedades convencionais que são menos adaptadas ao manejo agroecológico e, em consequência, menos produtivas. O resultado é um custo de produção mais elevado que empurra a produção orgânica para um nicho de mercado dirigido para consumidores mais ricos.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras


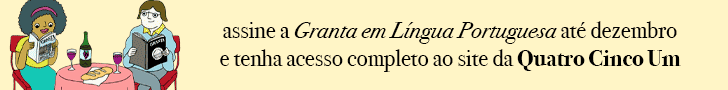
sempre procurei produtos saudáveis para consumir. Sou completamente leiga e me sinto confusa no dia a dia. Preciso muito de alimentos naturais por várias questões da saúde da minha família. Qual o melhor caminho para mim que moro em Guarujá litoral Paulista?
Só de iniciar a leitura já me visualizei diante de uma parede, sempre robusta, porém concretamente distante da realidade. Não estou aqui como opositor, muito pelo contrário. Quando afirmamos ou reafirmamos uma posição quanto a um assunto, o mínimo há que se deseja é propriedade nos termos. Alguém aqui tem as mãos de calo e no mínimo 40 anos de produção sustentável? A agricultura orgânica ou agro ecológica é tudo aquilo que já sabemos. Ponto. Redundância. O mundo não vai ser agro ecológico por convicções de ideologia ou filosofia. Se existe realmente um interesse entre nós, isso deve ser abordado de forma diferente. Não dá para tentar vestir nadadeiras em gatos! Temos que atacar a raiz. Quanto se investe hoje em publicidade em prol da causa? Quanto se investe hoje em treinar produtores já organizados e produzindo de forma correta? Não que isso não mereça atenção, mas para que haja uma revolução na produção agrícola, o primeiro passo é que o sistema convencional seja desbancado e desacreditado. Fato. E para que isso ocorra demanda um processo. Processo esse que passe pelo desenvolvimento de tecnologias que sejam amplamente aceitas pelo segmento produtivo. Fora isso é retórica e palanque! Então concentremos esforços em ciência e pesquisa, ou algum produtor de soja não quer usar bactérias fixadoras de nitrogênio? O único caminho é esse. Provar que produzir em consonância biológica é melhor do que “espectativa ” ser empresário rural e “realidade” ser CLT de multinacionais.
O artigo estabelece uma oposição rígida e idealizada entre produção orgânica e agroecológica que não resiste ao escrutínio prático. Ao demonizar a produção orgânica em escala como mero “agronegócio verde” e elevar a agroecologia a um status quase inatingível, o texto cria falsas dicotomias que dificultam, em vez de facilitar, a transição para sistemas alimentares mais sustentáveis.
A falácia da pureza agroecológica: O autor estabelece critérios tão restritivos para definir um sistema como “verdadeiramente agroecológico” que praticamente inviabiliza sua replicação em escala necessária para alimentar populações urbanas. A exigência de complexidade máxima, diversidade infinita e pequena escala transforma a agroecologia num modelo boutique, acessível apenas a consumidores de alta renda — exatamente o problema que critica na produção orgânica.
A contradição do mercado: O texto reconhece que o mercado não diferencia produtos agroecológicos de orgânicos, mas culpa a produção orgânica por isso, quando deveria questionar por que o próprio movimento agroecológico não conseguiu criar certificações e canais de comercialização eficientes. A complexidade celebrada no campo se torna uma fraqueza fatal na comercialização — e isso não é culpa do “capitalismo verde”, mas de um modelo que ignora a logística da distribuição de alimentos.
O elitismo implícito: Ao rejeitar a padronização e a escala, o artigo inadvertidamente defende um sistema alimentar elitista onde apenas quem pode pagar mais (ou tem tempo para ir a feiras de bairro) tem acesso a alimentos de qualidade. A produção orgânica em escala, mesmo imperfeita, democratiza o acesso a alimentos sem agrotóxicos — algo que a agroecologia de pequena escala jamais conseguirá fazer sozinha.
A falsa nostalgia: Romantizar sistemas tradicionais de cultivo que o próprio artigo admite serem insustentáveis há décadas revela uma inconsistência fundamental. Se os métodos tradicionais falharam e a agroecologia pura é inviável em escala, a produção orgânica convencional pode ser justamente a ponte necessária para uma transição realista.
A verdadeira questão não é orgânico versus agroecológico, mas como construir um sistema alimentar que combine o melhor de ambos: a sustentabilidade ambiental, a justiça social e a capacidade de alimentar bilhões de pessoas. Purismo ideológico não alimenta ninguém.
Como produtor orgânico, com propriedade certificada há mais de 20 anos, e uma boa experiência na produção e no mercado de orgânicos e agroecológicos no Sul de MG, concordo com vários pontos, mas discordo de alguns também. Sim, orgânicos não são necessariamente agroecológicos. Eu mesmo nunca me interessei por produzir agroecológicos por basicamente três razões: 1) limitações climáticas da minha região que não permitem a complexidade do sistema, 2) comercialmente, como o autor colocou, os agroecológicos se confundem com orgânicos no mercado, 3) e discordando totalmente do autor, produção orgânica bem feita e com tecnologia, inclusive o uso de variedades de sementes selecionadas e não crioulas, permite alta produtividade, que realisticamente é o que um produtor precisa para sobreviver e conseguir pagar seus custos e ter algum lucro para se manter como produtor.
O autor está absolutamente correto que a produção agroecológica cria um entrave ao produtor de se colocar no mercado, já que produz pouco de muita variedade. E é isso que é um complicador para produtores adotarem os métodos agroecológicos. De nada adianta o produtor ter um monte de variedades, mas tudo de pouco, sendo que o mercado não é preparado para tal. A venda em feiras diretamente para o consumidor fica sendo a única possibilidade para o produtor agroecológico, e mesmo que soe romântico o produtor que produz e vende ele mesmo, isso não é realista. A verdade do cotidiano dos produtores é de trabalho de sol a sol, principalmente os pequenos produtores, e ainda ter que fazer feira fica sendo mais um complicador. Conheço inúmeros produtores que literalmente estão se matando produzindo, fazendo feiras, fazendo entregas, sem tempo para gerenciar e manejar a produção corretamente, sem tempo para descansar, etc. Eu e minha esposa fizemos isso muitos anos, e cansamos. A realidade é que a pequena produção agrícola, seja ela convencional, orgânica ou agroecológica, está em extinção no Brasil. O pouco que sobrará de produtores orgânicos e agroecológicos, fornecerá para um nicho na sociedade, os consumidores mais ricos que possuem dinheiro suficiente para escolher e pagar o premium.
O governo brasileiro não tem plano de expansão da produção orgânica ou agroecológica, nem da pequena produção agrícola familiar. Não existem subsídios, financiamentos razoáveis frente as taxas de juros absurdas, facilidades em certificação, nada. O pequeno produtor no Brasil hoje está ao deus dará.
A diferença entre agricultura orgânica e agroecológica é o menor dos nossos problemas.
Excelente! É bem isso. Só alguém que vive nesse contexto poderia descrever com tanta clareza. Agora, falando da sustentabilidade do sistema de manejo agroecológico para famílias que precisam viver dos produtos cultivados nessa terra, percebo que a complexidade dificulta que muitas famílias permaneçam nesse sistema por muito tempo (pelo menos, é o que tenho visto ao longo da minha curta caminhada). O trabalho nesse modelo é muito árduo, apesar de satisfatório, e exige demais da família, pois é muito difícil ter que atuar em todas as frentes, da produção a comercialização. Sem contar, que a família tem a sua própria dinâmica para cuidar. Tenho visto mais sucesso, quando são famílias grandes com membros em idades de ajudar no trabalho ou quando as pessoas se associam para trabalhar em conjunto.