As mineiras que enfrentam o machismo com agroecologia
Em Poço Fundo (MG), camponesas eram excluídas na cooperativa de agricultores. Organizaram-se para romper barreiras de gênero e lançar o Café Feminino, uma linha sustentável e orgânica. Agroecologia depende mais de transformações sociais que de tecnologias “verdes”…
Publicado 03/10/2025 às 17:33

Fala-se cada vez mais em transição ecológica como uma mudança profunda em nossas formas de produzir energia, cultivar alimentos, circular mercadorias e viver em sociedade. Como definem Pochmann, Costa e Amorim (2023), a transição ecológica implica enfrentar simultaneamente os limites ecológicos, expressos na crise ambiental, e os limites sociais, expressos na desigualdade estrutural, propondo mudanças profundas nos modos de produzir, consumir e organizar a vida social.
Mas esse termo, que já está virando palavra de ordem em conferências e relatórios, ganha outro peso quando o observamos a partir do território. A transição não é apenas técnica ou econômica: ela é social e política. No Brasil, ela acontece num mundo em que as mudanças ambientais já são sentidas no corpo: secas prolongadas, enchentes mais violentas, ondas de calor que atravessam cidades e campos. Enfim, eventos climáticos cada vez mais difíceis de prever.
Essa é a contradição do nosso tempo: comunidades rurais são convocadas para sustentar a segurança alimentar das cidades, mas são as primeiras a sentir o peso do colapso climático e do mercado globalizado. Falamos em “transição ecológica”, mas ainda não perguntamos quem vai pagar a conta e quem terá o direito de permanecer no território.
Além disso, a crise climática não é democrática: atinge de forma desigual. Segundo o IPCC (2022), comunidades que dependem diretamente dos recursos naturais, como agricultores familiares, pescadores artesanais e povos indígenas, estão entre os que estão em situação de maior vulnerabilidade. Isso faz com que famílias abandonem a terra, mulheres fiquem sobrecarregadas no campo e os territórios passem a perder cada vez mais jovens.
Conforme o sistema se aproxima dos limites ecológicos (perda de biodiversidade, colapso hídrico, aumento da temperatura média), a disputa por recursos como água, terra fértil e energia se acirra. Isso amplia desigualdades: quem tem capital consegue investir em irrigação ou tecnologias adaptativas; quem não tem, fica exposto ao risco de abandono produtivo e êxodo rural. O relatório FAO (2023) mostra que, em crises climáticas recentes, grandes produtores conseguiram absorver perdas com seguro agrícola, enquanto agricultores familiares ficaram desassistidos.
O Brasil rural vive também um decrescimento populacional. Jovens migram para cidades em busca de renda e serviços, deixando atrás de si comunidades mais velhas e vulnerabilizadas. Não há dúvidas de que esse processo enfraquece o campo e sua reprodução social. Mas pode abrir espaço para algo novo: áreas de produção menos intensivas, que experimentam práticas agroecológicas, cooperativas e arranjos locais de economia circular, capazes de criar condições de permanência ou até mesmo retorno destes jovens. Nesses casos, o que poderia ser apenas sinal de vulnerabilidade transforma-se em oportunidade de reorganizar a vida rural em bases mais sustentáveis e solidárias, desde que apoiadas por políticas públicas e redes de cooperação.
Um exemplo inspirador vem de Poço Fundo, em Minas Gerais. Lá, agricultoras familiares conquistaram espaço dentro da Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e região (Coopfam), rompendo barreiras de gênero e criando o movimento “Mulheres Organizadas em Busca de Independência” (Mobi). A trajetória começou com a luta pelo direito ao voto nas assembleias da cooperativa, estendeu-se até a presidência e resultou na criação de uma linha própria de cafés sustentáveis e orgânicos, o Café Feminino.
O caso mostra que a transição socioecológica não depende apenas de tecnologias verdes ou de políticas de mercado, mas de transformações sociais e culturais profundas. Ao desafiar hierarquias de gênero, essas agricultoras também redefiniram o sentido de sustentabilidade: seus cafés não carregam apenas valor econômico, mas também valores ambientais, sociais e culturais. Exemplos como o de Poço Fundo revelam que a justiça climática se constrói de baixo para cima, a partir de experiências concretas em que comunidades organizadas combinam produção sustentável, autonomia política e fortalecimento de identidades coletivas.
Os territórios rurais vivem um paradoxo: são essenciais para a transição socioecológica, mas continuam invisibilizados nas políticas públicas. Justiça climática, nesse contexto, significa não apenas reduzir emissões de carbono, mas garantir condições de permanência no campo. Significa reconhecer que a agroecologia não é apenas técnica, mas também cultura, espiritualidade e identidade.
O enfoque das políticas alimentares e agrícolas na agroecologia, como estratégia principal para alcançar autonomia e resiliência, pode transformar rapidamente as formas como produzimos e consumimos alimentos e, ao mesmo tempo, enfrentar os desafios globais, incluindo as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade, a insegurança alimentar, a pobreza e a deterioração da saúde.
Esses agricultores não são vítimas passivas de um colapso inevitável: são agentes de futuro, guardiões de práticas e saberes capazes de orientar a transição socioecológica de que tanto falamos. O desafio é simples e profundo: se queremos transição ecológica, precisamos garantir que eles permaneçam no território.
Como lembram Pochmann, Costa e Amorim no livro Transição Ecológica e Social no Brasil, pensar a transição apenas em termos tecnológicos significa esvaziar o debate. O essencial é reconhecer que “o modo de produção dominante gera exclusão social ao mesmo tempo em que ultrapassa os limites ecológicos”. Nesse sentido, o futuro da transição não é apenas verde, mas também social: precisa reorganizar as formas de produzir, distribuir e consumir, enfrentando a desigualdade estrutural que marca o país.
O Plano de Transformação Ecológica, chamado Novo Brasil e anunciado em 2023 pelo governo federal, reforça esse reposicionamento. Ele estabelece objetivos ambiciosos: gerar emprego e produtividade por meio da modernização industrial, promover justiça social redistribuindo ganhos e reduzindo impactos climáticos sobre populações vulneráveis, e avançar na sustentabilidade ambiental, reduzindo emissões e promovendo uso responsável dos recursos naturais. Seus eixos incluem finanças sustentáveis, adensamento tecnológico, bioeconomia e sistemas agroalimentares, transição energética, economia circular e nova infraestrutura verde, com instrumentos que vão de incentivos fiscais a linhas de crédito para projetos sustentáveis.
No papel, o Plano propõe integrar desenvolvimento econômico, justiça social e preservação ambiental. Na prática, entretanto, a experiência concreta nos territórios rurais mostra que tais medidas de cima para baixo nem sempre contemplam os sujeitos que sustentam a produção de alimentos e mantêm a biodiversidade: agricultores familiares, comunidades tradicionais e assentamentos agroecológicos. Sem políticas públicas que apoiem esses grupos, existe o risco de se repetir o padrão histórico de modernização desigual, em que os custos da transição recaem sobre quem tem menos recursos, enquanto os benefícios ficam concentrados nos grandes produtores ou em setores urbanos e industriais.
O desafio, portanto, é articular as estratégias do Plano com iniciativas locais de baixo para cima, como cooperativas, agroecologia e economia circular, garantindo que a transição ecológica não seja apenas tecnológica, mas também social, territorial e cultural. Com justiça territorial, redistribuição de recursos e reconhecimento do papel estratégico da agricultura familiar e da agroecologia.
Referências
FAO. (2023). The State of Food and Agriculture 2023: Climate Change, Agriculture and Food Security. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
IPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Intergovernmental Panel on Climate Change.
Pochmann, M., Costa, F. A., & Amorim, R. (2023). Transição Ecológica e Social no Brasil. São Paulo: Boitempo Editorial.
Globo Rural. (2023, 24 de setembro). Café feminino: conheça a história de agricultoras que se uniram para ganhar voz em cooperativa e hoje têm até marca de grãos especiais.
Governo Federal do Brasil. (2023). Plano de Transformação Ecológica. Brasília: Ministério do Meio Ambiente / Governo Federal.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.

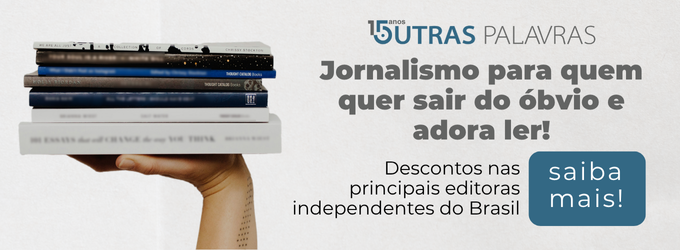
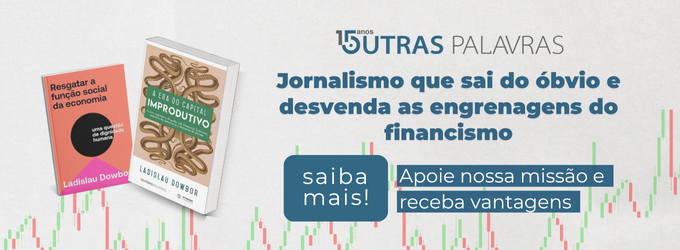
Presenciei in loco e com orgulho positivo a história da COOPFAM na minha cidade natal, Poço Fundo-MG. Lendo a matéria acima, me ocorreu a ideia de expressar aqui o que minha história de vida me ensinou. Cinco grandes muros altos impedem o Planeta e seus moradores de viver democraticamente em harmonia: Religião, militarismo, mídia corporativa, negação da ciência e capitalismo. Ponto!