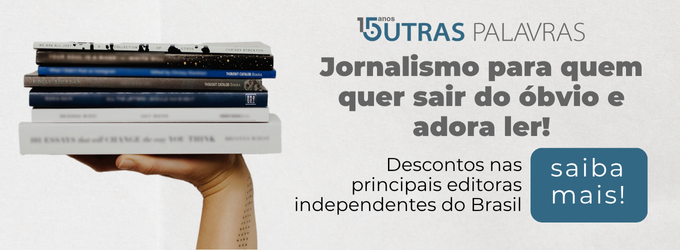Antropoceno: Breve manual para a educação climática
Atual crise convida a escola e educadores a pensar novos futuros. Articular saberes científicos e tradicionais. Recompor os modos de vida em comum. Rediscutir a ambivalência entre os campos social e ambiental. E espalhar a pedagogia do habitar
Publicado 27/10/2025 às 17:49 - Atualizado 23/12/2025 às 17:10

Recolocar em discussão os propósitos da educação na era do Antropoceno é uma tarefa urgente e complexa. Há um consenso global de que estamos vivenciando um tempo em que as ações humanas são capazes de alterar profundamente as condições de vida no planeta o que exige, tal como defenderemos neste pequeno texto, uma revisão crítica dos fundamentos que orientam nossas formas de aprender, ensinar e conviver. A educação escolar, enquanto projeto civilizatório, limitou-se a transmitir saberes estáticos ou ao desenvolvimento de competências técnicas. A tarefa de nossa geração é reconstruir os debates sobre a formação humana no contexto das múltiplas crises que marcam nossas vidas neste início de século.
No Brasil, essa reflexão adquire uma relevância adicional diante da nossa preparação para a 30a Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas (COP30), a ser realizada em Belém no próximo mês. Trata-se, em nossa perspectiva, de uma significativa oportunidade para redesenhar o papel da educação na construção de outros futuros: uma educação que articule saberes científicos e tradicionais, promova a justiça socioambiental e fortaleça a responsabilidade coletiva diante dos desafios planetários. Desenvolveremos alguns desses apontamentos em cada um dos tópicos que seguem.
I. Reintegração dos saberes
Para preparar o terreno para novas provocações teóricas sobre a questão educacional, um ponto de partida poderia estar situado no âmbito do saber: ou de uma reconexão entre natureza e cultura. Com Bruno Latour aprendemos que se faz necessária a nossa entrada na luta pelas ideias, uma vez que “é preciso sensibilizar toda uma população para uma mudança de cosmologia que implica um prodigioso aumento dos motivos de preocupação a serem levados em conta” (p. 78). Essa mudança de cosmologia, mencionada por Latour, oferece novos territórios de pensamento a serem ocupados, sobretudo no âmbito das Humanidades.
Uma reintegração dos saberes é demandada no que se refere às questões educacionais, envolvendo um conjunto amplo de ponderações: a) a necessidade de uma pedagogia do habitar; b) a recomposição de modos de vida em comum; c) a articulação entre aspectos artísticos, culturais, científicos ou estéticos. Realizando um exercício de síntese, talvez estejamos diante da oportunidade de reconhecer que ciência, política, espiritualidade e territórios promovem modos distintos de habitar um tempo-espaço de vida comum. O conceito de confluência, desenvolvido por Nego Bispo, é exemplar dessa possibilidade formativa.
II. Justiça socioambiental
Aprendi recentemente com o economista Lucas Chancel que a redução das desigualdades e a proteção da natureza mantém relações ambivalentes. Isto é, a oposição – ainda evidente no âmbito da proposição de políticas – entre o social e o ambiental merece ser rediscutida. Enfrentar, em nosso tempo, esse duplo desafio é uma demanda urgente, em especial buscando por novas ferramentas para examinar as desigualdades socioambientais em territórios variados e com níveis de proteção social distintos. Em articulação à problematização trazida pelo economista, consideramos que o campo educacional também pode reinscrever um conjunto de problematizações na interface entre o social e o ambiental.
Definir uma escola justa, hoje, implica em melhor caracterizar os aspectos sociais e ambientais. Mesmo que Chancel esteja se referindo ao enfrentamento das desigualdades, vale a pena recuperar um dos seus argumentos: “trata-se de harmonizar com coerência as políticas sociais clássicas (sobretudo a redução das desigualdades) e os objetivos de proteção do meio ambiente” (p. 20). Qualidade, permanência e aprendizagem – ícones da escola justa ainda sonhada para todas as crianças e jovens de nosso país – precisam ser redescritos no âmbito da justiça socioambiental.
III. Responsabilidades compartilhadas
O terceiro apontamento que gostaríamos de realizar refere-se à importância de posicionarmos as responsabilidades compartilhadas no interior de novas teorias educacionais, a serem elaboradas em nossa época. O mestre Thich Nhat Hanh, em sua “Carta de Amor à Terra”, abre a sua narrativa com a seguinte formulação: “neste exato momento, a Terra está sobre você, abaixo de você, ao seu redor e até mesmo em seu interior”. Sendo a Terra uma manifestação “viva e generosa”, temos uma responsabilidade compartilhada com todas as formas de vida que nela habitam. Cuidado, proteção, cura, regeneração ou alegria são construídos em nossa experiência existencial, o que nos leva a pensar sobre uma inevitabilidade da criação de novas formas de educar. Eis uma inspiração!
´Enfim, seguimos em busca de uma revitalização das teorias educacionais em nossa época. Abordagens que sejam plurais em sua composição e que favoreçam uma reintegração dos saberes, a justiça socioambiental e as responsabilidades compartilhadas pelo planeta. O campo da Educação está aberto a este debate e deseja manter-se ativo nessa conversa. Nossa aposta encontra-se em pedagogias do habitar (ou pedagogias territoriais) que promovam aprendizagens situadas, ligadas à ecossistemas locais e práticas comunitárias.
Referências:
CHANCEL, Lucas. Desigualdades insostenibles. Madrid: Catarata, 2022.
HANH, Thich Nhat. Carta de amor à Terra. Petrópolis: Vozes, 2025.
LATOUR, Bruno. Memorando sobre a nova classe ecológica. Petrópolis: Vozes, 2023.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.