Ensaio: IA e influencers lavarão a nossa louça?
São tempos em que a tecnologia mais aprisiona que emancipa. Baudrillard apontava o risco do “mapa que substitui o território”. Quando a performance exclui a experiência autêntica, o resultado é crise, nostalgia e fetichismo capitalista…
Publicado 14/07/2025 às 17:49
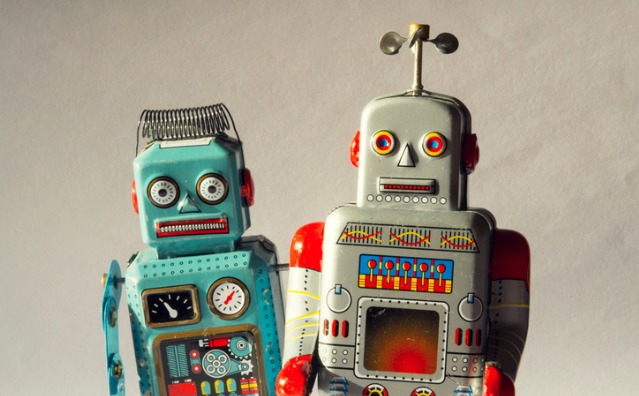
O avanço de tecnologias baseadas em “inteligência artificial” tem aumentado consideravelmente nos últimos anos e gerado uma série de debates éticos sobre o uso de propriedade intelectual, sobre o que é arte, sobre o que é de fato uma produção autêntica ou exclusivamente o produto de um algoritmo que, de forma bem reducionista, é apenas um reprodutor e detector de padrões. Somado a isso temos a presença e atuação das big techs interferindo de forma óbvia e sem restrição regulamentar nenhuma em nossa realidade, favorecendo unicamente o interesse de alguns em detrimento dos coletivos. Mas acredito que um dos pontos mais centrais desse furacão de capitalismo tardio é a nossa total desconexão da realidade. Não foi necessário que as máquinas nos dominassem e nos colocassem numa realidade simulada, como no filme Matrix, para que a sociedade contemporânea perdesse a total referência do real.
“Você já teve um sonho, Neo, do qual tinha tanta certeza que era real? E se você não conseguisse acordar desse sonho? Como distinguiria o mundo dos sonhos do mundo real?”, diz Morpheu a Neo ainda confuso sobre o que é a Matrix, quando os dois se encontram em um quarto escuro, antigo, com cortinas pesadas e móveis gastos. A mesma pergunta pode ser replicada a nós, entretanto, fora do contexto dos sonhos – você já se envolveu de forma tão íntima com teu feed de tela infinita que depois de horas ali conseguiria distinguir o que é real ou não de tudo que viu?
Apesar de uma das referências mais óbvias do filme Matrix ser o mito da caverna de Platão, nos apeguemos a outra referência extremamente presente no filme, citada inclusive de forma direta quando nosso protagonista Neo em uma das primeiras cenas pega um livro de fundo falso intitulado Simulacro e Simulação de Jean Baudrillard que discute a relação entre realidade, símbolos e sociedade. O ensaio afirma de forma categórica que a sociedade atual substituiu a realidade por simulacros e descreve o processo gradual de como a realidade se torna algo sem qualquer referencial.
O coração da argumentação de Baudrillard são as três ordens do Simulacro:
De primeira Ordem – Natural, Utópico, Imitativo: tem um alto valor simbólico pois possui um referencial real, ou seja, está ligado diretamente ao original.
De segunda Ordem – Produtivo, Mecânico, Industrial: reprodução mecanizada em massa, cujo valor simbólico, ou seja, o original já não importa tanto o que importa é sua reprodução em série.
De terceira Ordem – Cibernético, Virtual, Puro Signo: a realidade já não existe mais.
O exemplo usado por Baudrillard em suas argumentações é o mapa de Borges: um mapa tão detalhado que cobre exatamente o território que representa. Com o tempo, o território se deteriora, e só o mapa (o simulacro) resta. Assim, vivemos num mundo de mapas sem território. Voltemos à problemática inicial: o quanto nosso dia a dia tem, cada vez mais se assemelhando com o mapa de Borges? Submetidos a tecnologias que, em tese, deveriam nos servir mas agora são a nossa maior fonte de escravidão. O mesmo ocorre em Matrix, as máquinas que deveriam nos servir se tornam nossos escravizadores. E o princípio de tal servidão, de certa forma, é o mesmo – nos colocou num mundo de simulacro de terceira ordem.
Abrimos os celulares e nos plugamos de forma tão inconsciente que já não é mais possível dizer que existe, de fato, uma separação entre um suposto mundo virtual e o nosso real. De forma que nossa realidade se tornou tão esvaziada que quando nos vemos obrigados a desconectar nos deparamos com o desespero daquilo que Baudrillard vai chamar de deserto do real – que simboliza de forma direta um despojamento violento da realidade em detrimento do simulacro, ou seja, vivemos num mundo tão saturado de símbolos, imagens e signos que o real se perdeu. Não importa mais de forma alguma o eu e sim a performance que posso realizar diante dos outros, somos instigados todos os dias a atuar num personagem que precisa constantemente demonstrar uma série de caracteres para sermos aceitos – um simulacro de emoções.
Isso tem aberto de forma significativa alguns caminhos: aqueles que se apagam com nostalgia doentia a um mundo pré-simulacro, ainda que seu saudosismo seja um retrato tão falso quanto a realidade. Outros, tapeados pelos símbolos se dizem despertos e se apegam a fatos extremamente desconexos em relação a qualquer possível visão de essência ou simulacro para se dizer diferente dos outros. E, por último, aqueles que, por inanição, ignorância ou conformismo, aceitam ou não percebem que a nossa realidade já não existe mais.
Perceba as relações com as redes sociais, influenciadores de todo tipo moldam de forma muito evidente os comportamentos, de forma que passamos em massa a reproduzir bordões e padrões de ação quase diretamente após uma trend viral. Quantos pais e mães, com condições ou não, passaram a comemorar o “mêsversário” de seus filhos, após esse fenômeno ser amplamente feito pelos ditos influencers? Tecnologias que deveriam nos permitir nos conectar e partilhar sobre nós se tornaram, através dos algoritmos das redes, as nossas maiores correntes, tudo em nome do lucro de poucos. No começo das redes poderíamos nos perguntar: o algoritmo nos influencia ou nós influenciamos ele? Hoje essa resposta está mais do que clara. Empresas gastam milhões para moldar nossas opiniões e costumes, e isso existe para todos os gostos, gêneros, religiões e posicionamentos políticos. Se todos bebemos da mesma fonte, ainda que o meu pareça diametralmente oposto ao do outro, não somos nós escravos do mesmo senhor?
Como dito anteriormente, a nostalgia é uma das ferramentas que nos prende ao simulacro, porque, quando o real já não é mais aquilo que foi, é a nostalgia que toma o centro do palco. Mitos de origem e sinais de realidade passam a ser sobrevalorizados — como relíquias de um tempo em que o real ainda parecia possível. Busca-se, então, uma verdade de segunda ordem: objetiva, autêntica, mas apenas no discurso, pois a substância original já se perdeu. É a escalada do vivido como espetáculo, da verdade como performance, da imagem como substituto da presença. O figurativo ressurge com força justamente onde o objeto real desapareceu. O que temos agora é uma produção desenfreada de realidade e referência — mais intensa e invasiva do que a própria produção material. É nesse ponto que se instala a simulação: como uma estratégia de hiper-realidade que imita o real com tanta perfeição que o anula, dobrando-se sobre ele como um véu que não esconde, mas dissuade.
E muitos, embriagados de nostalgia, se perdem no suposto encontro da verdade através de uma caricatura grotesca do hiper-real e por supostamente fugirem de um senso comum sentem que tomaram a pílula vermelha. Se dizem despertos, mas assim como Cypher em Matrix, desejam ansiosamente voltar a simulação, porque, mesmo que seu simulacro seja um amontoado de pequenas realidades unido por uma teia de mentiras, ele pode performar como outsider, como aquele que conhece, aquele que supostamente viu o deserto do real e sobreviveu para contar a história; entretanto, não se pode produzir significado que não seja da realidade. Tudo isso para, no mundo, instigar uma relação de consumo vazia. Chegamos a um estágio do capitalismo que, diferente do seu início, não se preocupa mais em desenvolver as forças produtivas, gerar inovação ou produzir competição. Estamos no ponto dos grandes monopólios que se apropriam das grandes ideias do passado para usar o que deveria ser um meio de libertação da raça humana, a tecnologia, no nosso maior cabresto. Consumimos hoje por um fetiche performático, ou como cunhado por Marx o fetiche de mercadoria ou fetiche capitalista, que nada mais é que a mágica encenada pelo mercado: transforma objetos comuns em promessas de identidade, desejo e transcendência — ocultando as estruturas que os produzem.
A abordagem, além de Baudrillard, que mais me salta aos olhos diante dessa performance consumista são os escritos de Slavoj Žižek, mais especificamente suas obras O Mais Sublime dos Histéricos: Hegel e Lacan de 1989 e Bem-Vindos ao Deserto do Real de 2002. Para Zizek o fetiche é “Aquilo que você finge não saber, para continuar desejando”, ou seja, te permite ignorar a realidade desconfortável por trás do objeto, desde que possa manter o prazer do consumo. Um mecanismo puramente ideológico: você sabe que o objeto é falso, vazio, mas continua agindo como se ele fosse tudo aquilo que promete. Temos plena consciência que a vida dos influenciadores é uma mentira, que tudo ali existe única e exclusivamente para performar sucesso para te convencer a comprar algo, mas ainda sim é tão bom saber o que Maria Flor vai aprontar hoje nos stories da Virgínia.
Diante dos avanços dessa suposta disrupção tecnológica que vivemos, embora de fato nada com poder transformador aconteça desde o surgimento dos smartphones, até o direito de possuir nos foi negado. Tudo vem no formato “as a service” nada mais é seu para se ter, mas tudo ali está colocado para ser desejado. Não se compra mais filmes, assinamos um serviço que te permite ver o filme. O mesmo se aplica a livros de mídia digital: você adquire apenas o direito de ler aquela obra, mas, vai além disso: nossa existência foi embalada, monetizada e entregue por assinatura. Não temos mais casas, temos co-livings. Não escolhemos móveis, alugamos a decoração do mês. Até cachorro, em alguns lugares, vem por assinatura — amor com prazo de validade. Cozinhar virou capricho: marmitas fitness, dark kitchens, chefs por app. Precisou de impressionar alguém? Comida gourmet em 30 minutos, com amor embalado à vácuo. A própria identidade virou um serviço: alugamos roupas de luxo, contratamos curadores de feed, terceirizamos estilo. Trabalhamos em coworkings, somos freelancers à la carte, vendemos nosso tempo e saúde mental por hora em plataformas. E quando o coração aperta? Relacionamentos também se tornaram on demand. Swipe, conversa, date. Amor algorítmico. Em alguns lugares, até abraço é pago — cuddle as a service. Porque carinho sim, mas sem drama. Até a saúde mental entrou no jogo. Meditação por app, terapia em caixinhas, emoções tratadas com notificações: “Lembre-se de respirar”. Vivemos uma existência fragmentada em pacotes mensais. A vida deixou de ser vivida e passou a ser curada. Ser virou parecer. Parecer virou monetizar. E nos apropriando novamente da obra de Baudrillard, podemos observar que não se trata mais de dissimular, mas, sim, simular. Porque dissimular é fingir não ter o que se tem. Simular é fingir ter o que não se tem. Um influencer dissimula tristeza; o outro simula felicidade, para o algoritmo não importa o que é real, só o que engaja.
Entretanto, a cereja do bolo é apenas colocada nos anos após 2020, com as IAs generativas sendo abertas ao público. Ferramentas extremamente poderosas que deveriam nos permitir realizar tarefas mecanizadas de forma brutalmente eficiente passam a ser usadas para emular ainda mais aquilo que não se é. Um copiloto para nossas atividades diárias substitui o pensamento crítico por um prompt. E a partir daqui começa o fetiche visual, quando esses modelos baseados em textos nos permite roubar – isso mesmo roubar, a propriedade intelectual de artistas para que possamos ver como seriamos se fossemos desenhados naquele estilo, ou seja, permitimos que uma empresa lucre bilhões com o trabalho de artistas, simplesmente para performar identidade na internet.
O real se torna cada vez mais deserto e a nossa existência cada vez mais vazia; a tecnologia que deveria nos libertar das tarefas mecânicas, repetitivas, braçais para nos permitir ter mais tempo de viver, tem sido a principal fonte de precarização e escravidão. Deixo aqui uma provocação de Joana Maciejewska: “Eu quero que a Inteligência Artificial lave a minha roupa e minha louça, para que eu possa escrever e criar minha arte e não contrário, não desejo que a lA crie arte e escreva, enquanto eu lavo a louça e coloco a roupa pra lavar.”
Celebremos então, convocados por Georg Wilhelm e Friedrich Hegel, o fim da história.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.



Um comentario para "Ensaio: IA e influencers lavarão a nossa louça?"